“Disseram que éramos mulheres trans, transexuais, transgénero. Impunham novamente a sua academia vinda do Norte, enquanto aqui tratávamos de sobreviver (…) de nos alimentarmos nem que fosse de terra. Exibiram teorias a nosso respeito para tornar mais higiénica a nossa existência (…) por isso não digo mulheres trans, não falo em termos cirúrgicos como um bisturi, porque esses códigos não dão fé do que aconteceu às travestis nestas regiões, desde os índios até esta porcaria de civilização. Recupero as pedradas e as cuspidelas, recupero o escárnio (…) As Malditas são travestis e não querem, nem nos seus piores momentos, ser chamadas de outra forma”. É com esta nota assertiva e desafiadora que Camila Sosa Villada abre o livro As Malditas, um romance-fábula acabado de editar pela BCF.
Alguém disse que era preciso ter cuidado com as pessoas destruídas, pois elas sabiam que poderiam sobreviver, mas em As Malditas percebemos que algumas não conseguem e outras só sobrevivem porque se transformam noutra coisa. Camila Sosa Villada, hoje atriz e escritora, viveu como prostituta travesti durante vários anos até se estrear com uma peça de teatro (“Carnes Tolendes”). E este, que é o seu primeiro romance, ainda que supostamente seja parcialmente autobiográfico, é suficientemente ágil para brincar como as fronteiras dos géneros literários tal como ela durante anos brincou com a as regras dos géneros sexuais, sendo um rapaz que estudava Comunicação e Teatro na universidade de Cordoba, na Argentina, e à noite planava sobre saltos altíssimos no parque Sarmiento, onde pontifica uma estátua de Dante e se materializa a vida de um grupo de mulheres tocadas pela maldição de terem nascido num corpo que a sociedade não reconhece, por ser simultaneamente masculino e feminino.
É pois nessas zonas onde nada é preto ou branco, mas onde o hibridismo e a metamorfose é lei, que nasce este livro, intenso, comovente, desafiante mas, sobretudo, plural, pois nestas mulheres malditas podemos reconhecer todos os excluídos do mundo, ou, como diz a autora na entrevista que lhe fizemos, os que estão fora da graça [divina]. E são muitos. Sendo um tema que está na moda, este poderia ser apenas mais um romance escrito por alguém que olha de fora e usa a experiência e a dor alheia para vender livros. Não é o caso. Aqui tudo está em carne viva e a dor não se drena, nem pelo queixume, nem por frases bem elaboradas. Também foge do facilitismo panfletário e prefere territórios mais tortuosos onde a fábula e o realismo mágico se misturam com a auto-biografia, a reportagem, a poesia. É uma livro escrito a partir do interior das noites sem fim, no meio de todas as violências — desde logo a familiar, depois a do mundo em geral e até a das travestis uma sobre a outras. Só há um lugar seguro que é a casa da Tia Encarna, de 178 anos, que uma noite recolheu no fundo do parque uma bebé abandonada. A partir daqui, “o que a vida não dá, o inferno empresta”; todos ali são monstros, nem que seja porque o mundo os ensinou a verem-se assim. Mas, por isso mesmo, são incapturáveis, aprenderam que “é mais fácil escapar por túneis do que saltar muros” e Camila Sosa Villada é ela própria incapturável ao rejeitar o papel de heroína trágica, ao preferir a ironia ao engajamento, a explorar sem medo as fronteiras entre real e ficção nas entrevistas que dá.
As Malditas é o retrato cru e terno das mulheres que ganham a vida no parque Sarmiento até ao dia em que se metamorfoseiam ou morrem. E é também uma denúncia da violência que sofrem os travestis na América Latina, onde as taxas de assassinatos chegam aos três dígitos por ano. O Observador falou com Camila Sosa Villada que, em novembro, estará na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), no Brasil.
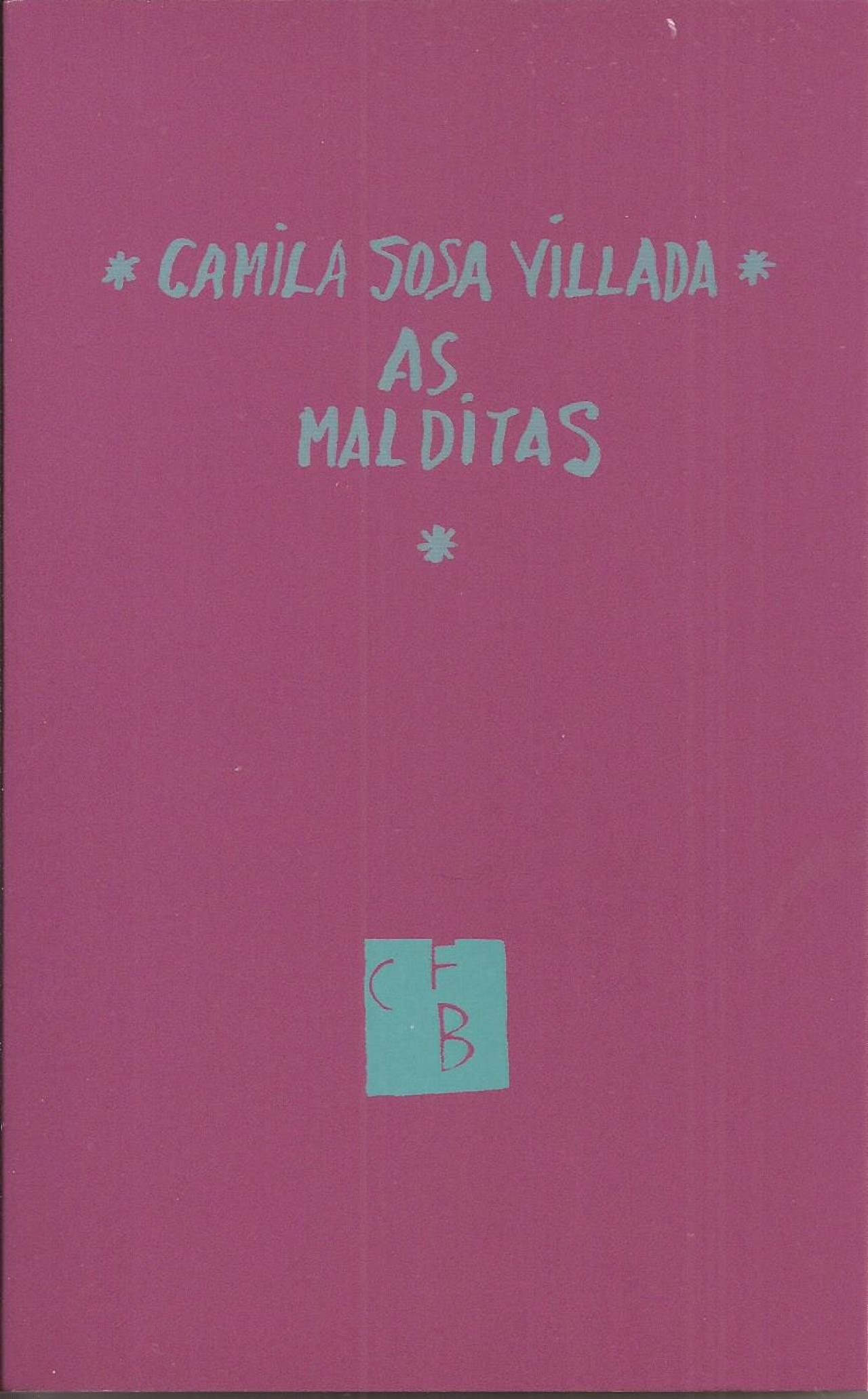
▲ A capa de "As Malditas", de Camila Sosa Villada, na edição portuguesa da BCF (tradução de Helena Pitta)
O livro As Malditas começa com uma declaração de princípios: a recusa dos termos “trans”, “transsexual” ou “transgénero” e a defesa da palavra “travesti”, como aquela que coroa todas as mulheres latinas, ou não, que vivem num corpo com o qual não se identificam. Porque é que sentiu necessidade de fazer esse manifesto?
Bem, a primeira coisa a dizer é que nada é rejeitado. Falo apenas da imposição de um termo sobre o outro. É uma questão de linguagem. Depois foi uma encomenda da Other Press, a editora norte-americana. Para eles, era preciso esclarecer porque é que a novela falava de travestis e não de mulheres trans, que seria o termo politicamente correto lá na Yankeeland. Achei linda a ideia dos travestis arqueológicos, daquilo que fica no subsolo da linguagem até que alguém comece a procurar a verdade.
Recusa-se a ser vista como ativista, recusa leituras politizadas dos seus livros. Disse mesmo numa entrevista: “Não se pode apagar o fulgor de uma vida sob o nome de uma identidade”. Que opinião tem sobre as políticas identitárias que estão ao rubro nos países no hemisfério norte?
Não sei se estão ao rubro. Pode ser que estejam prestes a desaparecer ou, pelo contrário, que se materializem em políticas de proteção. Em qualquer caso, a segurança de todas as pessoas deve ser protegida. Na América Latina tem sido muito difícil implementar estas políticas, especialmente em algumas regiões ainda é. O problema pode ser que mesmo com essas políticas nunca aconteça a verdadeira justiça, que sejam apenas pequenos consolos para uma população de travestis velhas que conheciam o horror dos outros, cruéis com eles. Algo muito triste que tem de ser reparado. Não sei como é na Europa ou em Portugal, mas as batalhas da minha geração foram outras. As novas gerações vão encontrar o tipo de arma de que precisam, o cuidado de que precisam para resistir. Elas não são as mesmas necessários para travestis de 60 ou 70 anos. Que são muito poucos, por outro lado.
Como escritora, jornalista, atriz, alguém cuja matéria prima é a palavra, acredita que possa existir uma “linguagem neutra”?
Bem, eu não sou jornalista. Mal estudei Comunicação Social e trabalhei em alguns media, mas como colunista. Não sei se há neutralidade na linguagem. Penso antes que há um tipo de linguagem que passa pela linguagem dos seres vivos, mas também das pedras e da água e do vento, a linguagem usada para se expressar. Acho que existe uma linguagem que foi feita à maneira do anel de Sauron, algo que se fez para nos obrigar à servidão. A linguagem muitas vezes funciona como uma máscara, que não diz nada, nem sequer o silêncio.
As Malditas é uma descida ao inferno de uma jovem travesti e prostituta e do seu grupo de amigas, numa cidade argentina. Nem todas voltam vivas, nem todas voltam inteiras dessa viagem. A Camila voltou para contar a história, como Ulisses de Homero. Mas em que estado voltou? Como se regressa do inferno?
O inferno está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não há um único canto habitado por pessoas em todo este planeta que não conheça um pequeno inferno. Eu não sou especial. Não tenho nada a dizer que alguém não tenha dito antes: não há remédio. Existem pessoas muito ruins. Mas falar dos infernos alheios nos isenta de medir a temperatura do nosso.
Neste romance, que não quer ser político, as protagonistas são as travestis prostitutas do parque Sarmiento. Mas este livro é sobre todos os excluídos, todos os que não têm poder, os pobres, os loucos, os que não conseguem viver como burgueses, brancos e com dinheiro. O seu livro fala a tanta gente…
É apenas porque estamos todos orbitando fora da graça divina. Não o sei dizer de outra forma. Penso na graça como prazer, gosto pelas coisas, tempo livre, ar puro, água limpa. Algo que não tem lugar na terra. Às vezes, as pessoas descansam porque veem outros comer o horror. Devora-se essa radiação e salvam-se outros de conhecer o horror de que uma pessoa é capaz. Mas é um conforto que se esvai quando vemos as jangadas a afundar no mar com dezenas de refugiados, que se afogam. Como quando vemos a Amazónia queimar.
Neste livro faz algo muito original: coloca as mulheres travestis no centro do debate. Espera que As Malditas faça alguma justiça a estas vidas tão difíceis?
Não. Um livro não pode fazer justiça. A justiça seria uma compensação económica, substancial, que lhes permitisse descansar.
Escreveu uma obra que funde um forte e cru realismo com a fábula, ao fazer algumas mulheres transformarem-se em animais, como Ovídio faz n’As Metamorfoses. Contudo, nós, leitores, não sentimos que elas se salvem, sentimos apenas que elas já não conseguiam ter força para sobreviver como mulheres neste mundo. Porque razão deu este destino a algumas personagens? Para as salvar ou para mostrar que neste mundo não há qualquer esperança?
São casos diferentes. A da Maria, a muda, por exemplo, é uma forma de falar da barba, dos pelos que temos no nosso corpo e não os queremos. Mesmo se eu fizer uma análise, não sei de onde veio esta ideia. Mas é um pouco como fazer uma analogia entre a lenda argentina da maldição de nascer lobisomem e a maldição de nascer travesti.
Alguém dizia que “ter um poder é ter um dever”. Ao se ter tornado uma voz pública, ouvida no mundo, muito para lá do parque Sarmiento, sente que com isso vive uma responsabilidade face aos que não são ouvidos no espaço público?
Não sinto que seja uma responsabilidade, mesmo que eles me tentem impingir isso. Entendo que há coisas que devem ser ditas e outras coisas que não devem. Mas não é só para os outros, é para mim. Não gostaria de me ouvir dizendo algo em que não acredito.
Ao ler entrevistas suas é fácil perceber que nunca se tenta mostrar como bem-comportada. Diz coisas que ninguém diz, porque o mundo perdeu o sentido de ironia. Diz, por exemplo, que gosta de mentir. E quando fala nunca sabemos se está a falar a sério ou a brincar. É quase um gesto de superioridade sobre o mundo dos bem-comportados. Não teme que a sua verdade e a sua espontaneidade lhe traga inimigos e detratores?
Ai não tenho qualquer medo! Isso é o sal da vida! Nem todos podem gostar. É como o picante.
Este livro é uma experiência de leitura tremenda. Faz-nos chorar com estas mulheres, todos abandonados à sua sorte até aquela criança. Quando iniciou a escrita já tinha a história na cabeça ou ela foi surgindo a pouco e pouco?
Tinha algumas coisas na mão. Imagens. As travestis correndo, o bebé abandonado, os homens decapitados, a cena dos tacões e das pulseiras soando dentro do hospital. Essas imagens escreveram o livro.
A Camila não escreve para “os brancos, burgueses do hemisfério Norte”, escreve para os excluídos, os que não sabem se vão sobreviver a cada noite. As questões da identidade sexual estão na moda. Mas o seu livro tem uma escuridão e um desespero que só pode vir da carne que um dia se viu acossada pela violência predatória. Esta moda pode ser boa para dar visibilidade a estas pessoas ou é só um aproveitamento da sua miséria? Qual é a sua opinião?
Pois bem, depois de ter escrito As Malditas e depois de ter dado muitas entrevistas, sentindo em todos os lugares um certo fervor com o assunto, comecei a perguntar-me se não era preferível ficar calada. Deixei-me ficar em silêncio. Porque acredito que o capitalismo come tudo, que tudo é usado. É o sistema que melhor recicla a merda e a faz brotar como flores de merda, mas ainda assim flores. Fora da ficção, da loucura, é difícil fazer algo que não seja devorado pela voracidade do capitalismo e devolvido como aliado.
Disse numa entrevista que o amor romântico é hetero-normativo. Prefere falar em “alianças e alegre exploração”. Quer explicar melhor a sua posição sobre o amor, a família…
Acredito no amor romântico. Acredito absolutamente nele, no que se move, no que se sente no corpo quando se está apaixonado por outro. Acredito na força de um sentimento como esse. Mas eu não sei mais o que é esse sentimento. É difícil para mim falar sobre isso. Falo de febres, de desejo. Eu falo de curiosidade. E em relação à família, bem, é um lugar muito perigoso para crianças e mulheres. Vê-se os números na América Latina e os crimes cometidos dentro das famílias contra crianças e mulheres e é assustador. Sobrevivemos porque tivemos sorte, mas não reconhecer esse problema é evitar que o mundo se torne um pouco menos hostil.
Quando deixou a prostituição e começou a viver da escrita, qual foi o seu maior prazer? E hoje que está a fazer uma carreira como escritora e atriz, como olha para essa Camila desses anos?
Tão inteligente. Tão saudável e enérgica. E tonta, muito jovem e tonta por amor. Muito carente. Pobre, mas com vontade de ler, de conhecer música, uma bunda linda e muito cabelo.
Durante anos teve uma vida dupla como homem, estudante universitário e como mulher prostituta à noite. Entre os ténis e os saltos altos fala da necessidade de ser o mais invisível possível para não ser atacada, humilhada, morta. Hoje dá entrevistas, tem uma exposição internacional. Conseguiu superar o medo?
Bem, agora que penso nisso, acho que nunca vivi como um homem. Às vezes fantasiava-me do que me tinha saído como destino, que era ser homem. Mas não. Isso não era viver como um homem. Os medos que senti naquela época são intraduzíveis. E agora eles parecem muito estranhos para mim.
Acredita que algum dia as mulheres travestis, ou trans, poderão ser aceites com normalidade e viver em paz?
Não, acho que a humanidade vai morrer primeiro.
Já mostrou que tem vários talentos, é atriz, cantora, escreve poesia, romances, teatro. Em qual deles sente que quer investir mais? Está a escrever outras coisas? Que projetos tem?
Sou uma garota sem projetos. Tenho compromissos, o que é diferente. Para já, um livro sobre traficantes, vendedores ambulantes e o corpo de um escritor. Um filme baseado em um romance meu, “Tese Sobre Domesticação”, no qual serei protagonista e também roteirista. Isso por enquanto.


















