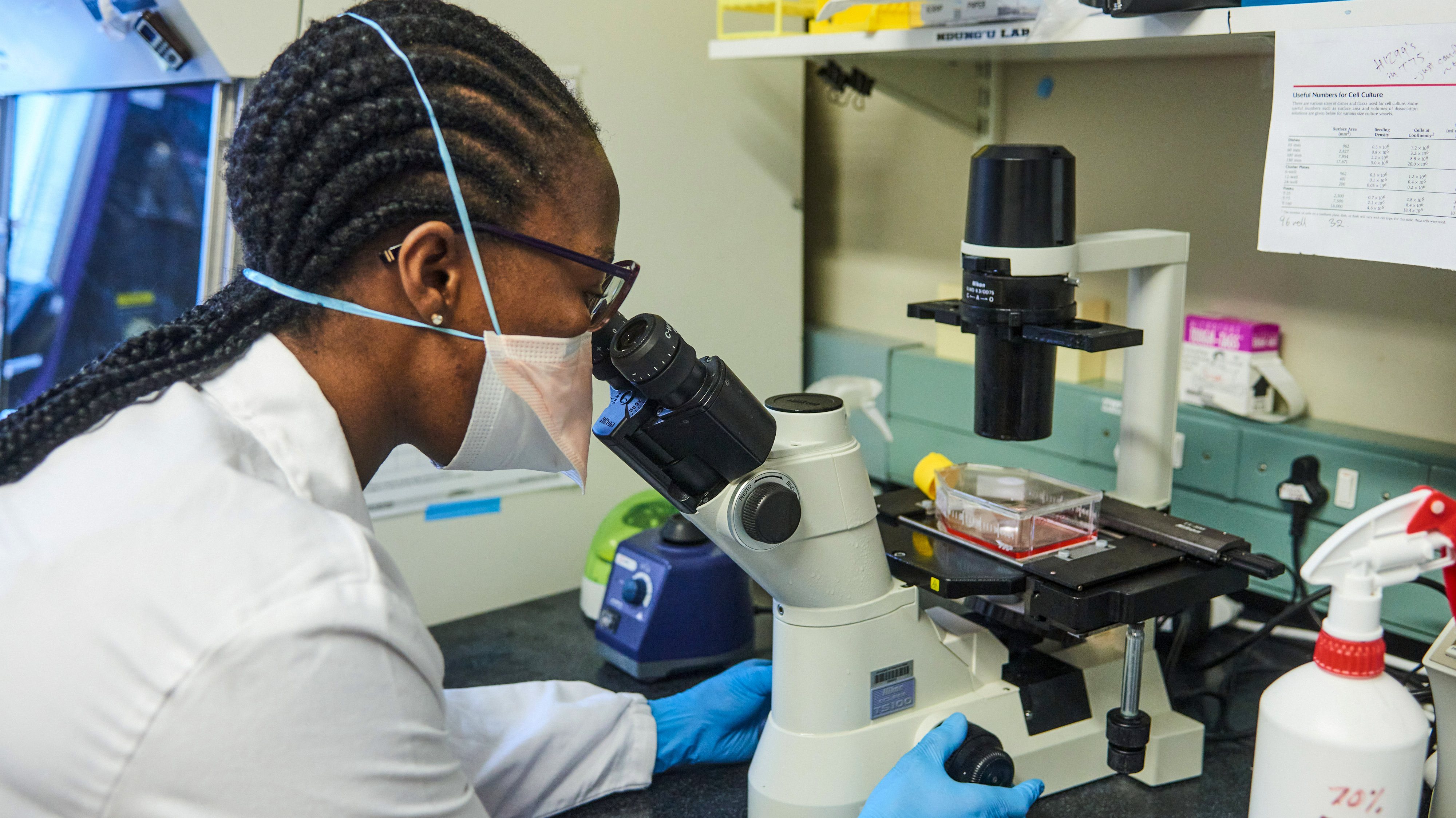Para estar no hospital onde tinha o filho internado em fevereiro, Maria Ferreira (nome fictício), 44 anos, precisou de realizar um teste PCR. A análise acusou a presença do vírus, mas ela nunca desenvolveu sintomas de Covid-19, nem infetou as pessoas com quem convive diariamente. As suspeitas de que tinha sido diagnosticada com base num falso positivo aumentaram quando um teste serológico feito quatro meses depois comprovou que não tem anticorpos detetáveis em circulação.
João Santos (nome fictício) passou por uma situação semelhante. Tinha 62 anos quando realizou um teste PCR antes de se submeter a um exame médico. Estávamos em janeiro. O teste resultou positivo, mas tal como Maria, João também permaneceu sempre assintomático. Desde então realizou dois testes serológicos no local de trabalho (um em abril, outro em final de maio), que indicaram que João não tinha anticorpos para o SARS-CoV-2 no sangue.
Ambos acreditam ter sido diagnosticados com uma infeção por SARS-CoV-2 com base em falsos positivos. Mas o problema adensou-se quando chegou o momento de serem vacinados: por terem sido registados como recuperados da Covid-19, Maria e João só podem receber uma dose da vacina contra a doença; e apenas passados seis meses desde a infeção. Mas se for verdade que nenhum deles esteve realmente infetado, e por isso não desenvolveram qualquer resposta imunitária ao vírus, então nenhum deles estará realmente protegido do SARS-CoV-2 com apenas uma dose.
É por isso que ambos pretendem receber o esquema vacinal completo — uma dose única da vacina da Johnson&Johnson ou duas doses da Moderna, Pfizer ou AstraZeneca —, porque consideram que, mesmo não se tratando de falsos positivos, o facto de não terem anticorpos em circulação tão pouco tempo depois da suposta infeção significa que podem não ter desenvolvido uma resposta imunitária ao vírus.
Mas encontraram um entrave: segundo uma norma da Direção-Geral de Saúde (DGS), “os testes serológicos para o SARS-CoV-2 não devem ser utilizados para qualquer decisão sobre a vacinação contra a Covid-19” —, logo o argumento das pessoas abordadas pelo Observador (nenhuma das quais com imunossupressões) para serem completamente vacinados cai por terra aos olhos das autoridades de saúde.
Ao Observador, a DGS justificou que os títulos de anticorpos diminuem com o tempo — um evento que é esperado numa resposta imunitária normal. Como “os estudos serológicos (que medem os anticorpos) não permitem aferir totalmente a proteção contra a infeção”, atualmente os seus resultados não estão recomendados como argumento para suportar decisões sobre vacinação.
Médicos de família e autoridades devem investigar. DGS desvaloriza falhas da solução
Qual é então a solução? Quem suspeita de ter sido diagnosticado com uma infeção por SARS-CoV-2 com base num teste de diagnóstico com resultado falso positivo deve contactar o médico de família ou diretamente a autoridade de saúde da área de jurisdição da residência da pessoa para desencadear uma investigação ao caso junto do laboratório que efetuou a análise. Apresentar um teste serológico negativo, mesmo que poucos meses depois da suposta infeção, não basta para o caso confirmado ser imediatamente corrigido nas bases de dados das autoridades de saúde. Mas pode ser um sinal de alerta.
A Direção-Geral de Saúde (DGS) explicou ao Observador que “qualquer suspeita de falso positivo é investigada pela autoridade de saúde, que pode articular com o médico de família e a entidade laboratorial que notificou o resultado do teste para esclarecimentos relativamente ao resultado obtido (ou resultados de testes subsequentes)”. Abordada sobre como é conduzida essa investigação e que argumentos em concreto devem ser apresentados para a desencadear, a DGS remeteu as respostas para as unidades de saúde pública, porque “as questões são de um nível micro”.
O Observador questionou então vários agrupamentos de centros de saúde (ACES) de todas as Administração Regional de Saúde (ARS) do país, mas só recebeu duas respostas. Miguel Azevedo, presidente do Conselho Clínico e de Saúde da ACES Grande Porto VI (Porto Oriental), indicou que as perguntas colocadas “devem ser dirigidas à DGS”. E a ARS Lisboa e Vale do Tejo, tendo recebido as questões colocadas a várias ACES daquela região, recomendou que as questões fossem colocadas “ao INSA e à DGS”: “Trata-se de um assunto de âmbito nacional e quem define este tipo de atuação são essas duas instituições”.
Laura Brum, diretora médica da SYNLAB Portugal, confirma que as amostras positivas costumam ser conservadas a -80ºC naquele laboratório e podem ser recuperadas para verificar os resultados. Essa confirmação é feita apurando a quantidade vírica presente na amostra, revisitando os procedimentos de testagem e calculando a percentagem de positivos verificados em cada 100 amostras.
Neste momento, em cada 100 amostras, o normal é que quatro a cinco resultem positivo, por isso qualquer valor acima deste pode sinalizar uma contaminação entre amostras. O mesmo acontece se várias amostras seguidas — ou seja, guardadas umas ao lado das outras — acusarem a presença do vírus. As amostras depois são submetidas a novos testes PCR, mas em máquinas de outras marcas, para verificar novamente o resultado.
Germano de Sousa, presidente do Centro de Medicina Laboratorial Germano de Sousa, confirma que tem guardado a -20ºC todas as amostras positivas analisadas naquele laboratório — mas que as mais antigas, se não forem encaminhadas para instituições de investigação científica (como o Instituto Gulbenkian de Ciência) ou para o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (para sequenciação e confirmação de reinfeções, por exemplo), acabam por ser eliminadas.
Embora não esteja certo de quanto tempo tem a colheita mais antiga ainda armazenada neste laboratório, o médico confirma que mantém todas as amostras recolhidas há pelo menos três a quatro meses. Essas colheitas podem ser descongeladas e analisadas com novos testes PCR para confirmar o resultado do exame original. Mas em cerca de 1,5 milhões de testes que o laboratório Germano de Sousa já efetuou, o clínico não tem recordação de qualquer pedido dessa natureza.
A notificação de um caso de infeção por SARS-CoV-2 que tenha resultado de um teste falso positivo pode então ser corrigido, ficando os indivíduos novamente elegíveis para vacinação completa. As pessoas com situações de falsos positivos, não tendo realmente tido Covid-19, devem ser vacinadas com o esquema completo — duas doses para as vacinas de duas doses; e uma dose para vacinas de toma única.
Nos casos em que as amostras já foram eliminadas e não podem ser reavaliadas, podem solicitar-se testes laboratoriais — mais sensíveis e específicos que os testes serológicos de farmácia — para deteção de imunoglobulina G (IgG), um anticorpo que permanece em circulação mesmo após a infeção, ou de célula com memória imunológica ao SARS-CoV-2 — algo que, em situações normais de infeção em indivíduos sem problemas imunitários, se mantém mesmo quando os anticorpos desaparecem. Quando esse anticorpo não é detetado em laboratório, tenha a pessoa estado efetivamente infetada ou não, o utente deve ser vacinado com o esquema vacinal completo.
Em situações como esta — que são extremamente raras graças à elevada sensibilidade e especificidade dos testes — os laboratórios podem proceder à alteração ou pedido de anulação da notificação laboratorial. Depois disso, a pessoa fica livre de agendar a vacinação contra a Covid-19. No entanto, até que a investigação termine, continua a ser considerada como um caso positivo pelas autoridades de saúde. A confirmar-se que o resultado foi falso, o caso passa a ser classificado como “Não Caso” no sistema de informação.
Teste serológico negativo não comprova falso positivo
Nos casos de João e Maria, como foram registados como infetados perante as autoridades de saúde, nenhum deles conseguiu até agora ser vacinado contra a Covid-19. A norma atualmente em vigor diz que quem já testou positivo à presença do SARS-CoV-2 só deverá apanhar uma vacina contra a Covid-19 — independentemente do esquema vacinal ter um única dose ou duas — e apenas seis meses após ter testado positivo. João terá de esperar até este mês, Maria até agosto.
A única exceção prevista no esquema vacinal dos recuperados da infeção diz respeito aos imunossuprimidos, que devem completar o esquema vacinal. Mesmo as pessoas que foram dadas como infetadas depois de terem tomado a primeira dose da vacina são inoculadas com a segunda dose, ainda que seis meses depois de terem sido diagnosticadas com uma infeção pelo SARS-CoV-2.
Segundo Luís Graça, professor de imunologia na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, é assim porque, para que a segunda dose funcione realmente como um reforço da primeira, é necessário um intervalo mínimo entre a vacinação e a exposição ao vírus — caso contrário, o sistema imunitário pode confundir os dois momentos como um único estímulo. Mas se essa exposição ao vírus nunca tiver acontecido, a pessoa deve ser vacinada com o esquema completo sob pena de não ficar totalmente protegido.
Quando alguém fica infetado a seguir à primeira dose, “é como se a infeção fosse uma continuação do estímulo da vacinação”, prossegue o docente, que também é investigador do Instituto de Medicina Molecular e membro da Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19. É por isso que, nestes casos, não se dispensa a segunda dose e ela é administrada à mesma, embora ao fim de seis meses.
Não há um consenso sobre quanto tempo deve separar a infeção por SARS-CoV-2 da administração da vacina (há, aliás, países, que vacinam os indivíduos de acordo com o calendário delineado pelas autoridades de saúde assim que os doentes deixam de ter sintomas), mas os estudos científicos mais fiáveis apontam que, pelo menos durante seis meses, a generalidade da população recuperada mantém uma proteção.
Passado esse tempo, ela pode diminuir, sobretudo em quem teve respostas imunitárias menos robustas. Mas administrar a vacina antes dos seis meses pode ser redundante, como já havia explicado Luís Graça ao Observador: “Se o intervalo entre a infeção e a administração da vacina for demasiado curto, o sistema imunitário pode responder como se se tratasse de uma única infeção”. E assim não sai fortalecido.
Noutros países, como os Estados Unidos ou a Austrália, as autoridades de saúde entendem que, como a proteção adquirida após uma infeção varia de pessoa para pessoa, e já que administrar duas doses a quem já foi exposto ao vírus não traz malefícios à saúde, será melhor jogar pelo seguro e completar o esquema vacinal também nos recuperados. Em Portugal, como em Espanha e França, olhou-se para o assunto da perspetiva inversa: como isso não traria nenhum benefício evidente aos recuperados, e visto que o mundo se encontra sob escassez de vacinas, a generalidade das pessoas recuperadas devia receber apenas uma dose.
Em resposta ao Observador, a DGS acrescentou que “como os estudos mostram que a proteção conferida pela infeção natural é de, pelo menos, oito meses, com dados muito robustos até aos seis meses, a estratégia adotada em Portugal é a de vacinar os recuperados com uma dose de vacina para esquemas vacinais de duas doses (e uma dose para vacinas com esquema vacinal de uma dose), seis meses após a infeção natural”.
Anticorpos saem de circulação, mas demoram meses a desaparecer
Miguel Castanho, bioquímico e investigador do Instituto de Medicina Molecular, afirmou ao Observador que, assumindo que estas duas pessoas tenham realmente estado infetadas, não é surpreendente que, algum tempo após a infeção por SARS-CoV-2, os anticorpos contra ele deixem de estar em circulação. A produção dessas moléculas, que neutralizam partes específicas do vírus, continua após a recuperação da infeção, mas começa a minguar com o tempo até deixarem de ser detetáveis no sangue.
Isso não significa que a pessoa deixe de estar protegida contra o vírus. Mesmo quando os anticorpos desaparecem, na generalidade das pessoas, o sistema imunitária tem outro truque na manga: a memória imunológica. Conforme explica António Sarmento, professor de infecciologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e diretor do Serviço de Infecciologia do Hospital São João, há células que memorizam os agentes infecciosos que o organismo já teve de combater para, no momento em que volta a contar com eles, desencadear uma resposta imunitária mais veloz e com a produção de novos anticorpos. E isso não é detetável pelos testes serológicos à venda nas farmácias — apenas com análises laboratoriais especializadas.
Os estudos mais recentes apontados pelo médico ao Observador sugerem que essa memória imunológica, no caso da infeção pelo coronavírus, deve ser longa. Um deles, publicado na revista Nature, indica que as células envolvidas na memória imunológica permanecem ativas durante pelo menos cinco meses. Outro estudo, publicado pela revista Science, aponta para os oito meses. De uma maneira ou de outra, estas células são a esperança de que a imunidade contra o SARS-CoV-2 possa estender-se por longos meses, se não anos (mas isso só o tempo dirá) após a infeção.
A questão é que, mesmo com esta proteção de retaguarda, geralmente é necessário muito tempo para que os anticorpos deixem de estar em circulação ou decresçam até níveis não detetáveis pelos testes serológicos — muito mais do que os quatro meses ao fim dos quais, nos casos analisados pelo Observador, as pessoas em causa descobriram que não tinham essas moléculas no sangue.
“Em quatro meses, em princípio uma pessoa infetada deveria ainda ter anticorpos”, avança Miguel Castanho. Mas “a tónica aqui é que as pessoas não tiveram a doença”, continua o especialista, pelo que “não podemos excluir a hipótese de serem falsos positivos”.
Isso pode ocorrer quando o teste não é efetuado corretamente (por exemplo, por contaminação de amostras ou porque os reagentes não estavam em bom estado), nem em condições corretas de temperatura ou pH. Se for esse o caso, então uma dose não basta para garantir a proteção: são necessárias duas caso se trate de outra vacina que não a da Johnson&Johnson.
Outra hipótese levantada por Miguel Castanho é a de os indivíduos terem estado de facto expostos ao vírus, mas terem desenvolvido uma carga vírica muito baixa, próxima do limite da positividade (quantidade acima do qual alguém testa positivo, mas abaixo do qual se testa negativo), pelo que “noutras circunstâncias, se fossem testados noutra altura ou noutras condições”, o resultado poderia ter sido negativo. Acontece, por exemplo, quando a carga viral sofre flutuações.
Nesses casos, a resposta imunitária não é fácil de prever. Há situações em que uma pessoa está infetada mas, graças à resposta imunitária robusta e célere do organismo, a carga viral não alcança valores muito altos. Nessas circunstâncias, apesar de o hospedeiro não chegar a desenvolver Covid-19 ou ter sintomas muito leves, o sistema imunitário costuma desenvolver proteção contra o vírus. Segundo o médico António Sarmento, a evidência científica sugere que, na maioria das pessoas, mesmo os doentes assintomáticos ou ligeiros que desenvolvem uma carga viral baixa desencadeiam uma resposta imunitária robusta capaz de conferir proteção contra o vírus após a recuperação.
Mas nas situações em que as partículas virais são menos viáveis e a carga viral declina sem estimular o sistema imunitário a reagir, é “difícil de prever” o que acontece ao hospedeiro: ou o sistema imunitário reage com intensidade suficiente para criar alguma proteção contra o SARS-CoV-2 ou não chega mesmo a criar a memória imunitária. Neste último caso, a pessoa continua igualmente vulnerável perante uma segunda exposição ao vírus e, por isso, deve ser vacinada com normalidade.
Só a segunda dose confere proteção robusta contra a variante delta
Então, o que arriscam as pessoas que só apanham uma dose da vacina, embora nunca tenham estado realmente infetadas ou não tenham desenvolvido imunidade contra o coronavírus? A primeira dose das vacinas tem uma “eficácia muito considerável” e já parece conferir algum grau de proteção contra a Covid-19 grave. No entanto, a segunda dose vai “aumentar a quantidade e qualidade dos anticorpos, assim como reforçar a qualidade deles”, explica o imunologista Luís Graça.
Mais: os estudos efetuados com as vacinas da Pfizer/BioNTech e da AstraZeneca/Universidade de Oxford sugerem que a segunda dose torna a inoculação muito mais eficaz em evitar a transmissão do vírus. Para a variante delta — que já é a dominante no Reino Unido e em Portugal —, “só com a segunda dose da vacina é que existe um impacto significativo na transmissão da doença”, avisa o especialista.
A Public Health England, uma agência do Departamento de Saúde e Segurança Social britânico, apurou que, ao fim de quatro semanas, ambas as vacinas conferiam quase 50% de proteção contra a variante alfa (detetada originalmente em Inglaterra). Mas, no caso da variante delta (registada na Índia), a percentagem baixa para 36% com a vacina da Pfizer/BioNTech e para 30% com a AstraZeneca/Universidade de Oxford.
Duas semanas depois da segunda dose, a diferença na eficácia das vacinas em função das variantes esbate-se: a vacina da Pfizer/BioNTech conferiu 88% de proteção contra a Covid-19 sintomática causada pela variante delta e 94% de proteção contra a doença causada pela vaiante alfa. Já a vacina da AstaZeneca/Universidade de Oxford concede 67% de proteção contra a variante delta e 74% contra a variante alfa.