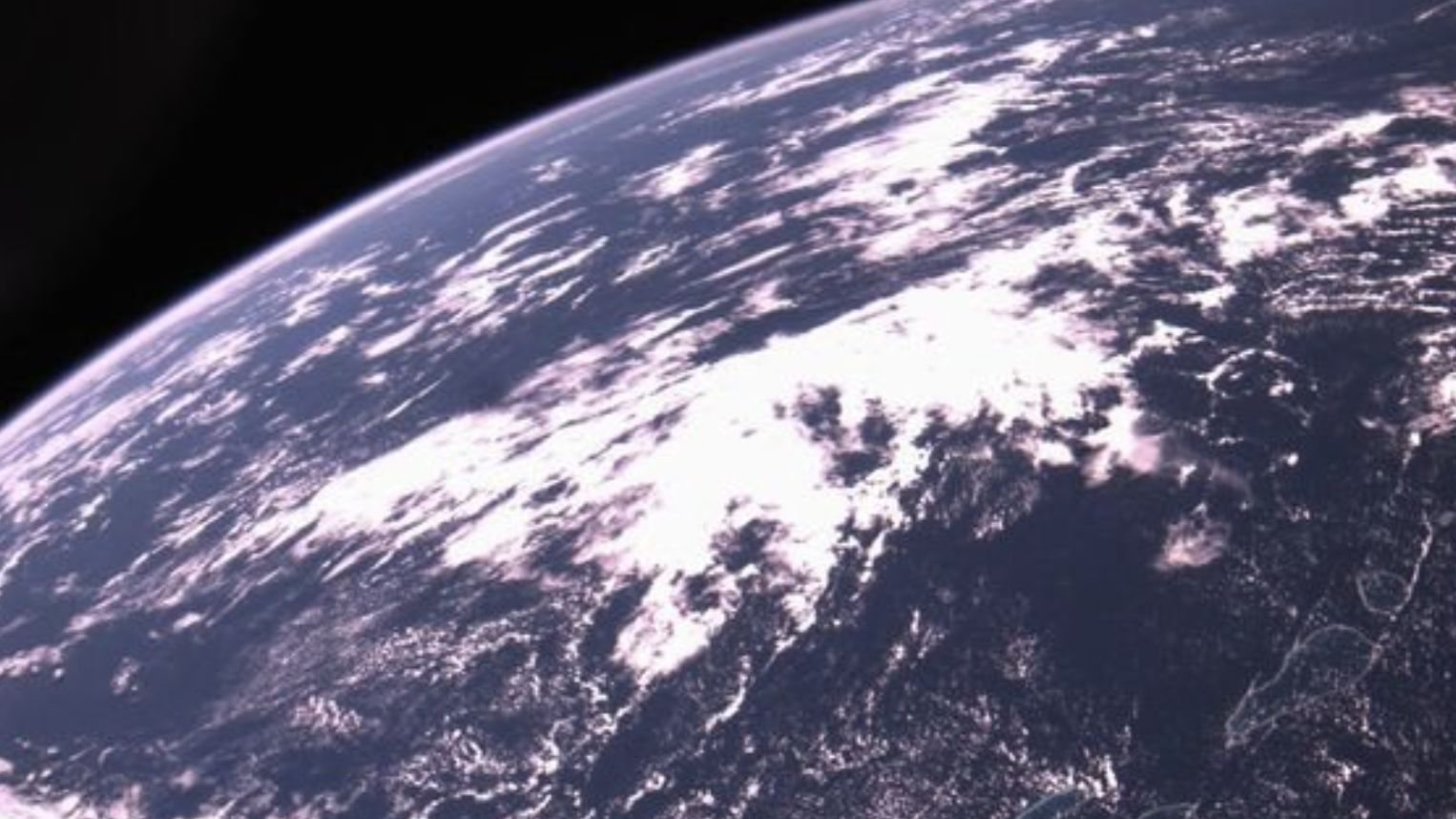“O país não é governado por especialistas”
(Marcelo Rebelo de Sousa, em plena pandemia)
Diz-se que quem muito fala pouco acerta. Não obstante, a citada frase de Marcelo foi certeira. Vivemos numa democracia. O termo vem do grego antigo δημοκρατία = dēmokratía = “governo do povo”. Consequentemente, no sistema em que vivemos, são os políticos eleitos que têm legitimidade — dada pelo voto — para decidir.
Às ciências e técnicas – aos técnicos, aos especialistas — cabe apoiar a decisão com informações sobre previsíveis impactos económicos, sociais e ambientais (quanto serão as verbas ganhas, os impostos pagos, as importações substituídas, quantos serão os empregos criados, as melhorias de mobilidade, quanta poluição ou perda de habitats, etc., etc.). No fim, o político pesa os prós e contras e… escolhe, decide. É para isso que ele lá está.
As áreas protegidas têm defraudado expectativas por quem se iludiu de que classificar algo por via de um simples perímetro desenhado num mapa é garante de conservação? Sim, efetivamente têm-se mostrado pouco protegidas, não faltando exemplos de áreas onde abundam urbanização, culturas intensivas, etc. Porquê? Porque se fazem ao arrepio de quem lá vive e/ou tem legítimos e protegidos interesses.
Um exemplo simples: vou visitar o Gerês e digo que estou num Parque Nacional e se é Nacional é de todos, é do país, dos portugueses, sendo imediatamente corrigido pelo morador local – “de todos uma ova, este terreno é meu!”; E tem razão: é mesmo. E se é dele, como qualquer português, tem direitos constitucionais vários sobre ele que o interesse público tem que respeitar, sendo um deles, caso haja incompatibilidade, o direito à expropriação. O Estado quer fazer, que faça, mas primeiro compra o terreno e então faz com ele o que entender.
Portugal tem mais de 20% do território classificado sob diferentes figuras de áreas de conservação. Há coisa de um ano, foi consensualizada na Convenção de Biodiversidade que os valores deviam subir para 30%. É isso garantia de maior esforço de conservação de espécies e habitats? Se fosse era fácil: desenhavam-se mais uns mapas. E depois vamos lá e o que vemos é um eucaliptal ou um olival intensivo, um pomar de abacates ou um campo de golfe, ou uma urbanização, etc., etc.
As áreas protegidas são uma criação americana do séc. XIX. Protegeram-se vastas extensões em terras de ninguém – não propriamente, porque lá viviam Índios, mas não tinham os seus direitos legalmente protegidos. Nós, por cá e século e meio depois, temos. O que não temos é um Estado abastado para pagar milhões e milhões a lesados ou expropriar enormes extensões em nome do interesse público – e mesmo que tivéssemos, seria discutível se era mesmo esse o interesse do público…
Não temos nós nem os nossos parceiros. Avançámos todos para a criação de uma rede europeia, a Rede Natura 2000. Mas esta baliza o que há a conservar, com listas de habitats e espécies. A sua aplicação criteriosa resultou em muitas e pequenas áreas nalguns países europeus. Entre nós, contudo, as áreas foram classificadas à imagem das bolachas cookies: uma área enorme, a bolacha, que tem aqui e ali umas pepitas de chocolate, essas sim as áreas cujos valores justificam a sua classificação.
Resultam daqui vastas áreas em que o interesse para a natureza é mínimo, mas que ficam sujeitas a complicações máximas, do comum cidadão a projetos nacionais em nome de todos eles. Quem olhar para a Costa Alentejana no mapa de áreas classificadas, de Tróia ao Algarve, vê uma área classificada pegada, apenas interrompida por Sines. Onde fazer o que quer que fosse? Outro exemplo: quem olhar para o outro lado, para a raia Alentejana, novamente vê um contínuo entre o Tejo e o Guadiana. Como fazer passar ali uma linha de comboio? Rasgando uma área classificada, porque de outro modo é impossível.
Servem as áreas em causa para travar decisões que cabem à política? Não, não servem. Mais ainda quando nem classificadas deviam ser – o projeto de Sines é uma zona urbanizável e de uso industrial, não é a Amazónia. Mas se existem, condicionam a decisão quer em regras e procedimentos (que não são para agilizar mas sim para cumprir, ainda que não passem de formalidades), quer em medidas de compensação.
E, se normalmente olhamos para mapas no papel e não para o que está de natureza em causa e muitos se indignam a partir daí, esperando que as áreas signifiquem algo distinto do seu objetivo, também quanto às medidas de compensação, desde que estejam no papel e que aparentemente sejam apropriadas, nunca mais ninguém lhes liga. Voltando ao exemplo do comboio para Espanha, que atravessa a ZPE Torre da Bolsa, também aqui se desenharam medidas várias de compensação para aves estepárias, muito bonitas no papel. Contudo se olharmos ao realmente feito temos uma mão cheia de nada (esta situação foi-me detalhada por um amigo conservacionista, que prefere ficar anónimo, além das inúmeras voltas que teve que dar para aceder a informação pública).
Sobre a conduta do ICN nesta embrulhada de Sines, nada sei mais que algumas suspeitas saídas na comunicação social – que foi mudando de posição, que devia ter travado a coisa (nem isso porque supostamente o que Banza disse foi para se invocar o interesse público). Muita indignação ambientalista, mas muito equívoco à mistura.
Ao ICN não se deve pedir que trave decisões que o ultrapassam, antes que cumpra a lei e que proponha medidas adequadas de compensação quando estas se justificam. Mas o trabalho não se esgota aí, numa lista de medidas escritas num papel. Há depois que monitorizar o seu cumprimento, porque senão, não servem para nada. É isto que a sociedade lhes deve exigir, não uma tecnocracia ilegítima.