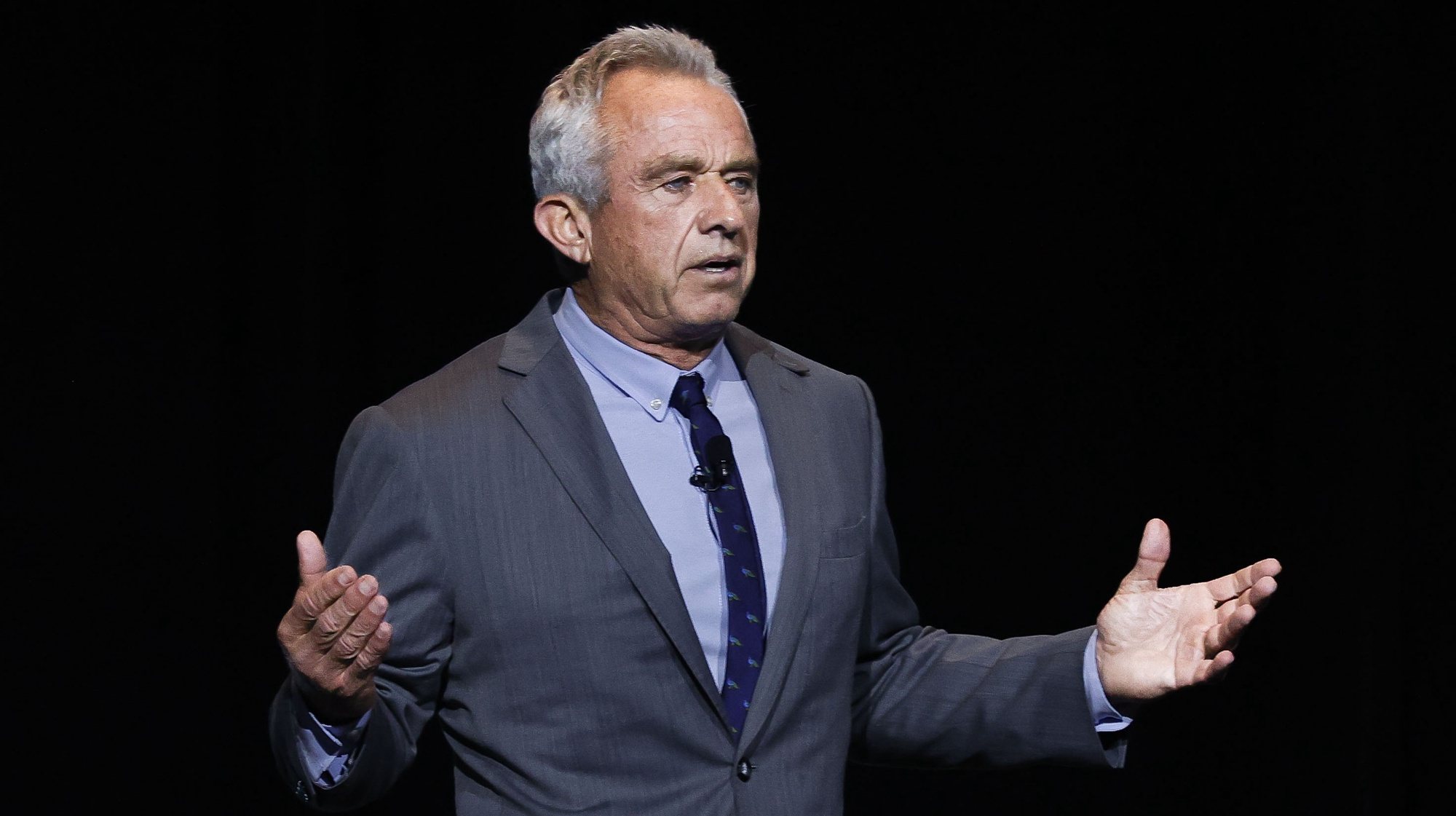Contra o novo “irritante”, (exposto publicamente em artigos de jornal a propósito da polémica sobre a ideia municipal de Museu dos Descobrimentos-Escravatura-Descobertas-Descoberta-Viagem, etc, etc) – nova e “irritante” espécie viral do “politicamente-ultra-correcto” que se vem instalando entre nós, nos media, nos jornais, na academia, e também nos diversos areópagos nacionais e internacionais – escrevo estas linhas.
Nada me move a não ser a consciência pessoal de que essa tendência, que procurarei identificar o melhor possível, é agressiva, claramente autoritária, tendenciosa, cripto-esquerdista, falsamente pluralista e com sabor (desagradável) a fascizante. E portanto, deve ser contrariada, combatida – mas sobretudo frontalmente esclarecida, e desmontada nos seus pressupostos teórico-práticos, se possível. Assim aposto no debate de ideias, mas desejando-o realmente aberto, e não massacrante, unilateralista, obsessivo.
Porém, no estado em que esta temáticas estão, nem sequer sei se conseguirei que este texto seja publicado nos jornais… dado o unanimismo e bloqueio conceptual e mental que tem sido crescente e sufocante na nossa imprensa. Como se já não se pudesse pensar e exprimir publicamente que discordamos de um determinado olhar (e expondo as nossas razões) sobre a saga histórico-cultural acima referenciada.
Ora esse olhar tem sido recentemente o de condenar, acusar e invectivar com veemência, em qualquer leitura ou abordagem a levar a cabo – o longo, complexo, contraditório e específico processo da Expansão Portuguesa, considerando-o desde logo como uma coisa basicamente criminosa, atentatória dos direitos humanos, condenável a todos os títulos – e de que portanto devem (todos) os portugueses pedir desculpa, pelo passado e pelo presente (possivelmente pelo futuro) de preferência a todo o momento, e de todas as formas possíveis.
Se não, seremos, seguindo o que essa tendência e olhar refere, nacionalistas, reaccionários, branqueadores da história nacional e mundial, arrogantes e tradicionalistas. Isto pelo menos, e entre muitas outras coisas más, ou negativas.
Há muito que reflicto e escrevo sobre a temática da Expansão Portuguesa (OK, mas não digam já que não posso usar esta expressão, deixem-me só chegar ao final do meu modesto texto), e para isso parti, descobrindo através de um percurso, de viagem (ai!) pessoal e profissional, a linha histórica de um desbravamento e colonização (ai!), que desde que me conheço identifico comigo e com a minha cultura. Com ela, de resto, hei-de morrer.
Viagens
Sou arquitecto e desde que me formei (1977) docente universitário – cedo me especializei em história da arquitectura e do urbanismo, criando a disciplina de História da Arquitectura em Portugal em 1978. Segui então, desde os iniciais anos 1980, o caminho geo-histórico (querendo adquirir um conhecimento científico o mais real e verdadeiro possível), que os processos expansionistas lusitanos (ai!) seguiram. Não foi propositado, mas assim se foi desenrolando a “minha viagem”, numa gradual e crescente percepção do mundo, sempre a propósito de estudos profisionais, e contando com a boa companhia de colegas e amigos, que tanto me influenciou.
Primeiro estudei as Ilhas Atlânticas, e aí comecei a descobrir especificidades (ai!), idiossincrasias (ai!) da cultura construída de base portuguesa, patentes na cidades e arquitecturas insulares. Dos Açores à Madeira, das Canárias a Cabo Verde e a São Tomé, e também nas Caraíbas, em Cuba, encontrei pontos de referência e o entendimento de um lento e antigo construir de (novas) identidades transatlânticas, já mestiças (ai!), trans-étnicas (ai, ai!). O Atlântico das ilhas foi um gradual ensaio do processo que os Portugueses foram encetando, muito por necessidade, mas também, decerto, por gosto pioneiro e vocação “de saída” (ai, o perigoso e demo-ideológico, pernicioso luso-tropicalismo, que desponta!).
Seguiu-se a India, onde, em viagem com Távora e Siza, pude(mos) constatar da grandiosidade das realizações do que se veio a designar na epistemologia académica, como a Cidade Portuguesa e/ou de influência portuguesa (expressão que já poucos se atrevem a dizer, ai!), na Idade Moderna, e as suas arquitecturas, umas de portentosa escala, outras com sentido intimista e delicado. Isto é, comecei a apreender e constatar que, em diferentes partes do mundo, algo de materialmente comum havia, no vasto património das colonizações lusas, que era identificável, algo original e/ou específico, e sobretudo familiar ao meu modo de ver e sentir o espaço urbano e as arquitecturas.
E na ex-India Portuguesa (ai!) vemos a vitalidade da sociedade Goesa, uma fórmula espantosa de micro-miscigenação cultural (e não propriamente racial), hoje meio-milenar e diaspórica, que inventou e articulou em novo contexto o sistema das castas com o societário do mundo católico. Uma fusão que criou formas de arte extraordinárias, como a arquitectura religiosa católica goesa que Paulo Varela Gomes tão bem caracterizou e celebrou, ou a fantástica casa-solar goesa, investigada por Helder Carita e, como casa-pátio, por Ângelo Silveira.
Percorrendo o Brasil de norte a sul, pude constatar essa continuidade especial, patente em cidades e casas, agora num quadro de grandioso reinventar – para ajudar a fazer e a construir um vasto território novo e uma cultura nova, resultante de misturas profundas, violentas e/ou calmas, de escravos, portugueses, índios, mestiços, europeus, e até ilhéus açóricos.
Em Macau percebia-se bem que a dificuldade de diálogo com uma cultura tão forte e antiga como diferente e poderosa, não só não impedia o esforço criativo e a persistência do migrante e construtor português, com parecia incentivá-la e aprofundá-la. Como em Nagasaki, no Japão, ou nas Flores insulíndas, ou em Timor.
Vi a baía urbana de Nagasaki, como a inconfundível enseada que o lusitano (ui!) procurava e escolhia, fosse padre, guerreiro ou comerciante, onde quer que parasse e se fixasse – baías como as senti e calcorreei em Salvador, no Rio, em Macau, Luanda ou Angra, na Cidade Velha de Cabo Verde, em São Tomé ou em Lourenço Marques/Maputo.
Elaborei e guardei um crescente corpo de conhecimento global de todos estes planos materiais e edificados – a vida secular das cidades de presença portuguesa, quase sempre mestiçada, experimentada e realizada pelo mundo. Que é uma resultante objectiva, real, palpável, tão antiga como actual – não é conversa (a)fiada e/ou ideológica.
Preparei, publiquei, divulguei, como outros autores, as conclusões – toda uma teoria elaborada e uma visão prática, documentada, assente em arquivos, fotografia e iconografia, teoria crítica de história urbano-arquitectónica, possibilitada tanto pela experiência sensível vivida como pela sua elaboração científica.
Constatações
Concluí de tudo isto uma coisa simples, mas certamente verdadeira: que estas urbes transoceânicas, que foram sendo edificadas “non-stop” em locais magníficos desde há mais de meio milénio, eram tão originais como belas, originais e conseguidas, nos seus espaços e arquitecturas, repetindo (em aparente obcessão) uma procura de edificação em sítios de paisagem esplendorosa, dotando-os com modos de vida potentes e significantes; e constituíam um valor universal, um motivo pleno de humanidades múltiplas, para minha identificação, prazer e orgulho (para mim mas também para os seus habitantes).
Esta vasta cultura material e de uso pelas comunidades mestiçadas e misturadas, mas com uma comum ligação portuguesa, pode aliás ser avaliada hoje de um modo simples, global, objectivo e rigoroso, ou seja isento: há mais cidades de fundação portuguesa e luso-mestiça classificadas como Património Mundial UNESCO fora de Portugal do que no Portugal ibérico – de Macau a Salvador, de Mazagão a São Luís, da Ribeira Grande à Ilha de Moçambique, etc, etc: ora isto representa o reconhecimento pela comunidade e cultura mundiais do valor destas urbes, com as suas arquitecturas e vivências. Prova de afirmação de uma arquitectura e urbanismo belos, contribuindo singelamente para o desenvolvimento da humanidade, implicando como sempre conflito e violência, mas representando mesmo assim a excelência de uma cultura, o melhor que ela soube dar e produzir – gerenosamente (ui), atrevo-me a dizer, pois, virada para o exterior, fê-lo sobretudo fora do seu próprio meio de génese europeu.
Há pois que reconhecer, sem peias ou preconceitos, ser este tema um valor positivo, assente nos resultados práticos, reais e vivos, fruto de uma aprendizagem de transportar e recriar cidades e arquitecturas de uma forma ao mesmo tempo nova e inspirada numa cultura antiga e fin-europeia. Como procuro ensinar aos meus alunos, que devem conhecer e poder orgulhar-se da tradição urbana e arquitectónica portuguesa, firmada pela história e a geografia mundiais (o actual e constantemente reafirmado valor internacional da arquitectura portuguesa não nasceu ontem, nem só no Portugal europeu).
Isto, evidentemente, sem deixar de associar todo este processo urbano-arquitectónico mundializado ao desenrolar de escravidões e prepotências, de sujeições, explorações “de classe” e domínios, que disso se alimentam desde sempre os processos colonizadores desde a pré-história, os Gregos, os Romanos, o Islão, a Europa e os outros continentes. Mas estas condições humanas, a um tempo de violência e vivência, não invalidaram, nem invalidam, a troca e profusa mistura de gentes, e a transferência de saberes e coisas, de sociabilidades sedutoras e apaixonantes – em plena realização de sítios urbanos e arquitecturais únicos, que, acentue-se, foram edificados pelo colectivo, pela comunidade presente em cada um desles, dos mais humildes aos mais poderosos – note-se bem, cidades e construções feitas pelo povo, a par de pelas elites.
O conhecimento da América hispânica, do México à Argentina, cotejando modos de produção ibéricos de cidade e arquitecturas, e respectivos ambientes de vida colectiva, permitiu-me aprofundar o carácter deste “modo português” (ah, nacionalista de um raio!), ibérico mas bem diverso do espanhol. Charles Boxer, que tive o prazer de conhecer então, respondendo à minha pergunta sobre as diferenças entre cidades e arquitecturas colonais ibéricas, opondo Portugal a Espanha, que me surgiam quase antagónicas, disse-me, na sua ironia fina e elegante: “sim são diferentes, se as olhar as duas – mas se as comparar por exemplo com a colonização holandesa, são quase iguais!”
Na África da ex-ocupação portuguesa colonial (vêem como posso ser tão politicamente bem?) aprendi mais coisas: que o espraiar uma cultura urbana e arquitectónica pelo mundo fora, mais do que vocação e/ou mania das épocas pré-industriais, era um fenómeno diacrónico, longuíssimo, fosse por necessidade (fugir à fome do Portugal ibérico e à periferia europeia), por contexto (éramos os ancestrais intermediários entre as “ricas” potências industriais e a “miséria” colonial, de base agrícola, como Frédéric Mauro apontou) e até por paixão ou capricho (sempre ele, o prazer e a líbido de criar algo novo e “livre”/fora do acanhado Portugal) – linha retomada sucessivamente, depois das Ilhas (1400) e da Índia (1500), e do Brasil (1700), nos séculos XIX e XX de Angola, Moçambique & outros (e Macau, Timor).
Aqui visitei e aprendi com as florescentes cidades, vilas e arquitecturas modernistas e modernas, uma nova dimensão construída que foi a contemporânea, em que os Portugueses migrantes e colonizadores conseguiram (tanto ou mais do que o Estado Português, note-se, como Malyn Newitt bem assinalou), via iniciativa privada ou pública, conceber e executar obras de uma modernidade, largueza e qualidade muitas vezes bem superior ao que o Estado Novo produzia em Lisboa ou Porto (Estação de CF da Beira, Mercado Quinaxixe de Luanda, etc).
Também estas urbes e universos arquitectónicos devem ser e são finalmente acarinhados nos seus locais de vida (por ex. no Congresso internacional sobre a Arquitectura Moderna de Angola, realizado em Luanda em 2015) como um legado moderno global, tardo-colonial mas qualificado, como espaço e função, que os PALOP´S receberam. E que não envergonha ninguém – de novo, não confundamos este património material belo e valioso com a fase história que o produziu, e que já lá vai; e não, não deixou obras inadequadas ou “más”, desiguais, colonialistas, para as novas nações: o espaço e a forma edificados são entidades livres, disponíveis para apropriação – podem ser, e são, reinterpretados, recriados e transformados, sempre, no contexto do processo histórico respectivo, em qualquer lugar.
Últimas reflexões
Sejamos claros: na presente fase supostamente pós-colonial (mas com novos pós-colonialismos emergentes), devemos saber separar o legado material e civilizacional da cidades e suas arquitecturas ex-coloniais, entendendo-as como valores de uso que podem, devem (e são, pouco a pouco) ser retomados, assumidos, reinventados, pelas novas sociedades que as herdaram e possuem. Esse legado material – espaços, equipamentos, infraestruturas, que permanece em vastas regiões ex-colonais, não deve ser misturado, ou confundido, com as suas origens ideológicas e político-sociais, pois não é um legado imóvel e negativo em si mesmo – antes constitui muito do que passou de bom e útil de uma cultura e civilização para outra, em condições anteriores e superadas no devir do processo histórico. Se não se souber fazer isto, cai-se na afirmação empobrecedora e ridícula da carta dos “Agentes culturais contra o Museu da Descoberta” (Público, 22-5-2018), que apenas consegue aduzir, em visão limitada, sobre este poderoso e valioso legado, a suposta “denúncia” da “…urbanização passada e actual das cidades e como esta revela uma profunda desigualdade de herança colonial”…
Mais “irritante” ainda: nós Portugueses somos maus ex-colonialistas, mas temos ainda por cima de ser iguais aos outros “maus”, não temos sequer direito à nossa especificidade maléfica: dizer ou intitular museu da Escravatura, da Descoberta, etc, são formas internacionalizantes e generalizantes para apagar a (má) palavra (e a cultura) “portuguesa”, ou “português”. Porém, a dizer verdade, nada disto em que reflicto e afirmo tem a ver com nacionalismos serôdios – apenas, se se pretende conhecer em rigor o passado, há que procurar reconhecer, identificar e divulgar, e se possível expressar pedagogicamente, os valores positivos que a cultura de base europeia a que pertenço conseguiu, entre tantas dificuldades e perpécias do processo histórico, mesmo assim realizar, no campo das cidades, dos territórios materiais e suas arquitecturas – e de forma original no quadro das culturas europeias (ex)coloniais – como concluo do seu-meu estudo nos últimos 40 anos.
Creio, a finalizar, que há que ter consciência da “gestão e alimento do ódio” desencadeada – deliberadamente ou não – pelos mais recentes, insistentes, unanimistas e militantes processos culturais, supostamente politicamente correctos e radicais, mas na realidade cegos, unilaterais e com profunda vocação extremista – só para dar um lampejo desta senda, basta fazer uma exemplificação breve de várias “palavras e conceitos castigadores”, presentes como revoadas e rajadas no texto do Público referido, quando considera o que é “indispensável” para um “projecto museológico plural e questionador, não-hegemónico e desmistificador”: o lugar de Portugal no tráfico mundial de pessoas escravizadas e seus efeitos (…) na ascenção do capitalismo; a responsabilidade de Portugal na história do genocídio e etnocídio indígena (…); a história da imposição de modos de sociabilização europeus; a dependência entre a história da construção do edificado monumental em Portugal e a extracção de recursos e pessoas em territórios colonizados; a racialização da gestão do espaço imperial, etc, etc.
Trata-se de dar a visão de um país / povo odioso, globalmente colonialista, que foi traficante, motivando o capitalismo; genocida e etnocida; construtor de ideologias falsamente multi-étnicas; impositivo de modos de sociabilização colonizadores; extractor e disruptor do ambiente e culturas dos territórios coloniais; saquedor de recursos e gentes para construir monumentos no país colonizador; racista e gestor imperialista; etc, etc.
Meus caros, para nada serve querer manipular/alterar a História, à força, sem a procurar conhecer de forma objectiva e plural – como de nada serviu e serve, tentar o seu branquear.
O resultado (cf. o artigo cit.) do “…crescente movimento de descolonização da memória histórica” não pode consistir em transformá-la num sistema ideologizado anti-colonial e obcessivamente anti-esclavagista ou anti-racista “à força” – isso não seria história, mas propaganda obtusa, fechada em si mesma, e afinal uma contra-ideologia, deliberadamente ignorante das várias perspectivas de leitura dos processos históricos. É isso que procuramos ensinar-nos e às novas gerações ? O mesmo artigo refere a necessidade de activar as redes (…) de “narrativas e contra-narrativas em disputa”, e as “memórias díspares” – onde estão estas e aquelas, se só se afirma, no artigo em ref., um dos lados dessas memórias? E não vale dizer que isso sucede porque as outras leituras, ditas branqueadoras, são hoje hegemónicas – é que todas, mas todas, as ideias e leituras históricas consistentes têm o direito a ser expostas e defendidas, sempre e em qualquer contexto. É isso a liberdade de expressão.
Para um Museu da Expansão Portuguesa
Vejamos agora, e directamente sobre o tema da Escravatura e do perdão que será necessário os portugueses pedir (ao Mundo): há então que promover uma reunião com todos os descendentes do potentados islâmicos negreiros, negros e brancos, que organizaram por séculos o tráfico de escravos na África da Época Moderna, e com todos os descendentes dos sobas e chefes tribais negros que organizaram a recolha e a entrega dos escravos aos traficantes lusos, etc. E então podem todos pedir desculpas, se assim o entenderem, pois todos constituíam uma rede, ou sistema de redes, conjunta e mundializada…
E sobre o perdão pelo passado colonial (pós-escravatura) pelo qual supostamente Portugueses, Portugal e Estado Português devem pedir desculpa: que a pretensão não sirva para escamotear, muito menos justificar, a responsabilidade pelos 40 anos de gestão política, social e económica dos países dos PALOP´s. Referindo igualmente dados objectivos, vejam-se os lugares dos 5 PALOP´s na escala de desenvolvimento humano mundial, hoje, após as 4 décadas das independências. E não me venham acusar de saudosista do Império – são dados numéricos objectivos do último quase meio século, dados pelos quais certamente não é agora primeira responsável a antiga potência colonial. Há que desassobradamente estudar os processos e realidades actuais nesses/desses países, conhecer os factores e agentes dos muitos problemas existentes, sejam de origem ancestral sejam recentes – primeiro passo para os resolver ou melhorar as situações.
É que, finalmente, o “facto colonial” – os processos coloniais e colonizadores – são um instrumento de alavanca da história mundial desde sempre: dos Romanos e do Islão, criadores da Europa, Norte de África e Médio Oriente (cada um à sua maneira); dos Ingleses, criadores dos Estado Unidos (com os outros contributos, entre os quais o da escravatura); dos Hispânicos, responsáveis por cerca de 20 nações centro e sul americanas, etc, etc. A lista é infindável. Todos eles foram processos violentos, sangrentos mesmo, de invasão, de força, até de chacina – mas também de troca, de criação de novas construções civilizacionais e culturais. Não podemos em boa verdade escamotear isto – os lados positivo e negativo, se quisermos apôr uma visão moral, são indissociáveis, essa é a realidade. Não podemos por isso pedir desculpa, sem reconhecer igualmente o lado de dádiva e transferência, de saberes, de sensibilidades, de obras, de sangues e religiões…
Um “Museu da Expansão Portuguesa” seria o meu contributo para uma possível designação institucional, assumidamente centrada na cultura portuguesa, mas integrando natural e logicamente todas as sucessivas fases históricas, valores, acontecimentos, contributos, dramas, crimes, etc., que se foram produzindo em 600 anos de Diáspora: “Descobrimentos, Conflitos, Colonização, Escravatura, Miscigenação, Os sucessivos ciclos imperiais e suas geografias económicas, a Construção de Territórios, de Cidades e Arquitecturas, e de Culturas novas com seus avanços artísticos, literários, científicos e técnicos, Consequências positivas e negativas dos processos da Expansão e Diáspora, as novas Comunidades multi-étnicas e culturais geradas, a Memória e a Museologia como processos actuantes, estado actual das Narrativas, suas contradições e universos, colisões, resistências” – resultando num museu frutuoso, úbere, suculento, pedagógico e útil – e numa coisa objectiva, substantiva, isenta de complexos e culpas, como de celebrações gratuitas e obsoletas.
Reivindico o direito que temos à essência do nosso país, ao assumir do seu contributo para o Mundo ao longo dos últimos 600 anos de expansão e colonização. Sem isso, que ainda por cima é a principal fonte da nossa identidade e prazer como comunidade (trocas e misturas materiais e espirituais, difusão e transporte de língua, cultura, saberes e técnicas, criação de cidades e arquitecturas), como Portugueses e Europeus, pouco Portugal teria dado ao planeta. Atentar de forma sectária e demagógica contra este direito, conquistado pelo mundo fora, é explorar imoralmente um certo complexo de inferioridade em relação ao exterior — ponto fraco nosso, mas que não tem fundamento. Assumamos o que fizemos, humana e historicamente, com tudo o que de bom e mau implicou. De resto, gosto desta nossa identidade, que vive das misturas com outras identidades, ou com a identidade dos outros.
Um agradecimento a todos os que me ensinaram ou com quem aprendi a pensar e refectir estes temas – Orlando Ribeiro, Jorge Dias, Charles Boxer, Malyn Newitt, Paulo Varela Gomes, Francisco Keil Amaral, Jorge Gaspar, Eugénio Lisboa, Fernando Távora, Nuno Portas, Alexandre Alves Costa, Adriano Moreira, José Mattoso, Eduardo Lourenço – sem ser por qualquer ordem, e pedindo perdão pelas omissões.
Maio-Junho 2018
José Manuel Fernandes é arquitecto