Quando, no final de fevereiro, lhe telefonaram para Londres a informar que tinha recebido o prémio literário D. Dinis, atribuído pela Casa de Mateus, Helder Macedo conta com ironia: “Pensei que já tinha morrido e não me tinham avisado”, a porpósito dessa boa tradição portuguesa que é ignorar os vivos e celebrar de forma estridente os mortos. É que embora ande nas lides da literatura há mais de 50 anos, tenha sido professor em algumas das Universidades mais prestigiadas do mundo, como o King’s College, Harvard e Oxford, e ser considerado internacionalmente como uma referência no pensamento sobre Camões, Bernardim Ribeiro, Cesário Verde, poesia medieval ou literatura pós-colonial, em Portugal a Academia tende a ignorar o seu trabalho.
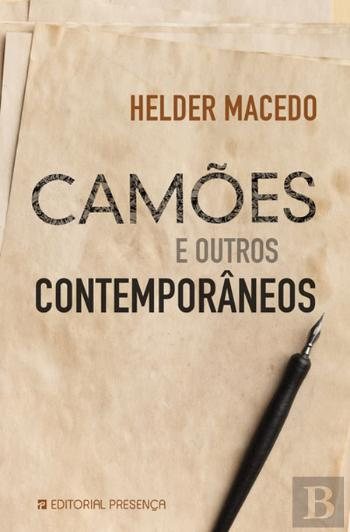
Camões e Outros Contemporâneos aborda 800 anos de história literária portuguesa. Ed. Presença, 18.50 euros
É certo que HM, por temperamento, pela experiência de dissidências várias, não se conformou em fazer uma carreira académica que navegasse à vista dos dogmas e mitos criados em torno dos autores e das suas obras, quer no salazarismo, quer depois dele. Partiu das zonas mais profundas e obscuras dessa tradição, desses cânones, para os repensar e, de certa forma, revolucionar. Procurando ver com olhos novos os valores antigos, procurando novas chaves de sentido para quartos onde tudo era tido como definitivamente arrumado. E, se isso lhe granjeou uma grande reputação internacional — Eduardo Lourenço, que está presente em todas as conferências que HM dá em Portugal, costuma dizer que “é o nosso único ‘scholar'”, erudito com capacidade de empolgar as plateias –, também lhe trouxe muitas resistências, em especial dentro da academia portuguesa. Face a essas relutâncias, Helder Macedo diz “já estar habituado”.
Helder Macedo (1935) escreveu os seus primeiros textos analíticos em 1957 ou 1958, quando tinha 22 anos, para a revista Graal, a convite de David Mourão-Ferreira. Em 1959 saiu de Portugal e, consequentemente, o contacto com o que se estava a produzir na literatura portuguesa tornou-se menos imediato. Durante algum tempo fez ensaios críticos para a revista Colóquio quando dirigida por Jacinto do Prado Coelho. Entretanto, regressou à universidade, não a portuguesa onde tinha estudado Direito em Lisboa, mas no King’s College de Londres, onde estudou Literatura e História.
Os seus livros sobre clássicos antigos e modernos como Bernardim Ribeiro ou Cesário Verde foram, desde logo, tão inovadores quanto polémicos. Nós, sobre Cesário Verde, quando publicado em Portugal em 1975, foi acusado por alguns críticos portugueses de ser um “manifesto gonçalvista”. Mais tarde, quando demonstrou a probabilidade do cripto-judaísmo de Bernardim Ribeiro e a simbologia de cariz cabalista da novela Menina e Moça, não só caracterizando conflitos ideológicos inerentes ao século XVI mas também o subsequente apagamento, até à nossa contemporaneidade, de tradições judaicas afinal tão portugueses como as “oficialmente” aceites como canónicas, Helder Macedo conheceu a fúria de vários académicos, alguns internacionais, como conta nesta entrevista ao Observador.
Camões e Outros Contemporâneos foi publicado em 2017 com a chancela da Presença e é um livro onde HM reúne ensaios escritos entre 1976 e 2016; textos académicos, palestras e conferencias em várias universidades do mundo versando sobre coisas que vão desde a poesia medieval até às suas memórias comoventes dos seus “amigos mortos” como Herberto Helder, Jorge de Sena, Manuel de Castro, José Cardoso Pires, Saramago. O livro conta ainda com a tradução para português de A Companion To Portuguese Literature de uma sinopse sobre 800 anos de literatura portuguesa que detém hoje o estatuto de referencia no meio anglófono e é, como escreve Philip Rothwell, Catedrático de literatura portuguesa em Oxford, “uma das mais claras exposições sobre oito século de história literária portuguesa, atualmente disponíveis”.

Camões e a Viagem Iniciática foi publicado primeiro no Brasil e, em 2013, a Abysmo publicou a obra em Portugal, com capa de André Carrilho
O livro é constituído por quatro partes: a primeira dedicada a Camões e à poesia medieval, a segunda dedicada à relação entre História e ficção, como Fernão Lopes, P. António Vieira ou Oliveira Martins, Eça de Queiroz, José Saramago, Teixeira Gomes. A terceira são testemunhos sobre a relação entre HM e alguns poetas portugueses e a quarta é a sinopse já referida. Mas isto é dizer muito pouco sobre uma obra que nos permite compreender não só os autores abordados mas também as muitas nuances e possibilidades de leitura daquilo que eles nos deixaram e permite, ao mesmo tempo, compreender a dimensão, a agilidade do pensamento de HM, a capacidade de fazer ligações inusitadas, de trabalhar sobre as dúvidas e não sobre as certezas, sobre as incoerências, as brechas, descobrir continuidades onde todos só veem ruturas:
“Uma das características de Macedo enquanto criador de diversos géneros literários é a rigorosa utilização da linguagem. A estrutura dos seus ensaios consegue sempre cativar o leitor abrindo novo caminhos para a compreensão da condição humana e do singular posicionamento de Portugal em termos históricos e culturais”, escreveu Philip Rotwell na revista Colóquio Letras
Este prémio D. Dinis foi uma surpresa, até porque não está nas habituais listas de “premiáveis”, apesar de ser reconhecido como uma dos grandes intelectuais portugueses da atualidade, como escreve Philip Rotwell da universidade de Oxford…
Sim, foi uma total surpresa. Por momentos até pensei que já tinha morrido e não me tinham avisado. De facto, não estou nas listas habituais dos premiados. Mas sabemos que os prémios são geralmente mais reveladores de quem os atribui do que de quem os recebe. Um júri diferente teria dado o prémio a outro livro.
Curiosamente, este prémio é-lhe atribuído no mesmo ano em que foram publicadas as obras completas de Camões, com o patrocínio da Presidência da República, nas quais é feita tábua rasa de todas as suas investigações, de resto como são praticamente ignoradas as obras de Jorge de Sena e de Fernando Gil. O mesmo já tinha acontecido em 2011 quando foi feito o Dicionário de Camões.
Bom, em primeiro lugar, é ótimo que as obras completas de Camões estejam a ser republicadas, com o patrocínio da Presidência da República a ajudar. Só folheei a edição d’Os Lusíadas numa rápida ida a Lisboa, ainda não a comprei, terei de ver se adianta significativamente em relação às que tenho. E de facto, na bibliografia, notei que das obras fundamentais de Jorge de Sena só vem mencionado A Estrutura de Os Lusíadas, tendo ele escrito muitas mais, incluindo os dois grossos volumes intitulados “Trinta anos de Camões”. Mas quero crer que os seus ensinamentos não deixaram de ser tomados em devida conta. Porque, dando-se-lhes ou não o devido crédito, são incontornáveis. E no Dicionário de Camões, o Jorge de Sena certamente não é ignorado, embora a perspetiva crítica globalmente adotada reflita uma tradição mais antiga e portanto mais conservadora.
Mas sim, talvez haja alguma desconfiança congénita por parte da academia portuguesa (e talvez de todas as academias) em relação a estudiosos com diferentes formações, manifestando diferentes perspetivas. Todas as academias tendem a vistoriar o vistoriado, a repetir o repetido. Por isso, raras vezes dececionam e, menos ainda, surpreendem. Mas têm a sua função. São muito úteis. O mal é quando a tradição se torna dogma e então bloqueia a inovação, protegendo a seara própria de foices alheias… Isso certamente aconteceu em relação ao Sena, engenheiro em Portugal mas doutorado em Letras no Brasil e professor nos Estados Unidos. E de algum modo também em relação aos inovadores ensaios do Fernando Gil sobre Camões. O Fernando era reconhecido como filósofo, mas essa ideia de se meter nas literaturas criou algumas resistências em Portugal… No que me diz respeito, olhe, são vidas.
A minha formação universitária é inglesa. Se calhar, se eu não fosse português, os meus bons colegas de Coimbra ou de Lisboa ficariam muito contentes por um estrangeiro se ocupar da nossa cultura. Mas, sendo português, a distância de Portugal tem o seu preço. Além, é claro, dos benefícios que também me possa ter trazido. Entre artigos e livros, publiquei em várias línguas cerca de trinta e cinco estudos sobre Camões. Muitos dos quais qualquer camoniano razoavelmente informado não deverá poder desconhecer, concorde ou não com as minhas leituras. Mas por vezes, e certamente que por vias próprias, depois lá vão chegando a conclusões parecidas com as minhas, passadas algumas décadas.
Para lhe dar um exemplo, no Dicionário de Camões, publicado em 2011, no verbete mais extenso, que naturalmente é sobre Os Lusíadas (depois de fazer um emparelhamento estilo galheteiro ou Benfica-Sporting , entre Camões e Fernando Pessoa), a autora afirma lá para o fim, quase em conclusão: “Num poema que não designa nenhum herói, Camões apresenta-se com a imagem que o concretiza”. Isto começa por ser uma afirmação bizarra, considerando que o poema designa dúzias de heróis. Mas quanto à imagem heroica de si próprio projetada por Camões no poema, sim, claro, estou inteiramente de acordo, e ainda bem que a minha prestigiosa colega também tenha conseguido chegar ao que eu tinha escrito em 1980, para um congresso camoniano em Paris, num texto depois publicado nos Arquivos do Centro Cultural Português (vol. XVI, 1981) com o título “O Braço e a Mente: o Poeta como Herói n’Os Lusíadas”. Não tem importância, é só que lhe teria poupado trinta anos de meditação.
Camões, poeta da dúvida, da incerteza, da rutura, foi tornado um mito rodeado de certezas, assexuado, sublime. Porque parece que se convencionou que o sublime e o indecoroso não podem coexistir, muito menos nos poetas que têm estátuas em praças. Mostrar essa coabitação e a forma como essas duas faces redimensionam a própria obra do autor tem sido uma das suas lutas, nomeadamente no seu trabalho pioneiro sobre a epistolografia de Camões…
Pois é, o indecoroso é uma doença do olhar, uma redução das almas e dos corpos. O “supostamente indecoroso” é que é indecoroso. Camões foi “sublime” não a despeito de, mas porque também foi “indecoroso”. A assexualidade nunca pode ser sublime, mas é sempre indecorosa. Pois se as cartas de Camões até falam dos usos do sublime petrarquismo nos indecorosos bordéis de Lisboa!… As cartas são um amplo retrato social, que também inclui a crítica da corrupção e dos desmandos do poder. O que é preciso é lê-las sem preconceitos puritanos. Mas a neutralização retrospetiva – digo, a desleitura – das cartas de Camões foi até ao ponto de se desentender a designação que ele dá a um desses bordeis onde se congregava gente de várias raças e classes sociais como “o mal cozinhado” onde, segundo informa, bom ou mau, havia sempre que “comer”. Vai daí, algumas das pessoas que trabalharam sobre as cartas julgaram que Camões se estava a referir a um restaurante…
No seu trabalho sobre a novela Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro, assente na análise cabalística da obra, deu direito a inflamadas críticas, pois o Helder Macedo aponta para a possibilidade de Bernardim ser um cristão-novo, que continuava a praticar o judaísmo em segredo. A novela renascentista é afinal uma história erigida sobre símbolos judaicos de toda a espécie. Esse foi outro dos seus estudos polémicos.
Sim, mas também levou a alguns entusiasmos. O professor Jacinto do Prado Coelho publicou um artigo em que eu fazia o resumo dessa minha investigação na Colóquio. E o livro teve um prémio da Academia das Ciências de Lisboa. Mas tem razão, houve uma grande polarização. Entre aqueles que eu, maldosamente, caracterizo como os “cristãos velhos” e os “cristãos novos”. Há quem se recuse a aceitar que a cultura portuguesa quinhentista era híbrida, com uma considerável interpenetração das religiões coexistentes. Recusar esse facto histórico representa o triunfo da Contra-Reforma e da Inquisição sobre a dissidência que nesse tempo ainda havia. E a minha formação universitária não é apenas em Literatura, é também em História. Essa investigação sobre Bernardim fez-me convergir as duas disciplinas. É uma análise literária no seu contexto histórico.
O grande erudito espanhol Eugenio Asencio, com quem aliás muito aprendi, acusou-me publicamente de ter o gosto da heterodoxia. E se calhar tinha alguma razão… Mas fomos debater publicamente as nossas diferentes interpretações da obra de Bernardim no Centro Cultural da Gulbenkian, em Paris, sob os auspícios de outro grande erudito, o professor Pina Martins, que aliás concordava com ele e não comigo, mas que lá por isso me não me quis calar inquisitorialmente, honra lhe seja feita. Uma atitude inquisitorial aconteceu quando um professor da Universidade do Porto proibiu os alunos de lerem esse meu livro, estávamos em 1977. A questão fundamental é que se continua a recusar a profunda importância – direi mesmo, a função estruturante que, para bem e para mal ou as duas coisas ao mesmo tempo, o judaísmo teve na nossa cultura. Mesmo o chamado Sebastianismo reflete uma convergência entre o milenarismo cristão e o profetismo judaico. E o Sebastianismo esteve, e se calhar continua a estar, na base dos nossos algo patéticos nacionalismos de judeus envergonhados. Sim, a Inquisição tornou-nos numa cultura empobrecida de nós próprios.
Nesse sentido, as universidades anglo-saxónicas são um lugar mais amistoso para espíritos “revolucionários” como o seu? Não lhe teria sido possível ou ter-lhe-ia sido difícil fazer uma carreira académica em Portugal?
Sim, julgo que teria sido mais difícil ter tido em Portugal a carreira universitária que tive na Inglaterra. Beneficiei, tanto como estudante quanto como professor, de um tempo privilegiado nas universidades inglesas. Como estudante de literatura, fui aluno de dois grandes mestres, os professores Stephen Reckert e Luís de Sousa Rebelo. E como estudante de História tive aulas individuais de um dos maiores especialistas britânicos dos séculos XVI e XVII na Península Ibérica, o professor J. H. Elliott. Mas as coisas nas universidades inglesas mudaram radicalmente.
Quando fui estudante, o ensino universitário era virtualmente gratuito, havia bolsas de manutenção, como houve para mim, e sobretudo o estudo era “porque sim” e não para um suposto propósito “prático” imediato. O ensino universitário era considerado um investimento nacional. Agora, os alunos saem da universidade com dívidas de mais de trinta mil euros, são clientes, deixaram de ser os colaboradores naturais dos seus professores, o espírito de equipa desapareceu. E várias disciplinas sem um propósito prático imediato no mercado do trabalho estão a ser extintas (como por exemplo, no King’s College, a Paleografia) ou estão a ser marginalizadas. O que dantes se ensinava era a saber ler. Pouco importava se a leitura fosse de um texto literário ou de um acontecimento histórico ou se fosse a análise de uma hipótese científica. O ênfase era portanto mais na formação do que na informação. Posto o que, a informação necessária para empregos no mercado podia ser rápida e mais proveitosamente adquirida. Era um sistema profundamente elitista, é claro, mas de um elitismo derivado da capacidade intelectual dos estudantes e não das suas circunstâncias sócio-económicos.
Agora os estudantes saem da universidade com mais informação prática do que com formação intelectual. Não creio que as atuais universidades inglesas – exceto ainda as mais antigas e mais “reacionárias”, como Oxford e Cambridge – sejam ainda um lugar amistoso para “revolucionários”. Tive a sorte de entrar e de sair a tempo… Mas pode ser que as coisas melhorem no futuro e que o atual ênfase na quantidade venha tornar-se numa mais generalizada qualidade.

Fotografias tiradas por Ana Hatherly, dos amigos Jorge de Sena, Helder e Suzette Macedo em sua casa londrina, anos 60
Neste Camões e outros contemporâneos, podemos ver que o seu trabalho se pauta quase sempre pela descoberta de uma nova dimensão, de uma nova profundidade dentro da tradição. A questão é: até que ponto estão os leitores dispostos a dialogar com elas, a lutar com as dificuldades desafiantes que elas contêm?
Acho que é mais importante dialogar com os textos que permanecem vivos do que com as tradições que parecem mortas. Se os textos estão vivos é porque as tradições não estão mortas. Podem é estar submersas nas trivialidades dos lugares comuns. Pelo menos é essa a minha aposta. Se há leitores para isso, logo se vê.
Reconhece, num dos capítulos deste livro, que é difícil, cada vez mais difícil, lermos fora das nossas coordenadas sócio-culturais. Essa é uma das razões pelas quais se está a fazer uma revisionismo politicamente-correcto da história, da arte, da literatura? Chegará o dia em que as nossas Cantigas de Escárnio e Mal Dizer serão proibidas por serem obscenas? Será que um político do futuro pedirá desculpa aos muçulmanos pela forma como Camões os representou n’Os Lusíadas ou as feministas se vestirão de negro contra os poemas de corte ou de exibicionismo sexual do poeta?
Bom, não há dúvida que estamos a entrar numa espécie de neo-puritanismo revisionista. Mas também estamos num tempo sexualmente mais explícito, sobretudo por parte das mulheres e muitas vezes para o susto dos homens. Todo considerado, confio mais nas mulheres do que nos homens. Para se chegar a um equilíbrio tem-se muitas vezes de passar pelo exagero. O excesso é o caminho da virtude… E como bem dizia o libertário (e libertino) Teixeira Gomes, os homens já tiveram o seu poder, usaram-no mal, e agora será bom para todos, homens e mulheres, que as mulheres se emancipem do poder masculino. À partida através de coisas concretas como a contracepção, a partilha equitativa de responsabilidades na procriação, o acesso à educação, a paridade no mercado de trabalho, salários equivalentes para funções equivalentes, tudo isso. E a partir daí acho que as supostas obscenidades das nossas cantigas medievais e as malandrices do Camões vão ter excelentes leitoras nas mulheres libertadas do poder masculino. Afinal, são expressões de um convívio desinibido entre homens e mulheres. E quem mais tem neutralizado essas expressões naturais da sexualidade são os homens supostamente “doutos” e não as mulheres supostamente “inocentes”. Mas quanto a isso de se pedir desculpa pela História… Infelizmente, já aconteceu e se calhar vai acontecer cada vez mais. São patetices perigosíssimas… Porque só assumindo sem complexos a História que houve será possível melhorar a História que venha a haver. Sem inquisições, sem escravatura, sem guerras…
Sendo um defensor dos direitos e liberdades das mulheres, dos homossexuais mesmo quando isso era mal visto e podia até dar chatices com a “Polícia dos Costumes”, com a família, etc., como vê estes movimentos feministas como o #metoo?
Entendo a necessidade do exagero, do excesso, para depois se conseguir algum equilíbrio. Mas julgo que ainda há muito de imitação masculina no tipo de afirmação feminina associada aos #metoo e equivalentes. Como quem diz “me too”, “eu também fui vítima dos mauzões dos homens”. E, é claro, há também algum oportunismo por parte de algumas mulheres. Sempre houve uma grande confusão entre sexualidade e poder. E os subjugados sempre se afirmaram como vítimas, só nisso residia o seu poder contra os detentores do poder. As mulheres, assumindo o seu poder, deixam de ser subjugadas.
E quanto à homossexualidade, tem havido tantas leis a proibi-la e tantas punições ao longo dos séculos que só isso chegaria para demonstrar que era, como continua a ser, uma prática natural da sexualidade humana, de par com a heterossexualidade. Que também se não destina, nem nunca se destinou, apenas à procriação, graças a todos os deuses e demónios. Portanto a cada qual o que mais lhe apeteça com quem também apeteça. Mas estar-se agora a eliminar retrospectivamente bons atores como o Kevin Spacey ou excelentes cineastas como o Woody Allen, é o mesmo que de repente banir dos museus os quadros de Caravaggio, que se portou pior do que todos eles juntos. Mais uma vez, é não assumir a História que houve e tal como houve. O que é necessário é mudar as coisas, lutar contra as perversões do poder. Mas quero crer que, num futuro próximo, as próprias mulheres, por se terem tornado mais livres, não partilharão das retrospeções punitivas de agora.
Vivemos um novo puritanismo moral que nos faz aceitar que as redes sociais censurem a nudez representada nas obras de arte como a Vénus de Willendorf, a República Francesa ou “A Origem do Mundo” de Courbet. Na sua opinião, como chegámos até aqui, depois de séculos a lutarmos pela liberdade de expressão?
Espero e desejo que sejam problemas de crescimento. Tanto da parte das mulheres como dos homens. Porque tudo isso tem muita hipocrisia à mistura. É o velho puritanismo a procurar novas formas de opressão. A luta pela liberdade de expressão tem de ser mais persistente do que o poder da opressão.
Conhece as novas tecnologias, tem um smartphone e até uma conta no Facebook. Sente que esta migração em massa do analógico para o digital, que já mudou os nossos hábitos de ler jornais, ouvir música, de estabelecer relações entre pares e até de fazer política, vai ser boa ou má para a cultura humanista fundada nos livros, na curiosidade face ao outro, na nossa capacidade de ler e decifrar símbolos tão fundamentais à nossa vida mental e interior. Como é que alguém que conheceu bem a vida em ditadura, olha para este “admirável mundo novo”?
Vivi e cresci em Portugal num tempo de vigilância policial, quando as pessoas baixavam a voz e olhavam em volta se diziam palavras proibidas, como “liberdade”. Se calhar até quando pensavam, sem chegarem a dizer. A repressão era visível, o controle não era disfarçado, era parte integrante de ser e de estar. Mas por isso também possibilitava o disfarce, gerava a clandestinidade, nutria a dissidência. Com maior ou menor perigo, podia-se viver na contramão do poder estabelecido, das ideias impostas, da imoral moralidade redutora dos corpos e das almas.
Os tempos mudaram, neste nosso “admirável mundo novo” a repressão e os controlos globalizaram-se, adotaram eles próprios a linguagem da liberdade. São mais subtis e, por isso, mais eficientes. Tornando a clandestinidade mais difícil, os disfarces mais precários, a própria dissidência está prevista e programada. Tornando portanto todos mais coniventes, mesmo na aparência das livres escolhas que não são livres nem escolhas. Se os paranoicos imaginam que estão sempre a ser vigiados, o que seria paranoia tornou-se numa aparência de normalidade.
Mas sim, uso diariamente as novas tecnologias (e sou usado por elas), tenho um smartphone que utilizo (e me utiliza) quando viajo, e uma conta algo passiva no facebook, onde nunca escrevo (nem sequer likes ou dislikes) mas que me permite ler o que outros querem que se leia. Ainda assim, continuo a comprar jornais (e a ver alguns online), a ler livros (nunca online) e a ouvir música com melhor som do que no computador. E sobretudo prefiro a presença de quem gosto à sua ausência estratosférica. Para isso bem bastam os amigos mortos. Mas tudo isto também significa que aquilo que se entende como cultura humanista tem de encontrar novas maneiras de se manifestar. Usando a tecnologia para não ser diluído nela.
Deu o exemplo do que está a acontecer com os jornais. Pois bem, é evidente que os jornais à moda antiga já não fazem grande sentido, quando estão impressos as notícias já são conhecidas pelos seus hipotéticos leitores, não vale a pena ir à rua comprá-los se as informações de última hora já estão nos computadores. O novo desafio seria portanto passar a haver jornais de comentário e de análise crítica no lugar dos antigos jornais de informação imediata. Desse modo talvez até reforçando a tal cultura humanista.

Com José Saramago, Pepetela, João Ubaldo Ribeiro e Ferreira Gullar, no Rio de Janeiro
Neste livro, agora premiado, em especial o último capítulo, onde resume 800 anos de literatura portuguesa, é também uma resposta a uma época que forja celebridades literárias em vez de obras de arte?
O tempo é seletivo. Uns ficam, outros passam, mesmo que por vezes injustamente. Daí a minha ideia de que contemporaneidade não é apenas um conceito cronológico, mas que tem a ver com a perceção presente do passado. Para um exemplo significativo, de que aliás já falámos há pouco, atualmente é consensual que Cesário Verde foi um dos poetas mais importantes do oitocentismo em Portugal. Mas, durante a sua vida, foi virtualmente ignorado ou, pior ainda, incompreendido. A obra dele não mudou, mas a nossa perceção dela modificou-se. Por outro lado, não é menos significativo do seu tempo que outros poetas tenham sido então celebrados, e não ele. Isto sugere a probabilidade de que o mesmo venha a acontecer em relação ao nosso tempo.
Que opinião tem sobre o meio literário português (escritores, críticos, leitores), tendo em conta que o conhece desde os anos 50, que já viu muita coisa nascer e morrer, muitas modas, alguns talentos e é, em geral, um otimista?
Uma coisa que considero excelente é a maior e mais generalizada acessibilidade de textos clássicos em boas traduções não dirigidas apenas às universidades mas a um amplo público leitor. E não só dos clássicos gregos e latinos, mas também de autores modernos de outras línguas, como por exemplo os poetas alemães. As nossas coordenadas literárias alargaram-se. Deixaram de ser quase exclusivamente francesas, como foram quando eu era novo, ou anglo-americanas como depois se tornaram, e são cada vez mais do tamanho do mundo. Isso é ótimo embora, nalguns aspetos, muita da nossa produção literária esteja a ser algo epigonal. É fatigante ler tanta poesia em português mentalmente transposta de outras línguas e culturas. Refletindo, nalguns casos mais notórios, uma espécie de novo-riquismo imitativo. E isso também vai de par com a persistente tendência de rapidamente se esquecerem alguns dos nossos melhores e mais originais escritores modernos, ou de se continuar a ignorar os mais antigos.
O enorme Jorge de Sena é atualmente pouco lido. Ou o José Cardoso Pires, que foi o fundador da nossa ficção pós-neo-realista. Ou a Agustina Bessa-Luís, sempre mais celebrada do que lida. Como também a Maria Velho da Costa. Ou, na poesia, por exemplo o David Mourão-Ferreira e o Egito Gonçalves. Para nem mencionar os autores quinhentistas, como Bernardim ou Sá de Miranda, ou até Camões. Mas isso também é parte de uma redutora atitude galheteiro em relação à nossa cultura, transformando-a numa espécie de Benfica-Sporting literário, com preguiçosas polarizações emparelhadas: Camões versus Pessoa, Eça versus Camilo, Saramago versus Lobo Antunes como já havia sido Cardoso Pires versus Saramago, e assim por diante. Com o consequente endeusamento transitório de algumas figuras carismáticos, até essas passarem também ao esquecimento. Mas entretanto resultando numa espécie de mesmismo literário que vai de par com uma miópica desatenção à diferença.
Poucas vezes terá havido em Portugal tantos e tantas poetas literariamente tão competentes… mas tão parecidos uns e umas com as outras e os outros. Porque também acho que se escreve e se publica depressa demais. É extraordinário o número de poetas que, aos quarenta e poucos anos, publica volumes de poesia reunida de quinhentas ou mais páginas. Pobre do Cesário Verde, que só escreveu quarenta e dois poemas… E na ficção acontece qualquer coisa de semelhante. Depois de, nalguns casos, a publicação de uma primeira obra promissora, vem por aí, ano após ano, travestida com novos títulos, a mesma obra do mesmo autor a dizer a mesma coisa, cada vez mais gasta. Mas se calhar isso sempre aconteceu, embora em menor quantidade, em todos os tempos.
E se calhar competiria aos críticos separarem a semelhança da diferença, dando mais atenção à diferença do que à semelhança. Muita da nossa atual crítica jornalística consiste de longos inventários de nomes sempre os mesmos? Lastimavelmente (e isto não é saudosismo de velho), durante a ditadura a crítica literária era menos consensual, tomava mais riscos. Talvez por necessidade, como reação à censura e à opressão política. E sempre havia, ali no seu posto, o agora também injustamente esquecido João Gaspar Simões, que o Mário Cesariny um dia definiu como o polícia sinaleiro das letras portuguesas: “Este pode passar, este não pode”…
Listar nomes tem-se tornado, no espaço literário português, um dos exercícios críticos com mais adeptos. O que pensa disto?
É, no mínimo, enfadonha. Não há crítica literária, há preguiça. E, ao mesmo tempo, uma apressada urgência prematura de estabelecer cânones, com o olho posto na posteridade… De facto, às vezes esses exercícios supostamente de crítica literária parece mais uma lista de membros de clubes recreativos. Com muito compadrio à mistura, é claro. Mas isso é também uma expressão de insegurança. Levando portanto à exclusão da diferença.
Aos 82 anos continua a dar seminários em várias partes do mundo e, recentemente tornou-se Research Fellow em Oxford. Camões continua a ser o autor sobre o qual mais trabalha. Em que estado estão atualmente os estudos camonianos?
Creio que o meu trabalho universitário beneficiou do facto de ser escritor do mesmo modo que ser escritor pode agora beneficiar do meu trabalho universitário. Não são alternativas, são atividades complementares. E uma das poucas vantagens de se viver tanto tempo quanto já vivi. Quanto aos estudos camonianos hoje, creio que há uma maior abertura em relação ao que já foram. Muito pior é o que continua a acontecer a outros grandes do Renascimento português, como o “feminista” Bernardim ou o “libertário” Sá de Miranda. E estou longe de pensar que as minhas leituras de Camões são as únicas possíveis. Nada seria mais anti-camoniano do que presumir que alguém pode ter a verdade no bolso. Mas tem razão que continua a haver uma lastimável distância entre as instituições académicas e o público. Em grande parte, como já sugeri, talvez por não haver uma compatível atividade crítica nos média.
Voltando agora ao que começou por dizer sobre o atual meio literário português. Porque a mitificação é sempre uma forma de neutralização das obras e da sua forma disruptiva, manifestou-se recentemente, na sua crónica quinzenal, no JL, contra o processo de beatificação em curso de Mário Cesariny e Herberto Helder… O que está a acontecer?
Sim, a mitificação é uma forma de neutralização. No caso desses dois poetas, que muito admiro, é também uma tentativa inconsciente de os integrar no prevalecente mesmismo. Tanto o Herberto, de quem eu era amigo, como o Mário Cesariny, com quem tive uma relação mais difícil por causa dos ciúmes que ele tinha do Jorge de Sena, tomaram riscos hoje em dia impensáveis. Foram expressões da diferença, quando a diferença era perigosa e, portanto, no seu tempo, necessária. Haverá certamente outros riscos a tomar e novas diferenças necessárias neste nosso tempo, mas essas têm de ser encontradas por quem as deseje e não às cavalitas dos mortos mitificados. Certamente não povoando o nosso meio literário de herbertinhos conviviais e de cesarinotes respeitadores.

Helder Macedo e Mário Cesariny fotografados por João Cutileiro em Londres nos anos 60
Foi nomeado Diretor Geral dos Espetáculos no último governo de Vasco Gonçalves, no verão quente de 1975, foi Secretário de Estado da Cultura no governo de Maria de Lourdes Pintasilgo, em 1979. Que opinião tem sobre a política cultural do atual governo? E do consulado Luís Filipe de Castro Mendes, o ministro da pasta?
Bom, sim, fui um político em tempos de transição, e quando a política se tornou numa profissão fui à vida. Esses dois governos, o último de Vasco Gonçalves e o de Maria de Lourdes Pintasilgo, foram os mais precários do após 25 de Abril. Fui Diretor Geral apenas durante algumas semanas, quando de repente já não havia nem ministro nem governo. E o governo de Maria de Lourdes Pintasilgo era só para ter durado cem dias e de facto durou apenas quatro ou cinco meses.
E sobre a política cultural de António Costa/Castro Mendes?
Bem, é um governo que apoio e que considero estar a ser positivo em muitas das suas ações políticas e económicas. Mas é também um governo que, se tem alguma política cultural, ainda não deu para se perceber qual seja. Creio que o problema fundamental é que, sem verbas minimamente adequadas, não pode haver uma política cultural minimamente proficiente. Tenho muita estima pessoal pelo Luís Filipe de Castro Mendes mas ele é um diplomata, e eu não sou. Ele tem uma notável capacidade de sacrifício, que eu não tenho. E penso que o melhor que qualquer ministro da Cultura poderia fazer pela cultura quando lhe não são atribuídas as verbas minimamente necessárias para implementar uma política cultural, seria demitir-se e explicar publicamente porquê.
Em principio será Marcelo Rebelo de Sousa a entregar-lhe o prémio, gosta da ideia, tendo em conta o seu passado gonçalvista?
O passado gonçalvista dele ou meu? Ou então o meu passado católico, por ter trabalhado com a Maria de Lourdes Pintasilgo… Não, mas a sério, terei nisso muito gosto e só me poderei sentir prestigiado. Não só porque Marcelo Rebelo de Sousa é um Presidente democraticamente eleito mas também porque tem sabido ser um Presidente democraticamente atuante. E além disso é mais atento à política cultural do que o governo tem sido…
Em 2018, ainda se revê na esquerda portuguesa?
Tem dias… Mas antes isto do que o seu contrário, como está a acontecer noutros países onde novas (ou não assim tão novas) formas de fascismo e de nazismo estão em crescimento, até quando recicladas de outros totalitarismos supostamente de esquerda.


















