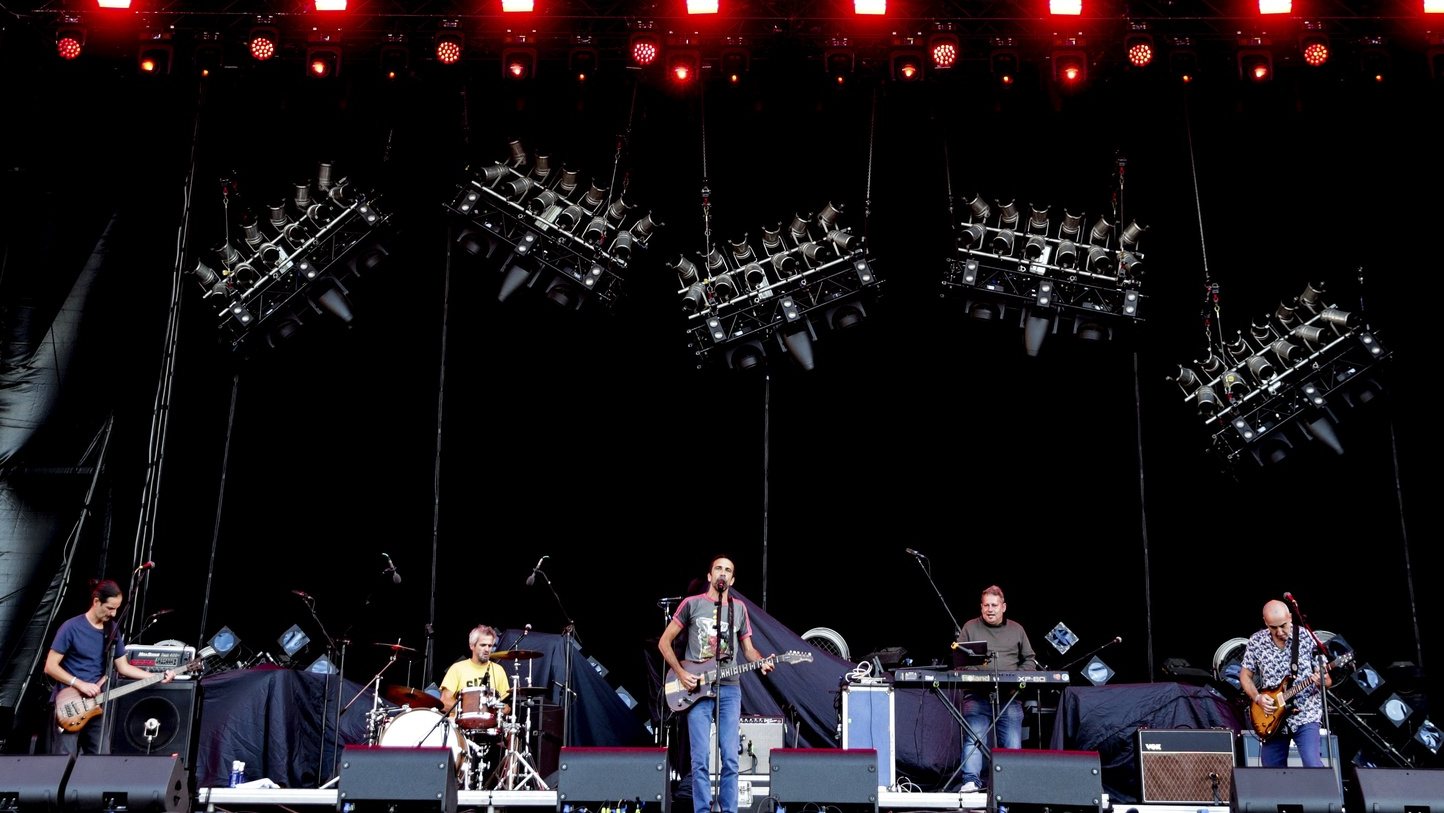Era o grande nome da noite e era percetível que muita gente estava ali sobretudo, se não mesmo só, para o ver. Percebeu-se logo às 22h, quando as luzes começaram a baixar e a música se começou a ouvir, logo em tons épicos, abrindo caminho à entrada de Michael Kiwanuka e a sua banda em palco. Mais tarde, ouviríamos este rapaz britânico filho de emigrantes do Uganda perguntar: “Estão prontos para ouvir música soul?”, mas nesse momento já ele tinha percebido certamente que sim, ao ouvir os gritos estridentes e as palmas e ao ver um Coliseu dos Recreios à pinha de gente, a suar as estopinhas.
Em estado de graça depois da edição de um álbum perante o qual a crítica (sobretudo do seu país) ajoelhou-se em devoção, mas que é na verdade o segundo disco de grande nível de Michael Kiwanuka porque o anterior (Love & Hate, de 2016) já merecia mais fama do que a que teve, o cantor e guitarrista fazia parte de uma comitiva de luxo. Além de instrumentistas (nas guitarras e na bateria), levou a Lisboa duas cantoras para os coros que aqui e ali se mostrariam também dotadas percussionistas de maracas e pandeireta.
O que ali aconteceu durante pouco mais de uma hora foi um festão de proporções adequadas ao estatuto de cabeça de cartaz: uma banda-comitiva inteiramente coordenada, sempre a tocar e cantar junta sem quase falhar uma nota, e gente a dançar como sabe e pode porque, enfim, com tanta gente o cenário não era assim tão diferente do metropolitano em hora de ponta.

Começou bem, com a pinta da soul-rock de “One More Night”, com o tom espiritual a ouvir-se naquele “Lord I believe it”, Senhor Eu Acredito, que convence até o maior dos infiéis cantado como pregão espiritual por Kiwanuka e coristas e tocado com aquele fervor pela banda. “Como estão Lisboa?”, poucas palavras e siga porque apesar do estatuto de cabeça de cartaz isto é um festival, o tempo está contado e não há canções a perder. É seguir porque há “na na na na na na na” do coro feminino, há pandeiretas e maracas, há guitarras a antecipar a entrada da voz de Michael Kiwanuka naquele registo meio resmungão meio cantor que come o final das palavras que às vezes lembra Van Morrison (estilo velho rabugento mas que canta com as entranhas), como nos lembravam e muito bem ao lado.
Ainda se ouvem mais canções do álbum anterior para nos lembrar que Love & Hate era mesmo uma obra-prima, com “Place I Belong” (e aquela bateria a marcar sempre o ritmo e o groove, classe com fartura) e com o portento-canção “Black Man in a White World” estendido, mais longo do que o habitual, a começar com palmas (na plateia e lá em cima, com Kiwanuka e as suas cantoras a darem o mote fazendo das palmas percussões durante boa parte da canção), a acabar com a guitarra ritmo rockeira que nos lembra que isto não é só soul tradicional. Acabamos todos a dançar e a cantar que somos um homem negro num mundo branco — nós, pálidos caucasianos na sua maioria, betos em tantos casos — e isso é mérito daquela comitiva que faz do pregão interventivo grito de festa e resistência.
Também repescada ao álbum anterior, “Rule the World”, deu à cantora de casaco preto o seu momento Whitney Houston, vozeirão “mas o que é isto?” que grita sem desafinar, antes do novo single “Heroe” mostrar-se boa carta de apresentação do novo disco de Michael Kiwanuka. Pena que o início mais sereno da canção tenha amplificado as conversetas na plateia, seguidas de “shhhh” ouvidos como pedido de silêncio. As conversas parariam logo a seguir porque o passado longínquo voltaria com “Tell Me a Tale” mas sobretudo com “Home Again”, o single acústico do cantor que o tornou famoso. Foi tocado com os holofotes de luz incidindo todos em Kiwanuka, telemóveis na plateia levantados, isqueiros erguidos e copos iluminados com a luz do smartphone, um novo coro na assistência a ajudar a uma canção rudimentar na letra e no arranjo mas em que a alma e a voz de Kiwanuka derreteram corações.
O ritmo ia variando, da quietude que provava que as jams também se podem tocar baixinho à pujança que mostrava que isto também é uma banda de aceleras que gostam de rock and roll. Antes do calor intenso nos levar para fora do Coliseu do Recreios, ainda ouviríamos a canção de bom bar ao fim da noite que é “The Final Frame” e uma fabulosa, mas dolorosa (auto-depreciativa ao osso, a ponto de se ouvir “I can’t stand myself”, não me suporto) “Cold Little Heart” que é seguramente uma das mais bem conseguidas canções escritas e gravadas nos últimos anos. Foi um grande concerto-festa, sem conversa de circunstância mas com uma banda que tem a soul no coração e o sangue a ferver no rock e que faz da música espiritual uma música de 2019 como poucas. Que festa esta, mr. Kiwanuka.
Luís Severo está crescido e até já toca José Mário Branco
Antes de Michael Kiwanuka, ouviu-se Sinkane no Coliseu dos Recreios mas foi impossível prestar a devida atenção a este interessante americano-sudanês. Culpe-se o concerto de Luís Severo no Teatro Tivoli BVVA, primeiro, e o percurso a pé Avenida da Liberdade abaixo depois, a resistência a este formato de festival degustativo — picar dez minutos de cada concerto e não ver verdadeiramente nenhum, em podendo é de evitar — até encontrar uma bifana, uma cerveja e umas chamuças vendidas como “ótimas” (não eram assim tão ótimas) numa banca de rua. Parece que agora isto é conhecido na gíria como “street food”.
Foi de Luís Severo o primeiro grande concerto que vimos esta sexta-feira, no primeiro dia do festival Super Bock em Stock — até porque antes, apanhámos apenas parte de um concerto de João Tamura que mostrou que o poeta-rapper tem ainda de trabalhar na passagem da sua música da solidão e contemplação do estúdio para o espaço performativo de um palco.
Antes do cançonetista português subir a palco, eram já visíveis os instrumentos de cordas que dariam um colorido diferente à atuação: violoncelo, harpa e contrabaixista. “Tenho a certeza que isto vai ser um concerto bonito”, vaticinava na fila à nossa frente um espetador, que conseguiu resistir herculeamente durante quase uma hora à vontade de “ir buscar uma jolazona” durante o concerto.
Foi bonito e foi especial. “É fixe estar aqui nesta sala onde já fiz um disco ao vivo, quando toquei aqui uma vez”, começou por dizer Luís Severo, recordando a atuação de 2017 neste mesmo festival. Começou sozinho, só ele à guitarra, algo bem diferente do formato voz e piano com que se apresentara no Tivoli há dois anos. Foi também ao disco que editou há dois anos que repescou as canções que interpretaria mais só à guitarra, como “Planície (Tudo Igual)” e “Amor e Verdade”, embora também tenha tocado assim a nova “Joãozinho”— para nós a mais bonita canção do seu novo disco, O Sol Voltou, e um bonito abraço a quem cresceu a sentir-se diferente, aos rapazes que cresceram sem jeito para “ser macho e jogar à bola”.

Só depois deste trio de canções é que Luís Severo apresentou os “convidados” que o cartaz anunciava sem revelar. “Nesta última semana e mais alguma coisa, foi uma coisa nova para mim tocar com pessoal que toca mesmo [a sério]. Soube-me mesmo bem”, atirava, meio a sério meio a brincar, revelando posteriormente que entre os três instrumentistas do contrabaixista, harpa e violoncelo estavam dois primos seus.
Foi já sem a guitarra, acompanhado só pelos três músicos que tinha em palco, que cantou em modo meio crooner, a canção “Rapaz”, também do seu novo disco. Foi percetível logo aí uma série de coisas, duas em especial: que Luís Severo não é um cantor excecional e isso nota-se em salas desta dimensão (mas a alma está lá); que escreve canções e letras como poucos — já começou também a compor para outras vozes e bem faria em fazê-lo mais regularmente; e que o tom das suas novas canções, mais sereno e sóbrio, menos alegre e rápido, casava na perfeição com a solenidade daqueles instrumentos de cordas.
Problema com um cabo ultrapassado, Severo e companhia atiraram-se a “Acácia” que tem o seu quê de inspiração fadista, sobretudo quando o autor de O Sol Voltou canta “e passa devagarinho / junto ao Campo Santana”. O pezinho ia batendo no chão para marcar o ritmo e era também assim — ou com o clássico “um, dois, três, quatro” — que os quatro em palco se entendiam para começar as canções coordenados.
É verdade que perdemos o concerto de Amaura no Capitólio, com pena nossa, mas como perder Luís Severo a cantar uma cantiga como “Maio” já com a guitarra e acompanhado por aquele trio de cordas, vê-lo aí a dar um passo atrás quando a voz não era imprescindível para tocar de sorriso na cara, corpo a bambolear ao som da música como quem tem noção da bonita canção que compôs? Como perder a hipótese de ouvi-lo cantar os versos “liberdade / só me reconheço em beijos teus” do tema “Primavera”, ou a oportunidade de o ver já no teclado, acompanhado pelos músicos, a tocar uma versão da lindíssima “Meu Amor” (este já um tema do disco anterior e homónimo, de 2017)? Na fila da frente, o espectador sedento aprovava com uma tirada direta ao ponto: “Muito bom, smooth“.
Haveria tempo ainda para mais cantigas novas como “Última Canção” — uma aposta acertada para fazer deste um concerto diferente dos anteriores e distintinto da atuação de 2017 que deu origem ao disco ao vivo Pianinho — e para um final em que os três instrumentistas de que harpa, violoncelo e contrabaixo estavam dispensados mas a que quiseram assistir em cima do palco. “Acho isso fixe”, dizia Severo, tocando sentado ao teclado a mais antiga “Cara d’Anjo” e a nova “Domingo”.
Foi então que Luís Severo levantou-se, largou o teclado, bebeu um gole de água porque o que aí vinha não era para brincadeiras, pegou na guitarra e disse: “Esta semana fomos todos assolados por uma notícia que não foi boa: a morte de um músico que foi muito importante, acho que para todos nós”. Referia-se, claro, à morte de José Mário Branco. Quis então fazer “uma coisa arriscada”, tentar a sua homenagem e foi à guitarra e com a voz que entoou a sua versão, nem sempre afinada mas sentida, de “As Canseiras Desta Vida”, mais uma canção de José Mário Branco que pode parecer simples mas tentem lá vocês pegar na guitarra, tocar aqueles acordes e cantar aquela sucessão de palavras, em especial aquela passagem “fim do mês é dia 30 / e a sexta é depois da quinta” e vejam se não estremecem em algum momento.
“O Sol Voltou” e Luís Severo chegou à primavera a cantar o mundo como um romance
Tensão dançante com as guitarras e saxofone de Nilüfer Yanya
Acabou o cabeça de cartaz Michael Kiwanuka e ouvia-se já um DJ a tocar funaná numa sala lateral do Coliseu dos Recreios. Havia quem ali fizesse tempo para o DJ set dos Friendly Fires, entre a cerveja no copo com nome da marca que patrociona o festival e os encontros com caras conhecidas — “há quanto tempo, pá!”. Mas faltavam uns 30 minutos para um outro concerto no Cinema São Jorge, onde ainda não tínhamos ido, e lá se foi fazendo a viagem a pé até lá a cima, em passo lento, a conversar sobre música, sobre o dia de concertos menos preenchido desta arranque, sobre as memórias das edições anteriores.
O cenário à chegada não era muito diferente daquele que se viu ali quando houve um concerto de Mahalia neste mesmo festival, também no Cinema São Jorge, ao fim da noite: uma fila longa e que só era contornada por quem estava por ali em trabalho, os restantes iam aguardando as desistências e saídas da sala, neste corropio entra-sai que é apanágio do festival.
A decisão foi boa, porque ver a jovem britânica (mas de pai turco e com mãe com ligações à Irlanda e aos Barbados) Nilüfer Yanya nesta ponta final de 2019 é ver uma artista em ascensão, que após uma série de singles e EP lançou há poucos meses um álbum que a colocou em definitivo no radar do panorama da boa música alternativa europeia.
É uma música difícil de decifrar, a de Nilüfer Yanya: parece sempre dançante mas nem sempre de forma óbvia, há nervo e tensão nas baterias e na guitarra mas também há serenidade jazzística trazida pelo saxofone, há indie-rock e há folk-rock esquizóide. Não se trata do protótipo da artista feminina que vai cantando amores e desamores em toada melancólica ou mais rockeira, mas com ecos tradicionais — pensemos em Angel Olsen, Julia Jacklin, Marissa Nadler que veremos este sábado, em tantas outras. É uma cantora cheia de pinta, cabelo encaralocado apanhado, roupa escura e guitarra elétrica nos braços que parece sempre andar à procura de uma combinação de notas e ritmos ainda por descobrir (já ouviram bem as guitarras de “Angels”?), usando a voz mais para harmonia do que para domínio sobre os instrumentos. Em alguns momentos as palavras parecem quase onomatopeias, a voz parece mais um instrumento que está a conversar com todos os outros.

Há canções com mais força rock — como “In Your Head” — mas o tom do concerto foi ligeiramente menos rockeiro do que aquele que é habitual em Nilüfer Yanya em formato festival de verão. Há aqui líbido disfarçada, uma voz que canta como se desafiasse os manuais e todo o concerto é marcado por essa tensão sensual levemente latenta. Fez-se do desconforto uma festa e se poucos se levantaram para dançar ao som do concerto, não faltou nem sit-dancing nem acenos de cabeça que aprovavam o que se estava a ouvir. Pareceu até que esta música resulta melhor em sala fechada e num concerto com lugares sentados do que ao ar livre e num festival de verão, mas é imperativo seguir o que Nilufer Yanya vai fazer de futuro. Se o presente, aos 23 anos, já é isto, o futuro é dela, basta querer.