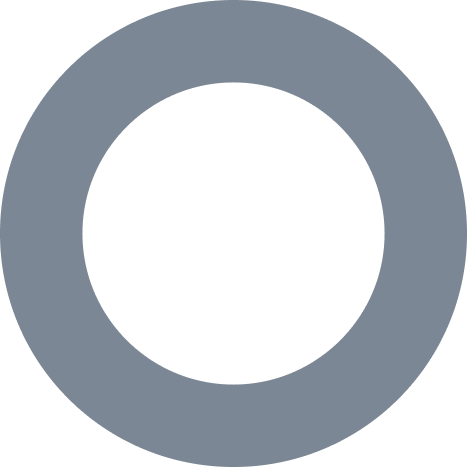Este artigo foi originalmente publicado no 9.º número da revista DDD – D de Delta.
Em 2019, falaste-me do teu novo projeto, a Orquestra Sem Fronteiras, que leva a música clássica ao interior de Portugal e de Espanha e apoia a fixação de talento jovem nesses territórios. O que é que te levou a ti, um jovem do litoral, a criar esta iniciativa?
Independentemente de sermos do litoral, das ilhas ou do interior, enquanto portugueses temos noção do que é Portugal nas suas assimetrias, na sua distribuição de oportunidades e naquilo que pode ser melhorado. Na área da cultura e da música clássica, conheço muitas pessoas que saem do interior para estudar e nunca mais voltam. Isso é uma pena. É uma área grande do país que fica desprovida do seu próprio ecossistema humano.
E como nasceu o projeto?
Surgiu como plataforma para potenciar os músicos que são do interior, para os agarrar à profissão nas suas zonas de origem. Em segundo lugar, para dar esta oferta cultural às pessoas que são dali. A nossa sede é em Idanha-a-Nova, o segundo concerto que demos foi em Campo Maior, que conheces bem, e no dia seguinte estávamos em Badajoz. O nosso eixo pretende ser este, raiano, fazendo a fronteira vertical entre Portugal e Espanha.

Foi no teatro São Luiz, em Lisboa, que Martim Sousa Tavares e Rita Nabeiro se sentaram à conversa.
Quais são os maiores desafios que encontras?
Nós trabalhamos com dezenas de câmaras municipais, já fizemos mais de 100 eventos. Aquilo que notamos é que há um “salve-se quem puder” nas câmaras. Não há uma filosofia de como programar a cultura, gerir espaços culturais ou articular esforços com outras câmaras. Sentimos quase sempre que temos de começar do zero. Passamos de uma câmara com vereador da cultura para outra em que estamos a lidar com um técnico superior que também se ocupa de encomendar balizas e cestos de basquete – porque desportos, tempos livres e cultura estão ali todos na mesma pasta.
Como se financia o projeto?
Procuramos nunca ter os ovos todos no mesmo cesto. Temos três mecenas e alguns apoios locais, mais pontuais. Os municípios que investem em nós estão a comprar um concerto de orquestra; fazemos um valor muito mais baixo para que as cidades possam entrar de forma confortável neste primeiro investimento na música clássica. Em 2022 encontrámos uma nova e inesperada fonte de rendimento, que é ganhar prémios. Este ano vencemos dois e somos finalistas em mais um. Já é significativo.

A Delta Cafés apoia a Orquestra Sem Fronteiras desde 2019, ano da fundação do projeto.
Fizeste Erasmus em Bolonha, uma segunda licenciatura em Milão e depois um mestrado em Chicago. O que te acrescentaram os seis anos que viveste fora?
Relativizaram tudo: a perspetiva que tinha de mim, do meu país, do meio de onde venho. Foi importante perceber quão conservadora foi a minha infância e os modelos através dos quais cresci – nos Estados Unidos, isso foi gritante. Foi lá que aprendi o que precisava de corrigir. Percebi que falta relativismo aos portugueses que dizem que Portugal é o melhor país do mundo. E aos portugueses que estão fora e só se queixam, se calhar já perderam noção do valor que Portugal, de facto, tem. Formei-me enquanto cidadão, enquanto pessoa que tem uma perspetiva sobre o seu país de uma forma intermediária que acho muito saudável e que gostava de não perder.
O que te fez regressar a Portugal?
Seria injusto se dissesse que rejeitei trabalho nos Estados Unidos para vir para Portugal, porque no estrangeiro só fui estudante. Quando disse ao meu professor, uma pessoa que tinha investido em mim, trabalhado comigo naqueles dois anos, que ia regressar, foi como se lhe tivesse dito que ia voltar para a aldeia. Nunca chegou a compreender aquilo. Ele era um homem russo, que saiu da União Soviética para ir para os Estados Unidos, sempre nesta lógica de estar com as melhores orquestras, com os melhores maestros, a conviver com os melhores solistas, nas cidades mais incríveis. De repente, tem este aluno que vem de Portugal, que está ali a estudar com ele, e que, no dia seguinte, o que quer é voltar a casa.
Um aluno brilhante, não precisas de ser modesto…
Se calhar isso também contribuiu para a desilusão dele. Acho que ele nunca compreendeu bem o que é que eu vinha fazer para cá – nem eu tinha de lhe explicar. Mas tive que explicar a mim próprio. “Será que vale a pena fazer isto?” Sentia que tinha as raízes cortadas, porque foram seis anos em que estive a estudar fora, e que voltava para o meu país sem grandes referências. Mas queria montar este projeto da Orquestra Sem Fronteiras.
Como fizeste?
Defini um prazo. Pensei: “Tenho as minhas poupanças e aguento um ano sem ganhar um tostão. E se vir que passado um ano está tudo em águas de bacalhau, acho que consigo recuperar a minha posição nos Estados Unidos. As pessoas ainda se lembram de mim, vai ser chato reconhecer a derrota, mas volto para lá e vejo o que acontece.” A verdade é que voltei [para Portugal] em setembro de 2018 – nós devemos ter tido essa conversa que disseste logo nessa altura – e em seis meses montei a estrutura da orquestra. Demos os primeiros concertos em março de 2019 e, a partir daí, foi um efeito bola de neve que nunca mais parou.
Não só voltaste para a “aldeia”, no entendimento do teu professor, como, de facto, foste para as zonas rurais de Portugal.
Exatamente.
Ouço dizer que há duas grandes fãs dessas tuas incursões pelo interior.
Sim! A minha mãe e a minha avó, que curiosamente é do interior, de Aldeia Velha, no concelho de Sabugal, distrito da Guarda, onde também já tocámos. Quando as pessoas me perguntam o que vou fazer para o interior, digo que o território não me é assim tão estranho. O Alentejo é a minha região espiritual em Portugal, é para onde irei quando me reformar. E dois dos meus avós são de Aldeia Velha, que tem algumas afinidades com Campo Maior. Creio que até havia pessoas que conheciam o teu avô, porque é uma zona por onde entrava tabaco e café em Portugal, nos anos 30, 40 e 50. São essas narrativas que fazem com que uma pessoa ganhe consciência de que o país não é só o triângulo do Chiado, Baixa e Avenida da Liberdade.
O teu projeto também me tocou por isso. Com as devidas diferenças, temos alguns pontos em comum. Um, que é incontornável, é o teu nome. És filho de Laurinda Alves e Miguel Sousa Tavares e neto de Sophia de Mello Breyner. São títulos pesados ou também ajudam a abrir portas?
Sempre me aterrorizou que as pessoas pensassem, de forma consciente ou inconsciente, que o que eu alcançasse se pudesse dever ao meu apelido. Quando estudava cá, assinava sempre “Martim Tavares”. Era muito tímido e fugia dessa carga. Só quando fui para fora é que comecei a assumir os dois apelidos, e voltei já com essa segurança.
Sentes que às vezes pode ajudar a abrir portas?
Honestamente, se abre portas também fecha algumas. O meu pai foi uma figura omnipresente no meu crescimento. Alguém que todas as semanas está a dar opiniões em prime time gera muitas inimizades. Passei por isso na escola, por questões de bullying ou de professores que se vingavam do meu pai através de mim. Portanto, sei que, se se abrem algumas portas, também se fecham outras. Mas se uma porta se fecha por esse motivo, então é uma porta pela qual também não quereria passar.

Com sete ou oito anos, pediste um cão à tua mãe e em vez disso ganhaste um piano.
Mas o cão também veio. Disse-lhe que o piano era fixe e tal, mas não era um cão.
Aquele presente marcou o teu percurso?
Imagina que me tinha dado um cavalete e uma tela. Se calhar estavas a falar com uma pessoa completamente diferente. É curioso que estejamos aqui ao lado da Sala Bernardo Sassetti, porque na altura foi a ele e ao José Pedro Gil que a minha mãe contou que me ia dar um cão. Os dois responderam “Um cão? Estás maluca, tu não és pessoa para cães, dá-lhe antes um piano.” Se em vez daquelas duas pessoas ela tivesse falado com um escultor ou com um desenhador, se calhar teria sido diferente.
Que outros interesses despontaram na adolescência?
Fazia um bocadinho de tudo: escrevia, fotografava, desenhava, tocava. Esses interesses entretanto atrofiaram. Agora sou só um consumidor destas formas de arte e pratico apenas uma delas.

Sobre regressar a Portugal, o que achas que é preciso fazer para que os jovens que vão para fora queiram voltar?
Acho que nem é tanto uma questão do que o país pode fazer em termos legislativos. Acho que a grande chave disto é reconhecer valor aos jovens. Muitas vezes – para não dizer a esmagadora maioria – tu és penalizada por seres jovem, porque não podes aceder àquele lugar, não podes aceder àquela oportunidade, porque “ainda te falta comer muita sopa de feijão”. “Cresce e aparece” e essas coisas todas. Muitas áreas estão a encolher porque estão presas numa visão velha que não se adapta ao mundo contemporâneo, que não sabe ler os sinais, que não tem respostas nem ferramentas para as dar. Nesses casos, a chave para reavivar as coisas seria precisamente ter uma visão jovem. Claro que há pessoas que aos 50 anos se mantêm jovens e frescas: a minha luta não é geracional, de só querer trabalhar com pessoas abaixo dos 30 anos.
“Muitas áreas estão a encolher porque estão presas numa visão velha daquilo que faziam que não se adapta ao mundo contemporâneo, que não sabe ler os sinais.”
O que é que devia mudar?
Sinto que há este desprezo pelos jovens, esta ideia, como se fosse uma academia militar, em que começas a lavar o chão na cantina e depois disso é que podes não sei quê. Se formos pela meritocracia imediata, e por dar resposta às oportunidades que temos, então os jovens são uma força importantíssima. O que não tira o lugar àqueles que são mais veteranos ou mais sabidos, porque a experiência também é importantíssima. Acho que se complementam. A valorização dos jovens é o primeiro fator para que sintam que têm lugar em Portugal.
O que tem de diferente a tua abordagem à música clássica, no sentido de a rejuvenescer?
A música clássica é o meu saco de pancada, basicamente. Já lhe dei de todas as formas e feitios, tanto na forma como ela é comunicada para fora e é entendida pelas pessoas que não fazem parte dela, como por dentro, a tentar subverter algumas estruturas de poder e formas de organização das entidades que programam música clássica. Tenho tido a sorte de me convidarem. Faço um trabalho de certa forma revolucionário na Orquestra Sem Fronteiras, que até achei que me ia queimar um bocadinho, porque não fazemos audições, porque faço questão de tocar nas aldeias, esse tipo de coisa. A verdade é que a Orquestra Clássica do Sul me quis para maestro titular, portanto, no fundo, eles querem ser um saco de pancada.
Nos teus concertos, fazes por incluir sempre peças que não sejam apenas de “compositores homens, brancos e mortos”. É importante inovar na música clássica e arejar as salas de espetáculos?
Claro, é a questão da auto-representação. Há uma frase de Karl Marx muito polémica que diz que quem não se consegue representar deve ser representado. Ou seja, se tens um grupo de pessoas que por si só não tem voz, não consegue representar-se, então arranjemos alguém que perceba o que eles são, o que eles querem, e que os represente. A música clássica faz um bocadinho isso: decide por ti o que tu queres ouvir, o que é bom para ti. Isto não funciona assim. Se tu souberes o que existe, no Natal não vais querer O Quebra-Nozes pela 25.ª vez consecutiva, vais querer outra coisa.

O que é que proporias para o Natal?
Depende para quem fosse e onde, mas gostaria de fazer um programa de Natal que não recorresse a esses clássicos, que falasse dos natais do mundo por exemplo. Afastava-me da versão da catequese da vaca e do burro na manjedoura e tentava encostar-me aos valores natalícios, como a solidariedade.
Tanto dás espetáculos em centros desportivos de uma aldeia como na discoteca Lux, em Lisboa. É mais uma forma de desconstruir esta concepção da música clássica?
Sem dúvida, foi mais um dos tais testes de stress. A Boca do Lobo foi uma temporada que fizemos no Lux, e foi incrível. Foi das coisas mais divertidas que fiz. Para mim, foi uma surpresa – mas, visto agora, não devia ter sido, porque lidei com mentes abertas. Se aquilo fosse numa instituição de música clássica e eu fosse para lá com aquelas ideias, ficava logo tudo a pensar “Mas como assim, não há lugares sentados? Como assim, o bar está a funcionar?” Por ser uma discoteca, isso nunca foi um problema. Adorei essa experiência, foi uma grande aprendizagem.
Qual é o maior desafio que sentes na direção de orquestras?
É lembrar-me daquilo que aprendi. Já faço tantas coisas diferentes, que quando chega o momento de me concentrar a estudar uma partitura para preparar um concerto, é como se estivesse a tentar aceder a uma pessoa que eu já fui mas que deixei de ser, porque já não sou só aquilo, exclusivamente. Quando estudava direção de orquestra, eu só estudava aquilo – era a minha vida. A minha wishlist da Amazon era só partituras, nada mais. O meu desafio hoje em dia enquanto maestro é esse: voltar a ser maestro no sentido estrito.
Dizes que a arte é muitas vezes vivida como um analgésico, mas que também nos podemos relacionar com ela de forma ativa. Que em vez de ser um ponto de fuga, pode ser um ponto de encontro que nos desafie a pensar em comunidade. Como?
A arte como analgésico, de forma estereotipada, entendo que é quando chegas a casa depois do trabalho, metes o frango no forno e pões uma música clássica para te ajudar a não pensar em mais nada, abres a tua garrafa de chardonnay e acabou o dia. Não há nada de mal nisso. Mas se calhar aquela música que estás a ouvir tem muito mais sumo do que simplesmente ser o pano de fundo de uma cabeça ocupada que quer descansar. A arte enquanto ponto de encontro é, em vez de ires a um concerto para descansares os olhos ou os ouvidos, ires lá para saíres ainda mais inquieta. Esteve agora em cena no São Luiz um espetáculo incrível a partir d’A Odisseia, de Homero, que é uma narrativa de errância, de uma pessoa que nunca mais consegue chegar a casa. A encenadora trabalhou com refugiados, pessoas cuja vida é essa errância. Isto transformou-se num espetáculo em que tu vais fazer tudo menos descansar: tu vais ali ser agitada, ganhar uma inquietude que não tinhas. Tens essas duas formas, uma não anula a outra e uma não é melhor do que a outra. Só defendo que existe esta: um ponto de encontro.

Há muitas coisas que se passam em salas de espetáculos que passam ao lado da maior parte da sociedade. Como é que se constrói um hábito de consumo cultural?
Acho que a cultura tem de se tornar mainstream. Isso significa mudar o chip em muitas áreas em que até há uns anos era quase de bom tom não nos misturarmos com as pessoas. Há esta ideia de que se a arte for para todos, então não é arte. Acho que temos de conseguir chegar a uma zona de encontro, senão vamos sempre ser um nicho. Estreei agora um programa na rtp2 e recebi o relatório do share; disseram-me que “correu super bem” e teve 0,8% do share naquele momento em televisão. E eu penso: “Ok, isto é super bem? Então o que é super mal?” Temos mesmo de conseguir empurrar a cultura para fora de portas, porque senão não chegamos longe.
Com a tua exposição recente em programas de televisão como os Ídolos, as pessoas acabam por te conhecer. Sentes que agora tens uma voz mais ativa?
Sim, eu fiz os Ídolos porque sabia que agora ia estar na RTP2. Vi aquilo como uma excelente porta de entrada para a casa das pessoas, a fazer uma forma de música que admiro e defendo – estive lá com todo o coração e repetia amanhã, se houvesse nova edição –, sabendo que pela minha forma de falar e pelos valores que trago, que pode haver pessoas que depois me passam a seguir. É como se fosse uma armadilha que eu montei: elas chegam e eu pumba, fecho o alçapão [risos]. E tenho imenso feedback de pessoas que dizem que não sabia quem eu era antes dos Ídolos e que adoraram descobrir o meu trabalho. E para mim é indiferente se vão ver a minha orquestra ou a do lado: o que é importante é que tenham adquirido um gosto que antes não tinham.
“O meu sonho é conseguir deixar de trabalhar. Nasci para o ócio, não posso fazer nada em relação a isso. Preciso mesmo de ter tempo livre, senão sinto que vou definhar.”
Com tantos projetos em curso, imaginas-te mesmo a reformares-te aos 35 anos e a mudares-te para o campo?
Eu adoro o que faço, mas não adoro trabalhar. Não sou um workaholic. Quando faço horas a sério de trabalho é porque estou a ser empurrado pelas circunstâncias, porque me meti em coisas a mais, e arrependo-me. O meu sonho não é virar monge tibetano e viver com pouco de forma frugal, mas é conseguir deixar de trabalhar. Aquela noção de trabalho, de labor, reconheço-lhe imenso valor, mas eu nasci para o ócio, não posso fazer nada em relação a isso. Preciso mesmo de ter tempo livre, senão sinto que vou definhar. Essa ideia de me reformar aos 35 se calhar não é bem reforma, é mais uma sabática. Qualquer coisa em que eu consiga parar um bocadinho, hidratar-me de ideias, e depois voltar a fazer coisas.
É importante parar, sobretudo para um criativo.
Sim. Parece uma anedota, mas eu tenho isto tudo planeado. Vou estar agora na Orquestra Clássica do Sul, é o único contrato mais longo que tenho, e ele acaba no mês antes de eu fazer 35 anos. Vou encaminhar tudo para que naquele momento eu possa sair de cena só por um bocadinho.
Onde gostavas de estar daqui a 30 anos?
Acho que gostava de estar numa posição de liberdade. Sei que há sempre um perigo à espreita nestas profissões, que é entrares para o sistema. Isto é, para as estruturas de programação e direção de teatros, os ccb da vida. Começas a fazer uma vida mais de gestão de direção artística e menos de artista, que no fundo é um freelancer, uma pessoa que tem trabalhos ad hoc. É nisso que me revejo e o meu medo é deixar de ser esse artista ad hoc e, de repente, dar por mim num escritório ou um gabinete. Gostava de daqui a 30 anos continuar com uma agenda assim meia caótica de coisas avulsas que vou fazendo, porque é a minha forma preferida de viver.
Como gostarias de ser lembrado?
O que é que vai dizer o meu obituário? Sei que vai dizer “maestro” porque as pessoas adoram – e eu não as culpo, “maestro” é uma excelente etiqueta. Gostava que fosse difícil para quem vai escrever aquele obituário decidir em que ordem pôr as coisas. Foi o que aconteceu quando morreu o Bernstein: ele era pianista, compositor, maestro, comunicador, autor? Não sei, era muita coisa. Felizmente, ele nunca se preocupou com as etiquetas, foi mais rápido do que a sua própria sombra. Gostava de deixar esse trabalho para quem vier fazer o meu obituário.