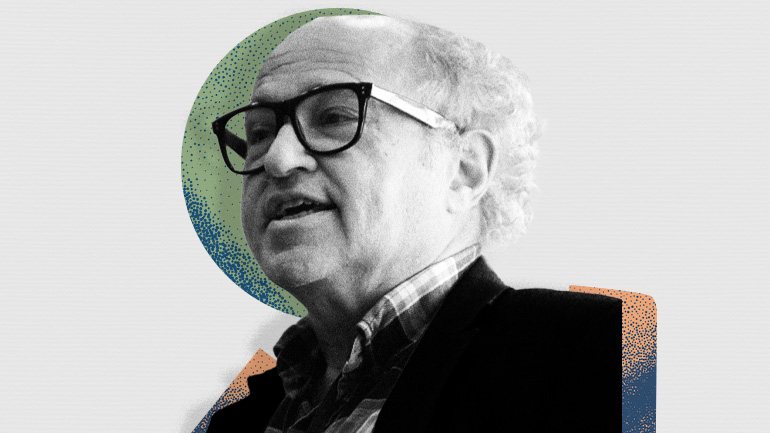Ricardo está a olhar de frente para a câmara. Não sabemos de onde vem nem o que fez para estar no Estabelecimento Prisional de Caxias. Os olhos revelam um desconforto de quem já não sabe encarar o outro. Do homem preso pensa-se que não quebra, que é duro de roer, violento. Ricardo não é assim. Ou não se revela assim. “Sinto falta de um abraço”, conta. A falta de carinho está entranhada. Dos amigos, da família, dos cães. Resta a almofada. Este ano, segundo o Mecanismo Nacional de Prevenção da Provedoria de Justiça, quase 70% das prisões portuguesas estão com lotação “de alto risco”. Dois terços dos estabelecimentos prisionais portugueses têm uma ocupação superior a 90% (33 de 49). A de Caxias, uma das prisões de menor grau, onde muita gente cumpre prisão preventiva, a percentagem chega aos 111%. Em março deste ano estimou-se que cerca de 12.409 pessoas estão presas em Portugal.
Sobrelotação, falta de alojamento digno de reclusos e poucos ou quase nenhuns técnicos de reinserção para tão grande número de pessoas presas. Ricardo faz parte destas estatísticas. E faz também parte da série de doze episódios, “Fechado”, da Vende-se Filmes, realizada por João Miller Guerra, Filipa Reis e Pedro Cabeleira, em parceria com o programa Partis da Fundação Calouste Gulbenkian e com Teatro do Silêncio. Contou ainda com a World Academy e com o sociólogo, investigador e membro do Observatório Europeu para as prisões Ricardo Loureiro. Um espreitar muito humano sobre a vida de vários reclusos, que é, nada mais, nada menos, do que um exercício de empatia.
[o trailer oficial da série “Fechado”:]
Este projeto começou a ser desenhado em 2011. Já lá vão mais de doze anos mas, na altura, Filipa Reis e João Miller Guerra deram de caras com um grande número de restrições legais que impossibilitaram a hipótese de entrar num estabelecimento prisional português. Acabaram a produzir a série Liberdade, de cinco episódios, para a RTP1, que fala sobre cinco histórias de quem vive, de alguma forma, condicionado. Apenas uma das pessoas entrevistadas tinha uma condição semelhante à de Ricardo: estava em prisão domiciliária com pulseira eletrónica.
Surge então o programa Partis, da Fundação Calouste Gulbenkian, que apoia organizações que desenvolvam projetos na área social e artística, e é aí que a dupla de produtores — e autores de um dos filmes portugueses que esteve em Cannes este ano, “Légua” — começa a produzir e a realizar Fechado. “Já trabalhámos noutros anos em contextos periféricos e complexos, como na Amadora, por exemplo, onde nos cruzámos com personagens ou familiares que já tinham estado presos. Essa questão da liberdade começou a ocupar espaço no nosso trabalho. Quando surge o Partis e nos associámos à RTP, decidimos iniciar uma série de formações, onde estas pessoas falam de si, visitam a sua identidade. Juntámo-nos à Maria Gil e à Sofia Cabrita do teatro Silêncio, fizemos ateliers, puxámos o Pedro Cabeleira e pedimos ajuda às assistentes sociais para fazer uma triagem, uma vez por semana, de quem ia participar na série”, revela Filipa Reis.
O processo parecia bem encaminhado, especialmente tendo em conta que se trata de uma área sensível a nível nacional, mas os problemas começaram a surgir, tal como há 12 anos. Logo a abrir o primeiro episódio, somos presentados com uma lista de restrições ou de filmagens “não autorizadas”. De um interno a pesar-se na enfermaria, de uma despedida de um colega de cela a sair em liberdade, de uma visita de um advogado ou até de guardas prisionais. Sempre a mesma resposta: “não autorizado”. Antes, foi preciso criar uma relação com cada um dos reclusos em dois grupos baseada nas várias formações. O problema acabou por ser o mesmo de 2011.
“Foram quatro anos para fazer a série, durante a pandemia o projeto foi ainda mais desfeito. Uma das poucas coisas desse período foi que vários presos foram libertados, ou seja, uma grande parte do nosso grupo saiu. Voltámos ao grau zero de intimidade. Durante as filmagens recebemos uma série de nãos. Tínhamos uma sala e pouco mais. Alegaram tudo para não filmarmos mas nenhuma dessas alegações me convenceu”, confessa João Miller Guerra. O também realizador não tem dúvidas de que essas limitações partem de “uma enorme vergonha porque se sabe que, noutros países, as prisões não estão no estado das nossas”. Com “edifícios velhos, prisões que levam pessoas à loucura e com reclusos que, quando saem cá para fora, têm o rótulo de ter estado preso”. No fundo,”a prisão é um lugar de esquecimento”, refere.
Nos doze episódios, cabem várias histórias de Caxias. É o lado humano que mais importa, defendem os autores do início ao fim na conversa com o Observador, o que faz com que nunca saibamos o porquê destas pessoas estarem presas. Pode ser uma decisão polémica, mas é assim. A história de Ricardo e da sua falta de abraços; do Rasta, que ficou com uma das suas maiores cicatrizes depois de lhe terem rapado as rastas presas ao corpo há quinze anos; a de Pedro, que reza sozinho na WC e faz jejum da meia noite ao meio dia; ou a da Daniel, homem com uma infância e juventude normal que ficou comprometida com a entrada das drogas no seu universo. Sabe que “o que fez não tem desculpa” mas quer perceber porque é que não consegue obter uma saída precária. Essa intenção espelha-se numa cena em que Daniel está a consultar o seu processo. Ao ver, ponto por ponto, o que é necessário para sair, fica quase sem chão. Na sua perspetiva, cumpre todos os critérios. “Ando a estudar isto”, diz para outro recluso. O tempo é lixado mas tempo não falta dentro de Caxias.
Nunca esteve em causa fazer uma denúncia da complicada situação dos estabelecimentos prisionais em Portugal, dizem-nos. “Claro que há muitas queixas a fazer porque não existem condições, mas o que nos interessava era o significado de estar preso, de conhecer os indivíduos, de falar das cicatrizes do corpo, de como cortar o cabelo é retirar uma parte da história destas pessoas. Quando humanizamos, vemos que está uma pessoa à nossa frente, além do criminoso. Criamos empatia”, argumenta Filipa Reis.
Essa empatia andará a viajar em Fechado um pouco por todo o lado. Até porque, com as inúmeras restrições de acesso, e sem ser em séries ou filmes de ficção, é muito complicado conhecer a realidade de uma prisão. A não ser para quem tem um familiar preso, um dos dados apontados por João Miller Guerra para defender a ideia de que a juntar à falta de condições dentro da prisão, existe um trágico lastro familiar que atira muita gente para dentro de uma cela.
Nos diferentes episódios, seguimos então para a barbearia, para o ginásio onde se tenta salvar o corpo e a mente, as celas, casas de banho, cabines telefónicas e as negociatas que existem na hora de decidir quando fumar, comer ou dormir. Tudo tem regras e é preciso segui-las para se sobreviver. Tal como a discussão de Daniel sobre o seu processo, também há quem reflita sobre a violência de que foi vítima, a violência que causou e aquela que ainda sofre. Olha-se igualmente para a família — “estamos presos com quem está preso” — e para os poucos momentos de lazer que permitidos a um recluso: jogar Playstation. “Um gajo está preso mas não está morto”, ouve-se.