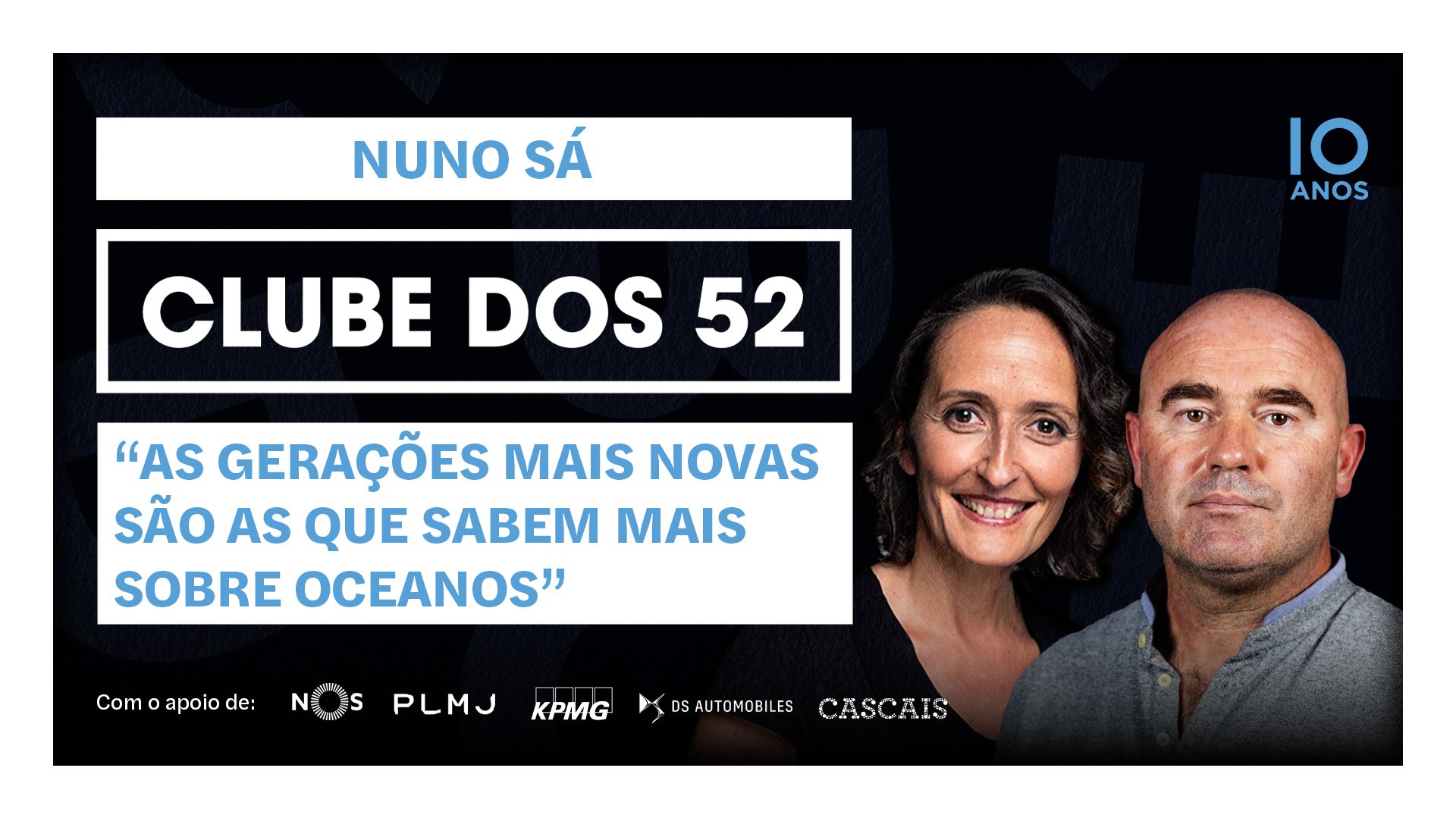Quando há dez anos criaram Cascas d’Ovo, a primeira peça em conjunto, muito dificilmente os coreógrafos Jonas Lopes e Lander Patrick imaginariam estar agora celebrar um percurso em parte assente na notável comunicação telepática gerada entre os dois criadores – e que dava mote, precisamente, a essa primeira obra. À época, foi esse mesmo intuito criativo partilhado que os levou a iniciar um percurso singular, pejado de originalidade e de grande frescura, que rapidamente os colocou no panorama da dança contemporânea como dois nomes a reter para o futuro. Passada uma década, o motivo é de celebração: irão voltar a apresentar este mês de setembro Cascas d’Ovo (dias 22 e 24), mas também a peça Lento e Largo (dia 29) e a instalação-performance Coin Operated (22 e 24), no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
Mas mais do que celebrar um percurso, dez anos servem também de mote para uma reflexão sobre o que já alcançaram e o que está por vir. De momento, explicam, o trabalho que fazem é cada vez mais pluridisciplinar. Nessa exploração sem fronteiras, convive a dança com a música e as artes plásticas e, chegados à “era do movimento”, como frisa Jonas Lopes, as suas peças são reflexos astutos do tempo que vivemos. Partiram de lugares diferentes. Jonas do fado (onde agora se está novamente a lançar como intérprete) e Lander do desporto (era federado em voleibol) para chegar à fisicalidade inerente das artes performativas. Encontraram-se na dança, chão comum e espaço de elo emocional, que não mais os separou. Em entrevista ao Observador, os dois coreógrafos – protagonistas de um trabalho coletivo que já se tornou uma marca de água para a nova geração de criadores nacionais neste domínio – dizem ter chegado a um momento de pausa na criação conjunta, onde a convivência artística estará sempre presente.
Abordam o seu processo criativo, a necessidade de formar públicos e programadores para a dança, mas também o que falta para melhorar a circulação das criações nacionais. Dizem-se entusiasmados com o futuro. “Acho que nunca vamos deixar de trabalhar juntos, porque a vida e a arte cruzam-se. (…) Mas esta colaboração acontece 24 horas por dia, porque nós estamos sempre a partilhar tudo o que nos vem à cabeça em primeira mão e ninguém me compreende como ele e vice-versa. Este explorar de novos campos também está a ser muito interessante para nós”, explica Jonas Lopes.

▲ "Cascas d’Ovo" volta a estar em palco, agora no Centro Cultural de Belém, entre os dias 22 e 24
Mariana Lopes
O que é que significam estes dez anos de percurso?
Jonas Lopes (JL) – É impressionante o que aconteceu em dez anos. E às vezes, quando fazemos esse exercício de recuar, de pensar onde é que estávamos… foi muito impressionante o que aconteceu nas nossas vidas e como mudaram. Foi um caminho bonito. Como é que mudamos e crescemos juntos e onde estamos hoje. Estamos numa fase ainda mais pluridisciplinar do que antes. Estou também a lançar-me um bocadinho na cerâmica. O Lander a mergulhar muito na música, com uma série de novas paixões. E estamos a fazer uma pausa de cocriação. Continuamos obviamente a trabalhar juntos, mas esse exercício tem nos levado a apresentar peças muito diferentes.
Lander Patrick (LP) – Já fizemos uma coisa semelhante este ano, num festival em Itália, onde apresentámos vários espetáculos que representam esses dez anos. De facto, sim, temos a memória de cada espetáculo, da atmosfera, mas uma aproximação deles, desta maneira, e no espaço de uma semana, encurta distâncias e passámos a analisar alguns aspetos de forma diferente.
São adeptos de balanços?
JL – É mais uma celebração do que um balanço. Não é tanto uma retrospetiva, uma coisa biográfica. É mesmo uma celebração, porque realmente aconteceu muita coisa. Conhecemos gente incrível que nos tem apoiado imenso. Este caminho não foi feito só entre nós os dois. Há uma gratidão enorme pelas pessoas todas que trabalharam connosco e que nos influenciaram. As peças são feitas com materiais também de bailarinos, de uma equipa criativa e de produção. É mais uma celebração de tudo isso do que propriamente um ato biográfico ou de retrospetiva.
LP – Também é um ato biográfico, mas não nessa ideia do balanço. É mais pelo seu lado celebratório e não tanto pelo lado analítico, digamos assim.
Foi precisamente há dez anos que fizeram Cascas d’Ovo, a vossa primeira criação conjunta. Já eram um casal nessa altura, mas ainda não criavam juntos. Como é que se deu o clique?
LP – Fomos movidos por uma vontade utilitária. Queríamos ir a Itália, queríamos participar no festival de uma amiga, algures perto de Nápoles. Foi esse o motivo pelo qual começámos a fazer o Cascas d’Ovo. Não tínhamos qualquer projeção de estreia ou de continuar.
Surgiu de forma totalmente espontânea.
LP – Acima de tudo, surgiu sem a projeção de ser outra coisa.
JL – Não conhecíamos o que é que existia no meio internacional e mesmo nacional de dança contemporânea. Não existia esse desejo. Quando comecei a estudar dança, nem sabia muito bem porque é que estava a estudar aquela área, até porque já trabalhava há muitos anos em teatro e já tinha feito imensa coisa. Aliás, não consegui acabar o curso porque já estava a trabalhar muito… depois começámos a trabalhar e a coisa ainda se intensificou mais. Não tínhamos expectativas nenhumas. Aquilo foi tudo uma surpresa. Aconteceu com o “Cascas d’Ovo”. Calhou ser a primeira. Entretanto, o Tiago Guedes viu-nos e disse que gostava de coproduzir. Fomos para o Cabeço das Pias, em residência.
E não mais pararam.
LP – Nesse local onde mostrámos a peça havia um slogan que dizia “ou és bom ou és rápido”. Convidavam artistas para fazer apresentações de seis, sete minutos e foi nesse contexto que ele e outras pessoas nos viram pela primeira vez. Depois as coisas foram acontecendo em cascata.
JL – Daí fomos logo para a plataforma Aerowaves e é também nesse período que surge uma relação muito íntima com o Espaço do Tempo, do Rui Horta, por exemplo.
Conjugaram-se elementos que fizeram com que fosse natural continuar esse processo?
LP – Há qualquer coisa de suave no facto de não haver projeção quando estamos nesse caminho. Eu próprio tinha acabado de sair da escola superior de dança e estava focado em ser um bailarino. Tinha aqueles sonhos de entrar numa companhia de repertório. Portanto, tudo isto era meio que um desvio, mas que nos permitiu fazer as coisas com uma certa errância.
O Jonas já estava ligado ao teatro e o Lander já dançava, mas tinha sido o deporto, em concreto o voleibol, a primeira paixão. Como é que ambos desaguam na dança?
JL – Sempre tinha gostado muito de dança, quando comecei a estudar no Chapitô, em 2002, tive duas professoras muito fortes de dança, a Amélia Bentes e a Sofia Borralho, que me incentivaram muito. Desde aí sempre fiquei muito ligado à dança. Também tínhamos acrobacia e circo… era uma escola muito rica em teatro físico e sempre foi um aspeto que esteve muito presente. Só que eu queria ser cantor, porque o canto era o talento que ofuscava todos os outros. Ninguém pede para dançar num jantar ou numa festa de amigos, só para cantar. Quando entrei para a Escola Superior de Dança já tinha 21 anos, era quase um deadline, já estava a lançar o meu primeiro álbum e não sabia muito bem porque é que estava a fazer aquilo. Pensava que quando começasse uma carreira como fadista teria de deixar a dança de lado… Isso não ia acontecer quando surgiu a visão de recuperar o fado batido, o ato de se bater o fado, que está agora na nossa mais recente criação, o Bate Fado. Atualmente, não só acho que não vou desistir da dança, como não posso, porque já nem faz sentido.
Os dois mundos estão juntos.
JL – Já não faz sentido ser só fadista e fazer um concerto estático. Gosto desta adrenalina da dança, até pelo risco e pela exigência. Sem saber muito bem, só na nossa última criação é que se revelou o porquê de, há dez anos, ter entrado numa escola de dança.
A história do Lander é bastante diferente.
LP – De facto, eu estava ligado ao desporto em Santa Maria da Feira. Era federado em voleibol e acho que isso me trouxe uma ideia de espírito de equipa. Uma espécie de psicologia de grupo, do lado coletivo, a celebração dos pontos do jogo, aquela coisa de puxar para a frente a equipa. Entretanto desanimei, sabia que não era com aquilo que ia viver e comecei a integrar uma companhia amadora, que fazia teatro e dança, chamada Companhia Persona. Foi basicamente o ponto de viragem para mim. Comecei logo a trabalhar com um grupo e num espetáculo, curiosamente, sobre flamenco eletrónico.
JL – O meu primeiro espetáculo profissional de dança também se chamava Tablao de Fado, da Companhia Amálgama, justamente sobre o fado, que era a minha paixão.
LP – No meu caso, era uma companhia que estava na situação de se profissionalizar, de se assumir na cidade e ao fazermos este espetáculo houve logo uma exigência de trabalho, o que foi muito interessante para mim, porque eu tinha o espírito do voleibol, que às vezes é de matilha e fui para algo que mantinha essa alta exigência. Experimentei várias coisas, mas com o fim do secundário, entrei em crise. Dizia “o que é que eu vou fazer na minha vida?” Tinha entrado num curso de Línguas e Literaturas em Aveiro, mas estava inquieto. E depois comecei a pensar no que me fazia feliz e foi aí que voltei a pensar na dança e no teatro. Decidi-me pela dança porque queria viajar muito…

▲ A provocação e a ironia são elementos que também fazem parte do espectáculo "Lento e Largo"
Dajana Lothert
Por vezes o útil junta-se ao agradável.
LP – Sim e na verdade fui para Literatura, porque queria relacionar-me com várias pessoas, viajar, conhecer culturas diferentes. Queria abrir a minha cabeça e isso era uma urgência.
Coincidem na Escola Superior de Dança, onde se conhecem?
JL – Sim. Quando entrei o Lander estava a acabar o curso.
Como é que é funciona o vosso processo criativo. Quem faz o quê? Há, certamente, inputs distintos…
JL – Cada peça teve um trajeto muito diferente. O Cascas d’Ovo era o Lander que estava a dirigir. Nessa peça, o ponto de partida era uma ideia de telepatia, de relação entre corpos. Por exemplo, a Adorabilis foi a primeira peça que cocriámos 50-50, o ponto de partida era este: não há nenhuma ideia que possa ser recusada e todas as ideias que temos seriam para experimentar em estúdio na ótica de “ver o que acontece”.
LP – Tentámos criar um labirinto de ideias. São dois cérebros a tentar puxar o leme e o objetivo era o de um não bloquear o leme do outro, ou seja, participar na sua proposta e avançar.
JL – Em algumas peças os elementos vão-se desenvolvendo e ganham vida própria na criação. E é curioso porque somos duas cabeças, há muita negociação e discórdia, mas realmente, a dada altura, a peça começa a tornar-se clara, no que faz mais ou menos sentido, e ganha vida própria. No Adorabilis, houve uma altura em que já nos sentíamos a correr atrás da peça, porque ela — essa especialmente — ganhou uma velocidade e uma vida próprias. No Bate Fado foi muito curioso porque senti que estava a trabalhar com o Lander e com o fado, que era outra entidade. Foi uma cocriação a três. Temos esta regra de experimentar tudo até que as coisas começam a ganhar vida própria.
Acontece o mesmo já no trabalho com um coletivo de bailarinos ou é mais uma transmissão das vossas ideias?
LP – Há um pouco de tudo. É claro que temos de nos articular bem, para não estarmos só a fazer um ping pong de ideias. Tentamos sempre criar um ambiente em que as pessoas se sintam em casa. É uma relação, acima de tudo, de matilha, para que cada um se sinta confiante para se exprimir, para ser absurdo, para ser ridículo ou somente para se divertir. Gostamos muito de investir nos processos. Ou seja, quando o processo corre bem, trabalhamos muito depressa e investimos a fundo nas ideias.
JL – Também fazemos improvisações. Temos muito material que vamos passando. Estudamos muito o movimento em frente ao espelho, pensamos na questão corporal e no que é que aquelas figuras transmitem, e damos espaço para improvisações, mas com inputs fechados. Acho que às vezes é um bocadinho maçador trabalhar connosco, porque somos muito control freaks, desde a luz ao figurino, até ao movimento.
Até o desenho coreográfico acaba sempre por ter as suas fronteiras.
JL – Mas há pessoas que confiam mais e, às vezes, até o resultado que vem no figurinista é melhor do que eles esperavam. Acho que é difícil isso acontecer nas nossas criações, pelo menos não tem acontecido. Normalmente, já temos ideias tão marcadas que às vezes a própria equipa criativa queixa-se que tem pouco espaço de execução.
LP – E em relação à dança, acho também que passamos fases diferentes. Numa primeira fase, damos muitos inputs e partilhamos essas ferramentas de curiosidade. O cheiro, o toque… Ou seja, em que direção vamos farejar o movimento. Quando isso começa, nessa primeira fase dos processos criativos, em que toda a gente está mais ou menos na mesma página, as contribuições de cada pessoa são uma verdadeira fonte.
Veem-se como coreógrafos ou sentem que há também uma reflexão a fazer na forma como olhamos para estas categorias?
LP – Acho que nem pensamos nisso. Se tiver de dizer qual é a minha, vou dizer que sou coreógrafo e bailarino… é uma área especial, no fundo as artes performativas permitem tanta coisa. Às vezes estamos só a fazer coisas muito técnicas de luz ou de edição, mas a coreografia em si é pluridisciplinar.
JL – Muito antes de ser coreógrafo era fadista e isso estava já muito presente na minha família. Portanto, antes de tudo, considero-me fadista. O que o coreógrafo me trouxe foi realmente isto que o Lander diz, porque a dança contemporânea é um lugar onde se pode fazer o que bem entendermos.
LP – Comparando com o teatro, não temos a questão substancial do texto que, de alguma forma define logo o esqueleto num espetáculo, apesar das pessoas subverterem texto. Mas existem alguns esqueletos para partir ou para montar.
JL – Na dança é muito menos fechado. Automaticamente a palavra fecha-te num lugar. A palavra tem um significado muito claro. O movimento não. É uma abertura completa desse espetro.
As vossas criações têm um lado cómico e irónico, mas também um lado mais dramático. Há um lado onírico (surrealista) e um lado mais camp de referências. É desafiante fazer essa filtragem de elementos?
JL – Há uma altura no processo em que é preciso começar a fazer uma seleção rigorosa, porque o tempo assim o exige. Mas sim, passamos por essa fase em que temos de começar a tirar coisas e se calhar temos de começar a escolher o que é que vamos realmente trabalhar. E às vezes coisas que ficaram de fora de repente voltam à peça. Vamos construindo ilhas e quando chegamos à fase de começar a pensar na viagem entre elas, fechamos esse mapa de referências.
LP – E é partir dessa altura que se vão revelando significados que nem nós tínhamos programado inicialmente. Nesse aspeto, criamos algo até certo ponto, mas também criamos com essa coisa e estamos em diálogo com ela. Criamos ilhas e a aproximação destas ilhas coreográficas podem criar uma certa itinerância dramatúrgica que não estávamos à espera, mas uma vez que ela existe, temos de a considerar. E como trabalhamos muito a partir da proliferação exacerbada, ou seja, vamos para estúdio, dançamos muito, fazemos muita coisa, experimentamos muitas músicas, somos movidos pela ativação que se gera.
As vossas criações parecem sempre mais próximas da ficção, como forma de criar mundos. Concordam?
LP – A ficção não tem de ser necessariamente contar histórias. Pode sugerir um mundo em que as relações são diferentes, os corpos se relacionam de uma maneira diferente e até a própria sociedade é diferente. Há coisas que se fazem no teatro, por exemplo, que são ilegais no mundo civil. Não podemos estar nus no meio da rua, mas no teatro podemos, porque é ficção. Há um código próprio. E é essa criação de mundo que acaba por nos interessar, mais do que contar histórias no sentido clássico.
JL – E diria que se nos identificarmos com algum “ismo”, seria com surrealismo, no sentido de aproximar elementos que estão longe, que não fazem parte, mas que criam algo. Por exemplo, juntar um cabo de pincel com uma trança de cabelo. Criou-se um objeto novo. Isso acontece-nos naturalmente e cria uma espécie de ficção desenhada para aquela caixa mágica que é o palco. Porque na realidade, as luzes não mudam aquela velocidade, não têm aquelas cores, o som não tem aquela riqueza. Gostamos muito de brincar com esses elementos e de criar uma ficção que não está aqui entre nós, de materializar aos olhos do público um quadro que não existia antes.

▲ "Coin Operated", ou de como o desconforto por vezes gerado por esta dupla não é um objetivo, antes uma consequência não propriamente ambicionada
Dainius Putinas
A maneira como encaram o espetador é importante, mantendo essa ideia de jogo ficcional, deste saber que está no vosso território?
LP – Diria que não é por uma questão territorial. Acho que passa pelo facto de o espectador não se conseguir situar porque os significados são desestabilizados. Ou pelo menos é isso que eu, enquanto espectador, gosto de sentir. Desestabilizado no sentido de não conseguir muito bem prever, e isso para mim passa pelo jogo.
Que pode até criar um certo desconforto?
JL – Acho que acabámos por ter isso sem o desejarmos. No Coin Operated, em que estão dois homens montados a cavalo [de carrossel] e vamos cobrando o papel do cavalo na nossa sociedade, as pessoas riem-se, mas ao mesmo tempo, há ali um certo desconforto. Isso não era o nosso objetivo, mas acabou por acontecer. No Bate Fado já nos falaram da questão de como o género e de como a relação entre homem e mulher, mulher, mulher, homem, homem está muito vivida. Isso foi só consequência do elenco e de quem somos. Não era de todo uma intenção. O fado tem esse lado feminino e masculino muito definido. Óbvio que atualmente está a começar a mudar, mas acho que sem querer, sem ser esse o nosso objetivo, acabamos sempre por falar ou refletir a atualidade.
LP – A atualidade passa por integrar as nossas preocupações. No Lento e Largo também falamos sobre a questão do vegetarianismo, mas é em modo provocador, irónico.
JL – Ou quando pegamos num robô e começamos a dialogar com ele. Só que só estávamos a pegar ao robô pela performatividade.
LP – Acho que os elementos da contemporaneidade aparecem na peça porque estamos a viver esses momentos, mas se calhar não seria a bandeira da peça ou um statement político. No caso de falarmos sobre a desvalorização do homem perante a tecnologia ou de soluções para acabar com as alterações climáticas… A peça não é sobre isso, mas acaba por integrar esses discursos.
Não entendem as vossas criações como potencialmente políticas?
LP – Podem ser, sim, obviamente. Quanto se está a provocar… agora estamos a dançar o fado. Têm sempre isso em potência, mas não é algo estrategicamente desenhado. Os discursos têm ideologias por trás. Cada coisa que fazemos, cada gesto, tem essa potência. É inerente à criação nem que não seja pela capacidade de abrir mundos. À partida é um gesto político.
Como é que conciliam o vosso processo criativo com a ideia de mercado? Os criadores têm compromissos, encomendas, datas. Sentem essas dificuldades
JL – No meu caso, nem é tanto em relação ao processo criativo, é mais em relação ao planeamento, por exemplo, dos dois anos da DGartes enquanto direção de uma estrutura. Isso para mim é mais complicado… Porque nas criações, como somos dois, há sempre novas ideias a vir com alguma rapidez e quando fazemos uma peça nova é porque realmente existe esse desejo. Óbvio que há encomendas, mas há um desejo sempre… há quase um ano de pausa, entre uma criação e outra. Para mim, o maior desafio é projetar um plano de atividades a dois anos, porque as coisas mudam de repente.
LP – Uma coisa que acho que é complicada nesse cenário passa precisamente pela fraca circulação das obras e que faz turbinar, digamos assim, os processos de criação de cada autor. E isso sim, quando as pessoas têm de criar duas ou três peças por ano para sobrevivência, é muito complicado.
Digo isso, porque, no vosso caso, conseguem colocar diferentes peças em funcionamento ao mesmo tempo… nem sempre isso acontece.
LP – Lutamos muito por isso, investimos muito, temos muita preocupação com o público. Houve uma altura em que até investimos em ter uma assessoria de imprensa. Muitas vezes víamos salas não tão compostas e começámos a fazer pressão para que uma assessoria de imprensa trabalhasse com os teatros para garantir mais público. Se há investimento público para estarmos ali, uma equipa grande que é dispendiosa, que cada lugar esteja ocupado, ou seja, que essa oportunidade, esse encontro entre a obra, nós e o público, seja potenciado ao máximo, porque senão parece que há um desperdício de recursos. Da mesma forma, como acho que é um desperdício de recursos ao criar-se uma peça, ter duas apresentações e depois ter de criar uma peça daqui a dois meses. É um desperdício de recursos, porque a própria peça, o próprio artista, vai fermentando e aprimorando os materiais. E se essas oportunidades não acontecem então, se calhar, têm de ser os próprios agentes culturais a deslocarem-se para ver os espetáculos, relacionarem com os artistas, apoiarem a criação. Porque senão acho que se entra num ciclo perigoso.
Isso leva a uma outra questão: cabe aos artistas terem de fazer eles próprios um trabalho de mediação e de formação públicos. Seria essa a sua responsabilidade?
JL – A circulação é o objetivo final da esmagadora maioria dos artistas e é o calcanhar de Aquiles de Portugal e não só. Nós por questões geográficas. Quando vamos apresentar qualquer coisa em Paris ou na Alemanha, é quase uma montra, onde estão imensos programadores em cada apresentação porque eles viajam muito no centro da Europa. Aqui isso é muito dificultado. Há muito pouco investimento na circulação. Há uma feira enorme de dança que tem o mundo inteiro e Portugal não tem lá uma representação. Esse chip ainda não mudou e o objetivo do coreógrafo e dos criadores é circular e mostrar seu trabalho. É para isso que trabalhamos. Não é criar por criar. Há o mindset de apoiar a criação e criar mais centros de residência, mas depois, o que é que fazemos com o resultado disso, que é o principal objetivo da criação, ou seja, o encontro com o público? E se isso não acontece, porque é que estamos a investir tanto em criação?
LP – Mesmo na circulação, numa sala mal composta a sensação térmica é outra, não tem nada a ver com ver uma sala cheia. Há uma vibração que só acontece quando as pessoas estão empacotadas a viver a mesma experiência. Não quer dizer que todas as peças têm que ter muito público. Pode ser uma peça para 20 pessoas de público, mas que esteja esgotada.
Na vossa opinião, para além de se darem mais apoios, falta que os próprios agentes e os diretores de cada teatro tivessem uma postura pró-ativa em relação a isso?
JL – É mais grave que isso. Não há agentes portugueses, não há pessoas a vender espetáculos para fora em Portugal com contactos… há muito pouco para a quantidade e a qualidade. Nós, felizmente viajamos pelo mundo inteiro desde que começámos a trabalhar e vemos dança do mundo inteiro. E a dança portuguesa tem uma originalidade e uma qualidade reconhecida a nível europeu e não só. Temos um pedaço de ouro nas mãos, mas não sabemos o que fazer com ele.
LP – Parece-me que a dança é a parente pobre das artes performativas. Um programador ao gerir um teatro, sabendo que a dança à partida é menos magnetizante do que a música, se calhar dedica-lhe menos tempo, mas é isso que cria uma bola de neve de desinvestimento. É preciso criar redes mais fortes. Houve tentativas, mas muitas ficam paradas ou terminaram.
Como é que vocês olham para este panorama da dança em Portugal?
JL – Olho sempre com muita admiração para a identidade que cada coreógrafo tem. O que se sente por vezes no norte da Europa, como há escolas tão fortes e tão institucionais e com um nome tão grande, é que estas acabam por criar correntes e o que se vê depois é tudo muito parecido. E isso em Portugal não acontece de todo. Cada criador tem de facto um discurso muito sólido, identitário, com olhares muito distintos.
LP – E há uma admiração mútua entre os nossos colegas, uma camaradagem, mesmo de estéticas diferentes. Pelo menos é o que sinto… Que as pessoas se apoiam e de alguma forma, se encorajam ou se admiram nesta diversidade toda.
De alguma forma são herdeiros da Nova Dança Portuguesa do fim dos anos 80? Como é que classificam a vossa geração em termos artísticos?
LP – É muito cedo.
JL – Essas pessoas foram muito importantes nas nossas vidas, a Vera Mantero, o Rui Horta, a Clara Andermatt. Foram pessoas que realmente no nosso discurso tiveram um impacto muito grande em nós e tivemos a oportunidade de falar com muitas delas, outras de trabalhar com elas.
LP – Partiram pedra para nós podermos fazer o que fazemos.
JL – Criaram as primeiras estruturas independentes, não é?
LP – Ao contrário de Espanha e Itália, não há muitas companhias em Portugal. É claro que para quem faz formação querendo ser bailarino, pode ser complicado.
É um caminho solitário.
LP – Há poucas oportunidades, os timings são parecidos e podem passar períodos de não ter nada para fazer, entre aspas, para ter dois projetos a ensaiar ao mesmo tempo. Nesse aspeto é um bocado inquietante ser-se apenas bailarino, e acho que muita gente acaba por se voltar para a criação até como forma de poder perpetuar a sua vontade de estar em palco, de fazer aquilo que gosta.
JL – Voltando à pergunta: é muito cedo para tentar qualificar a nossa geração, mas diria que sinto que é muito fruto deste movimento tecnológico. A diversidade é tanta, dispara-se para tanto lado e isso resulta dessa quantidade de informação que recebemos a todo o momento. Isso espelha-se muito bem nesta novinha dança portuguesa.
LP – Nos anos 90, quando surgiu essa geração, muitas pessoas foram para os Estados Unidos, voltaram e tinham a cabeça noutro sítio. Atualmente, diria que o desnível entre Portugal e os Estados Unidos no que toca à cena cultural, se calhar, não é tão grande porque partilhamos as mesmas plataformas de conteúdos. É muito mais fácil viajar.
JL – Vivemos a era do movimento e a dança hoje reflete muito essa era.

▲ "Bate Fado" não faz parte desta quase-retrospetiva, mas é outra das criações da dupla Jonas&Lander
José Caldeira
Esta celebração no CCB marca o fim de um ciclo?
LP – Sim, tem a ver com essa coisa que eu estava a dizer no início da conversa também, que estamos num período em que há vários desejos a acontecer. Portanto, a probabilidade de criarmos uma peça em cocriação… Esse panorama está meio que suspenso por enquanto. Portanto, meio que marca uma celebração e uma calma, porque também temos estas vontades diferentes. O Jonas acentua-se cada vez mais na sua carreira enquanto fadista e com esta missão de trazer a dança do fado em que eu também estou presente. Ou seja, a colaboração acontece de outras maneiras.
JL – Precisamos também de ver como é que está o nosso ritmo de criação individual e de ver como é que fazemos os nossos percursos mais solitários. Estamos a descobrir coisas novas nesse trajeto e nesta pausa de cocriação.
LP – Acho que nossa colaboração está a migrar para a música. Sinto que é isso que está a acontecer. Temos feito umas experiências bastante entusiasmantes e de alguma forma dez anos parece um ciclo bastante gostoso para poder de repente se experimentar outras coisas.
Já se tornaram uma marca no panorama da dança contemporânea portuguesa.
JL – Acho que nunca vamos deixar de trabalhar juntos, porque a vida e a arte cruzam-se. Estamos sempre em trabalho, não é? E chamar a isto um trabalho… Esta colaboração acontece 24 horas por dia, porque estamos sempre a partilhar tudo o que nos vem à cabeça em primeira mão e ninguém me compreende como ele e vice-versa. Este explorar de novos campos também está a ser muito interessante para nós.
Mas ainda há desejos e ambições? Creio que já tinham falado na ideia de fazer uma ópera.
JL – Essa seria uma possibilidade para voltarmos a cocriar, porque existe este desejo de fazer uma obra de raiz mesmo. Existe, por exemplo, a ideia de fazer uma ópera ligado com a Amazónia ou a com a revolução haitiana, que nos impressiona muito. Poderia ser uma hipótese.
LP – Muitas vezes pecamos pelo excesso, mas também nos interessa o desafio. Gostamos de brincar com todos elementos que orbitam uma ideia de espetáculo e que é também a ópera, como a chamada obra de arte total. Então porque não assumir esse desafio, que nos cativa e na qual possivelmente gostávamos de trabalhar. O futuro dirá.