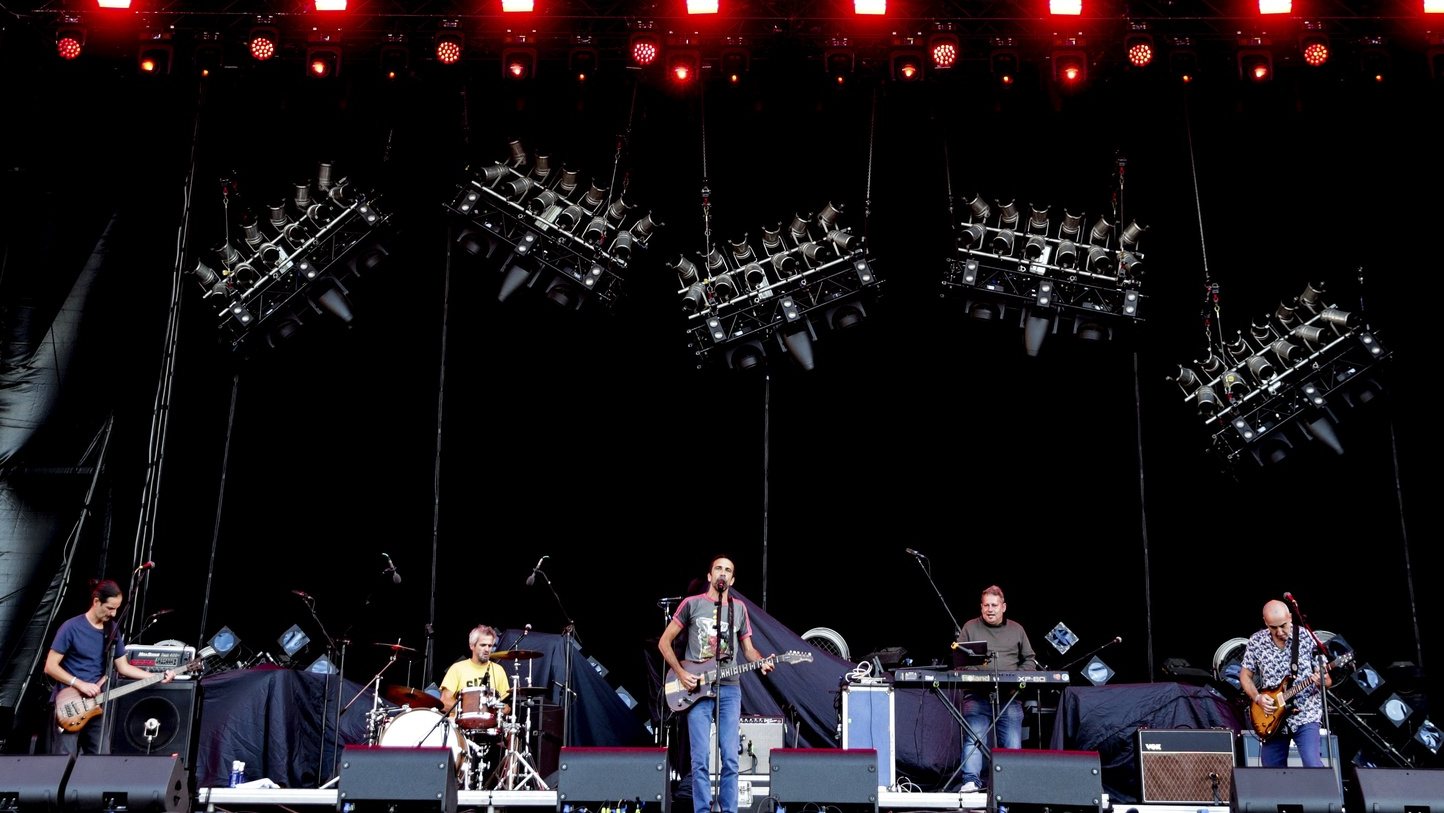Índice
Índice
Desde a edição anterior passaram-se quase três anos. O mundo ficou do avesso, culpa de uma inesperada pandemia. E os festivais de música assemelharam-se ao longo desse tempo a uma miragem: em dois anos foram acontecendo alguns, muito poucos e (para preservar a saúde pública) com restrições acentuadas na forma como podiam ser fruídos.
Também por isso aquilo que se irá ver esta semana no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais, parecerá novo: gente a dançar, a beber, a cantar na plateia acompanhando artistas em palco, sem máscara na cara. E gente a assistir a concertos já não apenas dos seus músicos nacionais de eleição — aqueles que foram tentando, nas brechas da pandemia, ir atuando ao vivo quando possível — mas de músicos internacionais, como Rejjie Snow, Greentea Peng, Lex Amor, Moses Boyd, Major League DJz, Jarreau Vandal ou Shygirl, por exemplo.
O ID No Limits não é o primeiro festival a regressar desde que a música ao vivo começou a confinar em Portugal. Já voltara o açoriano Tremor ou o lisboeta Iminente, por exemplo, trazendo ambos lampejos de uma velha normalidade bem mais reconfortante do que o assustador (e muito propalado) “novo normal”.
Mas até pelo contexto temporal o momento parece simbolicamente especial: entre esta quinta-feira, 24 de fevereiro, e a madrugada de sábado para domingo, 26 para 27, três anos e três adiamentos depois (duas datas em 2020 e uma em 2021 que a Covid-19 não permitiu), o ID No Limits regressa. Pela primeira vez desde 2020, será possível entrar num festival de música sem certificados e sem testes. O setor, como o país, parece libertar-se agora, à procura de um futuro diferente.
De Regula a Nenny e Rita Vian: o cartaz do ID No Limits
↓ Mostrar
↑ Esconder
Na primeira edição pós-pandémica de um festival que tem um público maioritariamente jovem (algures dos 16 aos 30 anos), estarão nomes internacionais, sim, mas também muitos artistas portugueses. A linha programática é o grande campo da chamada “música urbana”, com espaço para o hip-hop (e suas variantes, como o trap), o R&B, a soul eletrónica e os ritmos mais dançantes e festivos.
Pelo festival vão passar históricos que têm estado mais na sombra nos últimos anos, como Regula, velhos especialistas na arte de fazer de dançar, como Branko, e artistas e bandas emergentes (em alguns casos, já muito populares) da música nacional, como Nenny, Tristany, Rita Vian, Pedro Mafama, David Bruno, Pedro da Linha, Mynda Guevara, Fumaxa (DJ set), Yakuza, L-Ali, Mazarin e DJ Dadda.
Há ainda diferentes latitudes geográficas (da África do Sul à Argentina, EUA e Holanda) representadas num festival que aposta forte em artistas britânicos e que tem cinco palcos, um dos quais o “Cascais Silent Disco”, em que cada espectador dança ao som de um de dois DJ sets que pode ouvir nos seus headphones.
Foi precisamente no Centro de Congressos do Estoril (CCE) — mas num CCE ainda por adaptar ao cenário festival — que encontrámos Karla Campos, esta segunda-feira. Em entrevista a diretora do ID No Limits projeta a muito aguardada edição do festival, fala sobre como viveu dois anos de pandemia enquanto promotora de festivais e recorda o seu percurso na indústria da música portuguesa, que incluiu a criação e lançamento de festivais como o EDP Cool Jazz, o Sumol Summer Fest e o Lisboa Dance Festival.
“Nunca deixei de pensar que seria possível voltar a fazer festivais”
Depois de três adiamentos e dois anos de pandemia, o ID No Limits vai acontecer esta semana. Chegou a duvidar que fosse possível voltar a fazer o festival nos moldes em que vai acontecer?
Nunca deixei de pensar que era possível haver música ao vivo. Também nunca aderi a nenhum projeto de música online nem nada que se parecesse. O slogan da Live Experiences é “creating new emotions” e novas emoções só se criam ao vivo. O que nos resta é ver concertos ao vivo, televisão já temos, vídeos e ecrãs no computador ou telemóvel já são o nosso dia-a-dia. Por isso, nunca deixei de pensar que seria possível voltar a fazer concertos e festivais. Mesmo durante a pandemia, em reuniões que tivemos com os nossos parceiros e concorrentes na APEFE [Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos], tivemos sempre o otimismo de pensar em alternativas para conseguirmos trabalhar.
Todos os projetos que existiram durante a pandemia foram resultado da persistência e esforço dos promotores junto do Governo, para conseguirmos fazer o que era possível dentro das regras possíveis. Foi sem dúvida a nossa persistência que fez com que a cultura pudesse continuar. Ainda bem que as coisas mudaram numa altura próxima da realização do ID No Limits. As restrições foram levantadas, mas antes de serem levantadas já tinha tido a confirmação — pelas regras que já estavam a ser praticadas há cerca de um mês — que era possível o festival acontecer.
Havia esse plano e essa hipótese, de fazer o festival com as regras que estavam anteriormente em vigor?
Sim. Até à semana passada estávamos a planear pedir certificado digital válido ou, em alternativa, que as pessoas trouxessem um teste negativo. Estávamos até a conversar aqui com a câmara de Cascais para se disponibilizar um posto Covid, para ajudar as pessoas que não tivessem certificado válido e não tivessem trazido um teste negativo válido. Estava tudo a ser tratado para que o festival pudesse acontecer com as regras que estavam previstas no país.
Como foi a vida de um promotor de festivais nestes dois anos?
Na Live Experiences, o que tive de fazer foi estar constantemente na conversa — via APEFE — com o Governo para saber o que podíamos fazer. Depois, localmente, falar com autarquias para validar se a câmara estava de acordo com os planos que tínhamos, ir falando com a delegada de saúde local… foi sendo feito esse diálogo e essa ligação com as entidades locais e institucionais, quer da saúde, quer da Proteção Civil, quer das próprias câmaras.
Depois de termos coisas adiadas, o que se tentava era assegurar que o espaço poderia estar disponível numa nova data para a qual o festival fosse remarcado. E a seguir começar a falar com os agentes dos artistas, olhar para agendas e ver se era possível manter os artistas numa nova data. Andámos nisto este período todo. Cada vez que nos aproximávamos da data agendada e não era possível, porque as condições não nos permitiam…
Deve ter sido especialmente angustiante: no caso do ID No Limits foram três adiamentos.
Foi, foi. Ainda se adiou em 2020 para uma segunda data, que não foi possível, nesse mesmo ano [de março para novembro de 2020]. Depois tivemos de adiar ainda uma terceira data [abril de 2021]. Quando vimos que não dava mesmo, mudámos para agora: fevereiro de 2022. Muitas vezes a dificuldade era conseguir que os artistas pudessem estar presentes numa data posterior. Só que, com o tempo a passar, para este público do ID No Limits também há artistas que ficaram em desuso. É incrível, parece que é pouco tempo mas para este público e para a velocidade a que a música se atualiza, a que os artistas vão lançando discos novos, projetos novos, parcerias e associações novas, acontece. De repente já há artistas mais vistos e mais falados…
O principal é à música, mas às vezes aparecem associações à moda, ao cinema, a livros, a outras áreas da nossa vida e de lifestyle. Isso às vezes altera substancialmente o público que os artistas têm, o que as pessoas gostam ou não de acompanhar. Há coisas positivas que fazem, há coisas negativas que se sabem e tudo isso interfere no público que os artistas têm. Temos de estar atentos a isso. Não importou só as agendas dos artistas [inicialmente confirmados] mas também aquilo que estão a fazer e se o público ainda está a segui-los. Essa análise constante do que se está a passar, tivemos de a fazer e tivemos de acompanhar as tendências. Será que todos estes artistas que foram pensados para 2020 faziam sentido em 2022? E depois há opções dos artistas: “vou optar por me fechar, vou ficar em estúdio e vou avançar com um álbum, não vou fazer concertos”. Houve estas questões. E depois outras: “não me vou vacinar e portanto não vou poder circular e não vou poder ir…”.
Isso aconteceu com alguns dos artistas que tinham programado?
Alguns. Agora essa questão já nem parece tão premente porque são tão poucas as pessoas que não querem [ser vacinadas] que a imunidade já se está a formar. Mesmo esse artista que não se vacinou pode já ter contraído Covid-19 e já ter certificado de recuperação. Tudo isso pode alterar as coisas. Mas esta dinâmica da agenda dos artistas, da evolução dos artistas e da evolução da cotação que têm no mercado — se continuam a ser ouvidos ou não, se houve repercussão do disco ou do single lançados, se os meios [de comunicação] estão a falar nele ou não — é algo a que temos de estar sempre atentos.
Trazendo isso para a música portuguesa, assisti a uma evolução interessante daquilo que é o trap, que tem imenso sucesso em Londres e que aqui em Portugal não estava com tanta força. São artistas que são do trap e que também são rappers. Falo do Lon3r Johny, do SippinPurpp, do T-Rex. São artistas que foram beber um bocadinho dessa sonoridade e que cresceram brutalmente durante o período do confinamento, as pessoas ouviram-nos muito nos Spotifys, Youtubes, Instagrams, em ‘lives’. Agora vai ser um prazer incrível pô-los a atuar ao vivo para as pessoas os verem, quando na pandemia estiveram a vê-los através dos ecrãs. Essa atenção foi necessária para podermos apresentar um cartaz atualizado e fresco, que motivasse as pessoas a virem ao festival e que as fizesse aceitar mudanças [no cartaz]: a grande maioria não reclamou por causa das atualizações do cartaz.


▲ T. Rex e Lon3r Johny, dois dos nomes nacionais destacados pela diretora do festival ID No Limits
Estava a falar de situações menos positivas em torno de alguns artistas: tiveram um caso de um artista com um problema judicial, não tiveram? Não me recordo exatamente qual era o problema em questão, mas recordo-me de ter visto algo sobre isso.
Tivemos, tivemos. Em menos de 24 horas resolvemos o assunto. Foi o Octavian, um artista que foi acusado de violência por uma namorada. Foi um erro da minha parte, assumo a responsabilidade. Como mulher então, [quando me apercebi] fiquei… por muito que uma pessoa esteja atualizada, é difícil acompanhar todas as notícias sobre todos os artistas. Quando percebi, em menos de 24 horas foi substituído e desapareceu [do cartaz]. É um artista fantástico, mas que tem um problema grave na vida dele e acabou com a carreira. No mesmo dia em que foi anunciado, [após críticas nas redes sociais] foi retirado do cartaz.
Como se gere com os artistas isto dos adiamentos? Há uma série de artistas com os quais há um contrato para tocar num dia. De repente, por causa das restrições que aparecem, deixa de ser possível. O que é que se faz? Como se lida com isto? E os artistas foram compreensivos?
Claro que sim. Isto foi transversal ao mundo inteiro… tivemos uma situação de saúde pública extremamente grave e de que há muito tempo não se tem memória. Estávamos todos na mesma situação. Foi muito fácil gerir isso com artistas, com agentes, com quem tínhamos de falar na altura.
Porque eles estavam a viver isso com outros festivais, noutros países?
Em todo o lado! Isto parou no mundo inteiro. Cada vez que parecia haver uma hipótese de as coisas aconteceram, não éramos só nós [a adiar e apontar para uma nova data]. Isto andou por vagas e nos mercados que mais festivais fazem, cada vez que havia uma esperança de as coisas poderem ser aliviadas ia tudo na mesma corrida. Começávamos todos a tentar mexer-nos outra vez. Aqui tivemos uma vantagem: a vacinação. O país quis aderir à vacinação, somos um caso internacional de sucesso. Mesmo para quem vinha, isso era uma mais-valia: era um país seguro.
Isso foi um trunfo para apresentar aos artistas?
Foi. Sem dúvida, sim.

▲ Karla Campos lançou em Portugal os festivais EDP Cool Jazz, Sumol Summer Fest e Lisboa Dance Festival, tendo o último dado origem ao atual ID No Limits
TOMÁS SILVA/OBSERVADOR
Falava da APEFE. Que apoios tiveram como promotores de festivais durante estes dois anos? Obviamente houve uma grande paragem nos concertos ao longo destes dois anos — mas para o setor dos festivais, particularmente, foram dois anos sem trabalho, foi uma paragem total para quase todos. Esses apoios foram suficientes?
O que fizemos foi: unimo-nos tendo a APEFE como porta-voz para, junto do Governo, irmos aos poucos transmitindo as nossas preocupações. Fomos obrigados a parar, é bom lembrar. O único benefício ou apoio que tivemos foi o que todas as empresas em Portugal tiveram.
Não houve mais apoios direcionados?
Não houve mais nada direcionado. O apoio foi o layoff para as empresas. Depois no verão de 2021, houve o lançamento de uma linha de apoio à cultura chamada “Garantir Cultura”. Quem submetesse um projeto para fazer um evento, um concerto, um projeto cultural — o que fosse — e fosse aprovado, se tivesse tudo em dia com as finanças e a segurança social, conseguia ter um apoio na proporção da empresa e do projeto a que se propunha.
A Live Experiences submeteu uma candidatura e fez o festival “Música no Parque” ao ar livre, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. Foi o único projeto que fizemos nesse período, seguindo as regras que eram possíveis na altura e só com artistas portugueses. Correu lindamente. Associámo-nos aí também com a câmara de Cascais, que nos cedeu o espaço e ainda nos comprou bilhetes para oferecer aos profissionais de saúde que estavam aqui a trabalhar no concelho de Cascais, fosse em hospitais fosse em centros de vacinação. Foram esses os apoios que tivemos: o layoff e o Garantir Cultura.
Chegou?
Nunca é suficiente. A minha estrutura é pequena e deixei o escritório que tínhamos em Lisboa, nas Amoreiras. Estávamos todos em teletrabalho, não fazia sentido continuar a ter o espaço. Deixei também de ter um armazém onde armazenava todas as coisas dos festivais. Renovei casa, escritório e armazém para pôr tudo num lugar só, para centralizar e minimizar todos os custos possíveis e para conseguir manter estas pessoas que tenho a meu cargo. São pessoas que estão comigo há muitos anos, que estão formadas e de quem preciso para trabalhar. Elas também precisam disto para viver.
E agora que passa a ser possível organizar grandes concertos e festivais outra vez, precisa de ter essas pessoas prontas e a trabalhar. Não?
Claro! Isto muda de repente. Há um mês não sabíamos que anteontem nos iam dizer que agora as regras mudam. Não sabemos estas coisas previamente. E para organizar o que quer que seja, precisamos de um mês, dois meses, três meses… não dava para dizer: bom, aconteceu março de 2020, agora não dá para fazer nada, “adeus equipa”.
Porque depois quando fosse possível voltar, como era?
E não só. Ao longo destes anos fomos andando a decidir: adia, não adia, faz comunicados de imprensa, não faz, faz mupis, vai para a rua, contrata outra vez [o artista], compra, faz promoção, manda promoção para o lixo. É preciso fazer investimentos e trabalhar numa edição que está agendada. Se depois não acontecer, vai tudo para o lixo mas é sempre preciso prepará-la. No caso do ID No Limits, isto aconteceu três vezes. E compensações disto, não recebemos.
“Já estava tão saturada que pensei: o festival pode ter 3 dias. Equidade de género? Tem de ter”
Dizia há pouco que boa parte de quem tinha bilhete comprado para a edição de 2020 do ID No Limits o manteve. Tem ideia de que percentagem de pessoas mantiveram o bilhete comprado para 2020?
Tenho, tenho. A maioria das pessoas que tinham bilhete para o ID No Limits não pediu reembolso. Se foram 40 ou 50 pessoas foram muitos, a maioria ficou com o bilhete. Também com este fervilhar de nova música e novos artistas, já estava tão saturada disto que pensei: há tanto material bom para as pessoas verem ao vivo que o festival pode ter três dias em vez de dois. Assim fizemos. A quem já tinha comprado um passe para dois dias, oferecemos o terceiro dia.
Fala em 40 ou 50 pessoas. Para percebermos quanto é que essas pessoas representam no público total do festival: qual é a lotação do ID No Limits?
Antes da pandemia, tínhamos à vontade perto de 2.000 bilhetes vendidos. Manter essas pessoas connosco passado este tempo todo é muito bom.
Este festival começa em 2019, nascendo da génese do Lisboa Dance Festival. Qual foi o motivo para mudar o nome do festival e mudá-lo de Lisboa para o Centro de Congressos do Estoril?
Houve uma altura que me pareceu ideal para lançar um festival destes, um festival de inverno — que não existia. Como a música eletrónica e urbana estavam em alta, e como não tínhamos nada de inverno, decidi fazer o Lisboa Dance Festival. Ser em Lisboa decorreu de Lisboa estar, e felizmente ainda está , no centro das escolhas de destinos turísticos na faixa etária que frequenta este tipo de festival. Estamos a falar de pessoas com 16 a 25 anos, com entre 18 e 25, com entre 18 e 30. É mais ou menos isto. É a faixa etária que também viaja, que opta por um lowcost trendy e bonito.
Se temos tanta gente a vir para Portugal ao longo do ano, estarmos a condensar tudo no verão… porque não se faz um projeto de este estilo de música no inverno? Foi isso que pensámos. Mas há uma altura em que Lisboa fica muito criteriosa em relação ao barulho, às licenças de ruído. E a LX Factory, onde começámos por fazer o Lisboa Dance Festival, não estava preparada para essas exigências da autarquia. Ainda em Lisboa, fomos para o Hub Criativo do Beato e fizemos lá uma edição, um ano, mas sabíamos que no ano seguinte já não poderíamos voltar porque o Hub Criativo do Beato ia estar em obras. Entretanto a câmara de Cascais teve algum interesse em perceber que projeto era este e perguntou-me se não queria fazer o festival aqui em Cascais. Pareceu-me fazer todo o sentido que assim fosse, porque até nem é um lugar com muita diversão noturna e que tenha estas propostas em termos de estilo de música, sendo que há muito público e muitos jovens aqui para um festival destes. Aceitei o desafio. Não podia, claro, vir com o nome “Lisboa” para Cascais. Pensámos num nome para o festival que não incluísse Lisboa e que ficasse mais enquadrado com os estilos de música e as propostas que o festival pretende apresentar.
Ia perguntar-lhe por isso, pelos estilos de música e propostas do festival. Além dessas alterações, não houve um ajustamento programático? Já havia a aposta na música eletrónica, por um lado, e nas várias tangentes ao hip-hop, R&B e soul eletrónica, por outro. Mas parece-me que, embora tudo isso coexistisse, o Lisboa Dance Festival pendia mais para a eletrónica pura e dura e este ID No Limits para essas variantes ligadas ao hip-hop, ao R&B, à chamada “música urbana”.
É que entretanto apareceu um outro festival que se chama Sónar [sorri].
Foi também por isso?
Também.
Não por o R&B e hip-hop estarem cada vez mais populares em Portugal?
Também tem a ver, claro. O ID No Limits faz coexistir a música eletrónica com a música urbana — e dentro desse cluster da música urbana, temos o hip-hop, o R&B e uma eletrónica minimal como a que tivemos na última edição com o Arca. Isso também cabe na eletrónica, claro. Mas o R&B, o hip-hop, os ritmos afro e tropicais, a música latina misturada com o R&B e hip-hop, tudo isto tem crescido de uma forma inacreditável. Isso fez-me perceber que os jovens estão a ir muito mais para esse lado do que para a eletrónica.
No caso da eletrónica, sentia-a funcionar muito mais em clubs como o Lux, como o Ministerium. Em festival, sinto que funciona melhor este ambiente de música urbana: com o concerto, a performance vocal, em alguns casos com banda. Há muito mais festa, é muito mais música ao vivo e transmite mais energia do que a música eletrónica pura e dura. No hip-hop, por exemplo, temos o rapper e o DJ, depois às vezes começam a trazer bailarinos… comecei a ver e a sentir que em outros festivais a que fui, quando havia ao mesmo tempo eletrónica e música urbana as salas de música urbana estavam mais cheias.
Olhando para o cartaz do ID No Limits este ano, uma coisa notória é a quantidade de mulheres programadas. Só a título de exemplo, se olharmos para o primeiro dia temos por exemplo a Rita Vian, a Nenny, a Lex Amor e a Mynda Guevara. No segundo dia temos a Greentea Peng. E há muitas outras mais. Considera importante que um festival se esforce por cumprir critérios de equidade de género no cartaz? Ou perguntando de outra forma: já não é legítimo fazer um festival sem este tipo de preocupações?
Para mim, é obrigatório ter equidade. Primeiro, sou mulher. E sou eu que faço a programação — em conjunto com a minha equipa mas a decisão final é minha. É muito importante para mim que haja equidade.
Mesmo como espectadora, isso para si é importante?
É, sim. Não decido se vou a um festival por ter equidade, claro. Não chego a esse radicalismo. Mas é importante que exista. E num momento em que, para o estilo de música que escolho para este festival e que apuro a cada ano que passa, aparecem tantas artistas mulheres… eu empolgo-me com isto e depois é uma chatice [risos]. Mais mulheres gostaria de trazer e algumas nem estão disponíveis, depois há os cachets e por aí fora. Mas sem dúvida que as mulheres estão a dar cartas na música, têm uma sensibilidade e uma sonoridade incríveis. Por isso, tenho todo o empenho e gosto e faço questão que se a equidade puder ser atingida. Estamos quase com 50% de artistas mulheres.




▲ Nenny, Rita Vian, Lex Amor e Greentea Peng: as quatro atuam na edição deste ano do ID No Limits
FILIPE AMORIM/OBSERVADOR
O ID No Limits é um festival também para projetar o futuro, nestes campos da música eletrónica e urbana? Temos aqui vários artistas que estão mesmo numa fase inicial de carreira, a despontar, que têm um disco apenas…
[Interrompe] Às vezes nem disco têm! A Shygirl, por exemplo.
Precisamente. É mesmo para ensaiar o futuro?
É exatamente isso que este festival pretende. É quase um laboratório daquilo que está a germinar, do que está a acontecer, do que está a emergir. A internet dá-nos a hipótese de acompanharmos os artistas desde uma fase inicial. A partir do momento em que um artista mostra alguma coisa via Youtube, ou no Tik-Tok… aliás, o ID No Limits passou a ter Tik-Tok, é inevitável. Hoje em dia temos de estar super atentos a tudo isto, a todos os medidores de popularidade que existem. O exemplo que consigo dar mais facilmente é o da Shygirl, é inacreditável. Por causa da música, claro, mas também das associações a outras áreas de que falava há bocado: por causa das ligações à moda, está tudo doido com ela. Pronto, são coisas inexplicáveis.
Falámos de vários artistas, alguns dos quais britânicos: referia agora a Shygirl, há pouco falava-lhe da Lex Amor e da Greentea Peng. E há outros. Esta aposta na música britânica acontece por ver o atual momento da música britânica como estimulante, interessante, especialmente produtivo, ou também pela maior facilidade de um promotor de espectáculos e festivais trazer a Portugal um artista britânico, em vez de norte-americano?
São os dois fatores. Por um lado, estão aqui perto, assegurar o voo é mais fácil e mais barato do que se vier dos Estados Unidos, do Brasil ou de outro destino a essa distância. Depois, é um mercado que é muito fácil trabalhar: são muito rápidos a atualizarem-se com os artistas, com os cachets… é um mercado muito dinâmico, muito interativo. Não quer dizer que os mesmos agentes ingleses não vendam artistas americanos, também o fazem. Também havia outra coisa, para este cartaz: dúvidas sobre a entrada em Portugal de norte-americanos na altura da pandemia. O combate à Covid-19 não estava a ser igual nos EUA, portanto era um risco.
“Acho que o mercado dos festivais já está composto em Portugal”
Sei que licenciou-se em gestão de empresas em São Paulo. O que a levou ao Brasil?
Nasci lá. Os meus pais são portugueses, mas casaram-se e foram para lá. Entretanto, o meu pai volta para o Brasil a seguir ao 25 de abril e eu começo a ir lá visitá-lo, de férias. Em 80 e tal tinha acabado aqui o 12º ano, fui para Londres onde tinha estado dois anos a estudar. As coisas aqui em Portugal estavam um bocado indefinidas para a minha idade, tinha 22, 23 anos. A oferta de cursos aqui não era a que é hoje, era o básico: direito, medicina, engenharia…
Estava numa mudança de idade, à procura de mundo, e não sentia que Portugal estivesse a acompanhar o mundo. Já tinha estado dois anos em Inglaterra, Portugal continuava sem ter nenhum curso que me agradasse especialmente e pela vivência com o meu pai — porque vivia lá — resolvi ir viver para São Paulo. Isto por volta de 1986, 1987. Não tinha ainda feito nenhum curso superior e foi no período que lá estive a viver com o meu pai e a trabalhar que resolvi ir fazer o curso de gestão de empresas.
Li que em 2003 “reabre a Live Experiences”. A expressão “reabre” significa que a empresa teve uma existência anterior. Qual foi?
A empresa abre em 1999. Na altura, estava mais orientada para publicidade — que é de onde “venho”. Fazia também alguns eventos de artistas plásticos e designers de equipamento industrial, mas o core business era a publicidade e comunicação. Esses eventos paralelos existiam porque gosto de arte, porque coleciono, porque conheço uma série de artistas. Fazia-os muito inspirada pelo ambiente do Fabric, do Andy Warhol. Há uma altura em que temos a Expo 98 em Portugal, a Expo 98 termina e passado um tempo, em 2000 ou 2000 e pouco, o Pavilhão Utopia passa a Pavilhão Atlântico. Convidam-me então para ser diretora de marketing do Pavilhão Atlântico. Achei um desafio incrível, não quis perder essa oportunidade e estive lá dois anos.
Foi essa a ponte para ir depois para os concertos e festivais?
Foi, exatamente. Depois de sair do Pavilhão Atlântico, ainda estive um ano com a responsabilidade dos eventos no Parque das Nações. E é então, pouco depois, que crio o Cool Jazz.
Um festival que começa a acontecer em 2004. O que estava na origem do Cool Jazz? Lembra-se do que pensou naquela altura, porque decidiu criar um festival com essa identidade?
Já tinha ido ao festival de jazz de Montreux, já tinha corrido os festivais todos de Portugal, já tinha ido a alguns festivais fora de Portugal. Tinha vivido muito tempo no Brasil, também, onde tinha ido a alguns concertos e festivais.
Quando estive no Pavilhão Atlântico e depois no Parque das Nações, fizemos todo o tipo de eventos mas foi sem dúvida a música que me atraiu mais. Volto depois para a Live Experiences, paro um bocadinho e faço uma pesquisa de mercado. Verifico: em Portugal há este festival, aquele, acoloutro. E, talvez isto venha dos meus antecedentes em marketing, não ia lançar um produto ou serviço sem fazer uma pesquisa de mercado. Já tinha ido ao festival de jazz de Montreux, pareceu-me existir um nicho de mercado para um festival que não existia. Para pessoas que se quisessem sentar, assistir a um concerto, ter conforto, não levar com barulho de outro concerto ali de outro palco… isso não deixa de ser giro, eu adoro, mas é outra coisa. Pareceu-me: há aqui um nicho de mercado. Fui uma vez mais a Montreux só para validar mais umas coisas e avancei.
Nessa altura, quão diferente ou semelhante era a indústria da música ao vivo em Portugal, face ao que é hoje? E preparar um festival: quão diferente ou semelhante era do que é hoje?
Hoje há mais oferta, muito mais música ao vivo do que havia antes. Mudou-se o paradigma. Antes a carreira de um músico passava muito por gravar discos, cassetes, CDs, e havia concertos ao vivo — mas o peso maior era do suporte físico, as pessoas compravam os discos e CDs e ouviam em casa. Entretanto a internet deu cabo disto tudo. O que fica? Ficam os concertos ao vivo, por isso é que os artistas estão todos a tocar.
No Cool Jazz, passámos a ter mais concertos por dia. Temos agora as Cascais Jazz Sessions, em que quis dar visibilidade e voz ao jazz português: em cada noite há um trio ou quarteto de jazz português a tocar, e cada vez aparecem mais já com originais, não com standards. Já tivemos gente a sair deste palco para ir fazer primeiras partes ao palco principal do Cool Jazz: é o caso da Jéssica Pina, que já tocou até com a Madonna. Isso é um orgulho para mim. Antes do artista principal, o Cool Jazz também tem esse primeiro concerto no palco principal — normalmente programamos artistas portugueses para isso. Não são necessariamente só de jazz, podem ser de um outro estilo que tenha alguma coerência com o do artista principal que atua a seguir. Quando isto começou, só tínhamos um concerto. E os artistas não tinham a dimensão que têm os artistas que atuam agora. Havia um, às vezes… por exemplo, em 2005: tinha a Diana Krall e o Kanye West. O Kanye West não era o cabeça de cartaz! Muita gente desconfiava: o Kanye West no Cool Jazz? Pois é.

▲ Karla Campos no Centro Congressos do Estoril (CCE), poucos dias antes do CCE ser adaptado e "transformado" para acolher o festival ID No Limits
TOMÁS SILVA/OBSERVADOR
Em 2009 lançou-se noutra aventura: o Sumol Summer Fest. Na altura era também um festival de verão e de música para um público relativamente jovem, mas muito virado para o reggae. Era porque os jovens na altura estavam mais virados para o reggae?
Sim. Não se explica mas o reggae de vez em quando tem explosões de popularidade. Naquela altura estava assim e o festival foi um sucesso. Hoje em dia já não é assim, o reggae não tem grande expressão. Embora haja aqui alguma coisa a emergir: a Greentea Peng, por exemplo, tem ali um aroma qualquer…
E sobre o Música no Parque: é um festival para continuar nos moldes em que foi criado ou foi pensado só para aquela fase em que não havia circulação internacional de artistas e não faz sentido agora?
Foi pensado de forma a que acontecesse — e para acontecer teria de ser com portugueses. Temos tanta música portuguesa e tão boa, porque não juntar-nos aos que estão cá dentro, em Portugal, e fazer com eles um festival? Mas gostei tanto de fazer esse projeto, e em particular de o fazer naquele espaço do hipódromo, que quem sabe alguma coisa poderá vir a acontecer. Vamos ver.
Ainda há mercado para mais festivais de música em Portugal? Ou o mercado já está muito saturado com a quantidade de festivais que já existem?
Acho que agora já está composto. Diria que agora, depois do Sonar vir e tendo já abril ocupado — estávamos em abril mas ajustámo-nos e passámos para fevereiro, para que todos tivessem espaço —, fica composto o pré-verão. Depois já começa a entrar o período dos festivais de verão, vem o Rock in Rio e a seguir entram todos os outros.
Ainda tem conceitos de festivais por desenvolver aqui em Portugal? Há ainda modelos de festivais por apostar que possam ter o seu público, o seu espaço no mercado?
Sim, sim. Ainda há aí um caminho [ri-se]. Teria de ser algo completamente… Bom, queria muito fazer um de música portuguesa, porque nunca tinha feito nada exclusivamente de música portuguesa. Já fiz agora com o Música no Parque. Gostei mesmo, mesmo muito de fazer este projeto.
Ao longo destes anos, tem tido contacto com muitos artistas que passaram por Portugal e por festivais portugueses. Houve artistas que a tenham surpreendido particularmente, cuja passagem por Portugal tenha sido, para si, especialmente marcante?
Há concertos complicados de montar, tanto que às vezes negociamos e fechamos ainda sem saber como vão acontecer na realidade — porque são mais complexos. É o exemplo do último concerto do David Byrne no Cool Jazz, que exigia um desenho de palco muito específico e diferente do habitual, que cortava muita visibilidade… mas os bilhetes estavam à venda. Foi ali um jogo de cintura para ir deixando alguma folga para o que era possível acontecer. Até no dia do concerto as cadeiras do público foram postas e tiradas. Foi um grande desafio, mas quer a nossa equipa quer a equipa dele foram sempre ajustando e percebendo que para pôr um espectáculo performativa daquelos em palco, era preciso esforço. Aquilo não foi só um concerto.
E teve desilusões com artistas ao longo destes anos? Seja por questões mais pessoais — formas de ser desses artistas — seja pelos próprios concertos?
Não me recordo assim de nenhuma desilusão. Gosto de chegar ao final do dia e as coisas estarem arrumadas. Se alguma coisa houve, na altura foi falado e foi resolvido, bebemos um copo e a coisa ficou arrumada. Temos de continuar a trabalhar, não é? Porque aquele artista é representado por um agente, esse agente representa outros tantos artistas… não dá para inventar muito. É difícil estar bem com Deus e o Diabo, como se diz, mas pelo menos tento: resguardo-me de modo a que quando apareço é para resolver, não é para explodir.
Todos os promotores querem ter os melhores concertos e espectáculos e esperam que os artistas que trazem cumpram as expectativas. Mas em muitos anos certamente há-de ter acontecido casos que não correram tão bem, não?
Houve, claro. A memória mais recente é sempre mais fácil: em 2019 com The Roots, por exemplo. Antes de The Roots houve um problema de curto-circuito com os HMB e eles [HMB] não conseguiram sequer tocar uma música, tiveram de sair. Achei incrível que o tour manager dos The Roots visse aquilo e nem veio cá fora perguntar nada. Eu disse ao meu diretor técnico, apenas: vai ali e diz-lhe que os timings estão todos de pé. Tive de tirar os HMB dentro do palco e dizer: desculpem, não dá, temos de acabar para conseguir resolver o concerto principal. Até porque conseguir o concerto dos The Roots foi…
… Uma odisseia?
Uma odisseia. Porque eles estão sempre no Jimmy Fallon, nunca estão em digressão.
Foi dos mais difíceis?
Foi um dos [mais difíceis], pela falta de disponibilidade — porque estão sempre com o Jimmy Fallon. Arranjou-se uma janela, vieram à Europa, fizeram dois ou três concertos e conseguiu-se.
Imagino que também tenham acontecido casos desses: artistas que é preciso ir tentando durante anos e anos, até conseguir trazê-los.
O principal exemplo terá sido o Van Morrison. É um senhor que dá poucos concertos. Não sei se virá mais alguma vez a Portugal, acredito que não venha. É muito difícil. Quando se conseguiu essa vitória, foi fantástico. Tivemos de acertar com ele porque queria começar a tocar às 19h30, 20h. Para nós, portugueses, no verão… O agente só nos dizia: “Vou-vos contar sinceramente o que se passa, o problema é que ele por volta das 22h30, 23h já tem de estar sentado no sofá dele a ver televisão”. Lá propusemos: vamos começar então às 20h30, pode ser? Ele queria às 19h30, conseguimos às 20h30, andámos ali dois meses à espera… lá se conseguiu.