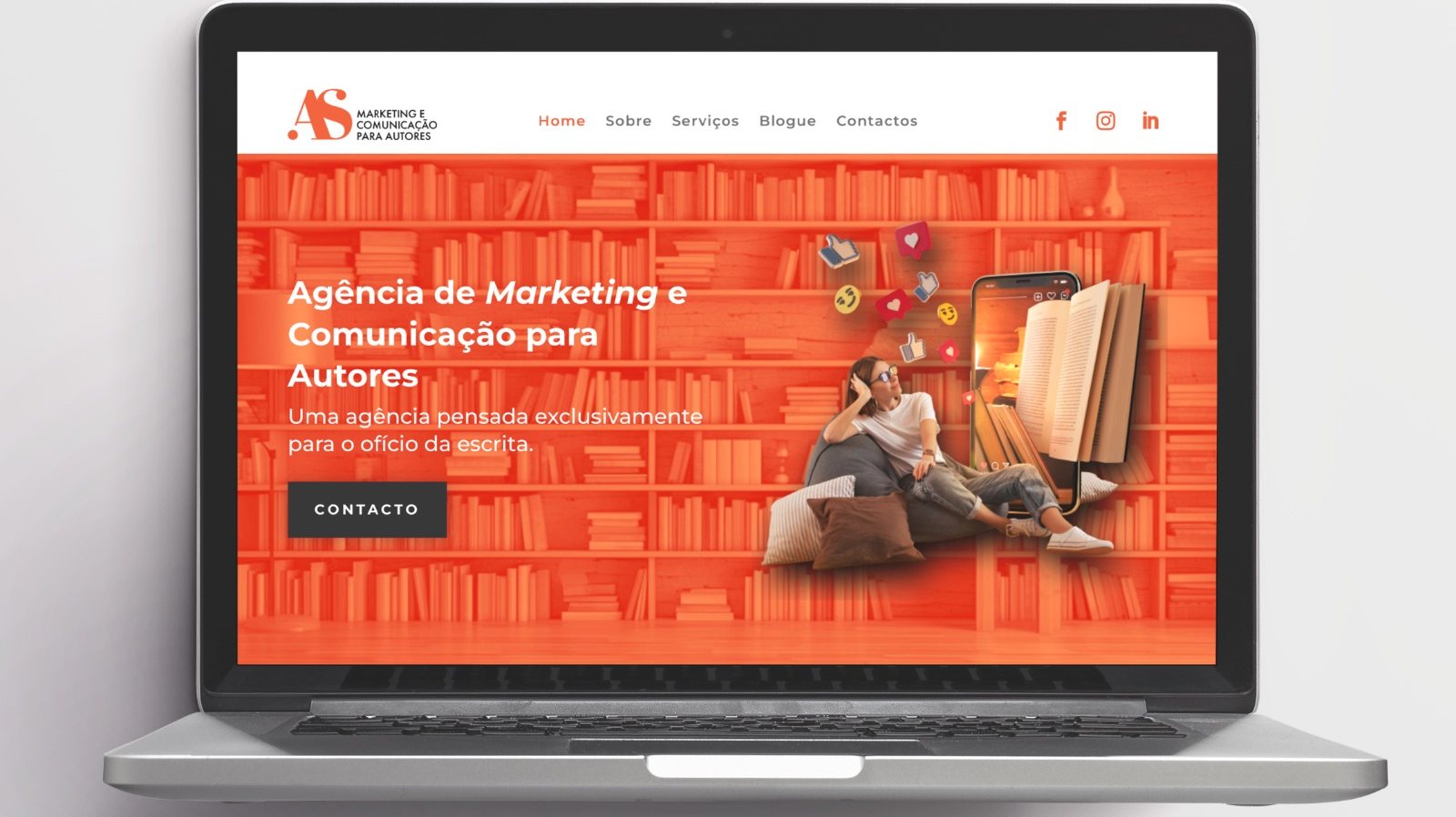[Este artigo é o último de uma série de quatro sobre literatura premiada]
Numa já longa série de artigos sobre literatura premiada, tenho vindo a tentar compreender o que implicam os prémios literários, bem como as limitações que estes necessariamente enfrentam. Se o primeiro artigo explorava o conceito em que estes prémios assentam, o segundo os problemas de representatividade a eles associados e o terceiro a tenuidade das fronteiras com que se deparam, vamos agora dar um enorme passo atrás, para tentar perceber de que forma a literatura parece ser absolutamente incompatível com a ideia de prémios ou de triunfos.
Não é despiciendo começar por afirmar que não tenho quaisquer conhecimentos em Antropologia, o que reforça o absurdo do exercício que se segue, demonstrando, no entanto, a sua coerência, uma vez que o argumento que apresento assenta precisamente na ideia de que a literatura consiste em pouco mais do que em falar do que não se conhece.
Algures na história da humanidade, um primo afastado nosso terá olhado para uma árvore e visto nela não uma fonte de alimentos, não um abrigo que o protegesse de predadores, mas uma ideia, agrupando então vários tipos de árvore diferentes em torno de um conceito suficientemente lato. Muito mais tarde, um primo mais novo desse pós-primata terá olhado com espanto para essa mesma (na verdade, provavelmente para outra) árvore, atribuindo-lhe beleza e dessa forma, ou de outra muito parecida, alguém dentro da nossa linhagem se terá começado a aperceber de uma coisa que escapava e escapa às gazelas e aos gnus: que o mundo é um sítio admirável.
A nossa inultrapassável animalidade misturada com esta coisa bizarra e difícil de explicar a que chamamos humanidade levou-nos então a procurar novas formas de reproduzir a beleza do mundo e de registar aquilo que víamos, que caçávamos ou que simplesmente admirávamos. No entanto, se impressiona o esforço, impressiona ainda mais a distância gigantesca entre essas primeiras tentativas e o mundo propriamente dito. Claro que a arte pictórica e escrita foi evoluindo e a patusca ideia que temos acerca de nós próprios e da nossa enorme sofisticação leva-nos a reparar mais no caminho que percorremos desde esses primeiros esboços até, por exemplo, um quadro do Monet e menos na enorme distância entre esse quadro do Monet e a vida como ela é. Elogiamos Monet ou Proust ou Tarkovski por terem chegado tão mais longe do que nós apenas porque não vemos a distância abissal entre aquilo que se propuseram fazer e o ponto a que conseguiram chegar. No fundo, elogiamos os vencedores de um concurso que consiste em ver quem consegue chegar mais perto da lua a saltar num trampolim.
Um prémio literário é uma espécie de WebSummitização da arte. Contudo, se na WebSummit, aqueles que por algum motivo obscuro designamos de key-note speakers efetivamente conseguiram cumprir os seus objetivos (por exemplo, aumentar receitas, desenvolver apps ou garantir que não passe um minuto sem que alguém use a palavra mindset), já os prémios literários assentam numa bastante óbvia fraude, que consiste em procurar convencer pessoas incautas de que os homens e mulheres que premeiam foram, de alguma forma, bem-sucedidos.
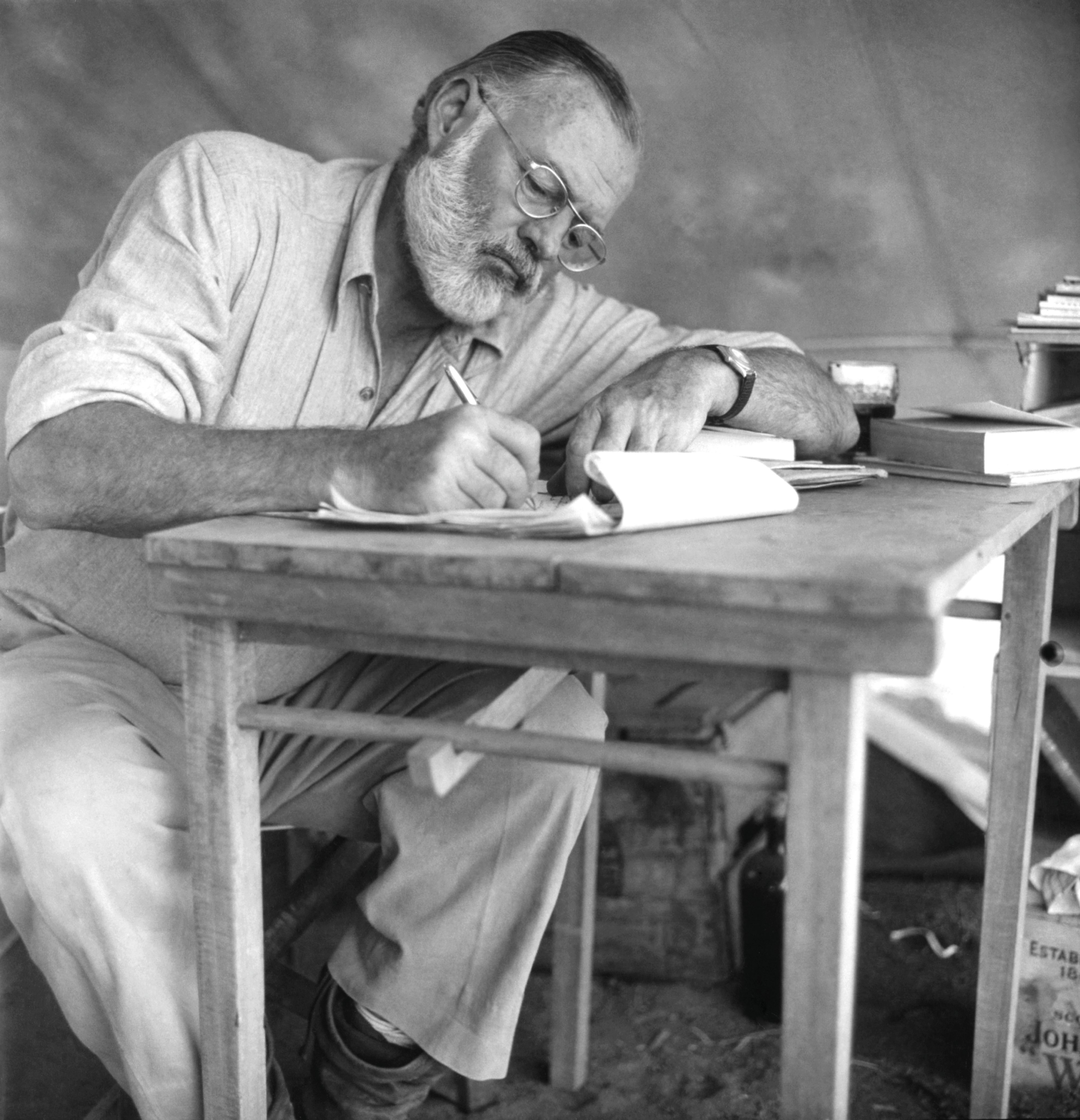
▲ Se a arte for uma tentativa de reprodução do mundo e da vida, então aquilo que todos os extraordinários escritores, foram capazes de fazer é superado simplesmente por quem cria vida, como ela é
Getty Images
A literatura é então esta atividade bastante bizarra que consiste em tentar captar num objeto quase bidimensional como é uma folha de papel uma realidade que nos extravasa absolutamente, associando-se depois a isso uma ideia vaga de triunfo.
Há ainda um aspecto que intensifica este problema, já de si bastante penoso. Se a literatura consiste nesta tentativa de saltar até à lua, os prémios literários poderiam então ser uma redução desse objetivo último, transformando-se tudo isto numa simples competição de salto à vara, em que premiamos não o que chegou mais perto de cumprir esse objetivo inalcançável, mas apenas o que ficou mais longe do chão. Justificar-se-ia então, reduzido drasticamente o escopo destes prémios, que vestíssemos o nosso melhor fato e nos encaminhássemos para Estocolmo para louvar graciosamente os ilustres vencedores.
Só que, na verdade, podemos estar a premiar os vencedores errados. Se o trabalho de um artista é, como dizia o pintor e crítico de arte inglês John Ruskin, o de reconhecer frouxamente aquilo que não conseguimos expressar, então premiar essa derrota não parece fazer grande sentido. Se, pelo contrário, a arte for uma tentativa de reprodução do mundo e da vida, então aquilo que todos os extraordinários escritores, nos seus maiores dias de glória, foram capazes de fazer com os seus livros é superado facilmente pelo que milhões e milhões de casais de analfabetos nus ou seminus fizeram durante milénios sem grande dificuldade: criar vida, como ela é.
Nesse sentido, talvez possamos ler um dos maiores romances da história da literatura como uma admissão desta terrível descoberta. A 16 de junho de 1904, James Joyce e Nora Barnacle, na altura camareira do Finn’s Hotel, tiveram o seu primeiro encontro romântico que acabou numa atividade que tradicionalmente não tem vindo a ser premiada pela Academia Sueca. Se o Dia Triunfal de Pessoa, como bem sabemos, foi passado junto a uma cómoda alta, o de Joyce terá sido passado num beco pouco iluminado de um subúrbio no sul de Dublin. Joyce, aliás, atribuiria tanta importância a este dia que não só confessaria a Nora que fizera dele um homem, mas, bem mais importante, situaria a ação de Ulysses precisamente neste dia. Joyce parece então reconhecer assim a absoluta impotência da literatura, ao sugerir que as setecentas e muitas páginas da sua obra-prima são apenas uma tentativa de captar tudo aquilo que lhe acontecera num passeio com uma mulher por quem se apaixonara. Um passeio infinitamente mais premiável do que Ulysses.
joaopvala@gmail.com