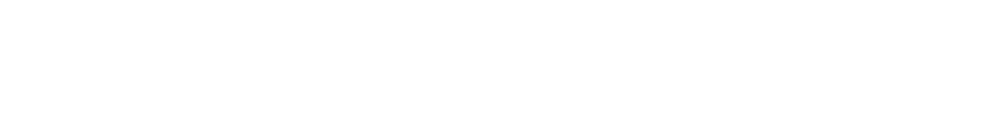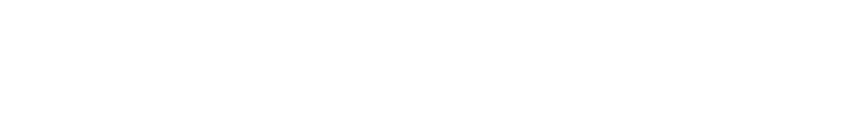Considerado um pessimista, Martin Wolf, principal comentador económico do Financial Times, não refuta a ideia, mas antes justifica o seu pessimismo pelo facto de dizer que os seus maiores erros foram resultado de um excesso de otimismo. Por outro lado, esse pessimismo permitiu-lhe ter muitas surpresas agradáveis. Além disso, invoca as suas origens judaicas: “A história da minha família alerta‑me para a fragilidade da civilização”.
Mas se é um pessimista, Martin Wolf, que não olha para um mundo cor de rosa, acredita que há caminhos. E é isso que faz no seu mais recente livro — lançado agora em Portugal pela Gradiva — “A Crise do Capitalismo Democrático”, no qual propõe um novo New Deal (o programa de recuperação económica lançado pelo governo de Franklin D. Roosevelt nos EUA, depois da Grande Depressão).

Livro de Martin Wolf
“Este livro é uma resposta a esta nova e preocupante era. O seu argumento central é simples: quando olhamos atentamente para o que está a acontecer nas nossas economias e nas nossas políticas, temos de reconhecer a necessidade de uma mudança substancial para que os valores centrais ocidentais da liberdade, da democracia e do Iluminismo sobrevivam. Mas, ao fazer isso, também devemos lembrar‑nos de que reforma não é revolução, mas o seu oposto. Não é apenas impossível, mas errado, tentar recriar uma sociedade a partir do zero, como se a história dela não tivesse contado para nada”.
Um ponto de partida, também, para a conversa (à distância) que o Observador teve com o economista, que esta segunda-feira, 23 de outubro, vem a Portugal para a 5.ª conferência do Ciclo Novas Conferências do Casino 2023, para falar sobre o mundo que nos espera. Mudanças ao nível da governação das empresas ou admitir que o problema da energia só se resolve com tecnologia são apenas duas das ideias deixadas por Martin Wolf, que demorou cinco anos a escrever este livro.
O mundo está de pernas para o ar e a culpa é da economia?
De certa forma. Esta é uma questão muito importante porque o ponto mais óbvio sobre o nosso mundo é o de que a economia alterou-se tanto nos últimos, digamos, 200 anos, o que não é um período longo na história da humanidade, é um período muito pequeno, e continua a mudar tanto que, ao longo do tempo, transformou completamente os nossos modos de vida, as nossas oportunidades, os modos como nos governamos, as perspetivas que temos de nós próprios, as nossas expectativas de vida, os nossos papéis sociais e de género. Então, em certo sentido, a economia é responsável por tudo.
Para o bem e para o mal…
Certo. E isto é importante. No meu livro faço a afirmação, bastante ousada, de que toda a sociedade humana evoluiu para fazer a economia humana funcionar. Na verdade, essa é a pergunta mais fundamental de todas, que é quem somos, quem são os seres humanos, e somos únicos. É um ponto muito importante e define muito bem a base do meu livro. A minha teoria, que não é original mas é fundamental, é que a maneira que os seres humanos arranjaram — por acidente presumo, talvez algumas pessoas possam acreditar que foi por intervenção divina, mas eu não acredito –, em competição com outros animais, para viver foi dependendo em larga escala da cooperação e numa divisão do trabalho. Assim, o ser humano parece ter criado há muito, muito tempo, ao formar grupos de caçadores recoletores de 100 a 150 indivíduos, grupos familiares, sistemas de cooperação com uma intensa divisão de trabalho dentro desses grupos. E nenhuma outra espécie, além dos insetos sociais (mas isso é outra história), foi tão longe como os seres humanos. E isso foi apenas o começo, porque conseguimos, a partir daí, criar estados e impérios com dezenas de milhões de pessoas.
E criámos o que é o sistema económico global — abrangendo, de diferentes formas, oito mil milhões de pessoas –, que controlou completamente os recursos do planeta em múltiplas direções e de múltiplas formas e caracterizado pela mais extrema divisão do trabalho dentro e fora das fronteiras. A nossa solução para o problema económico revelou-se numa série interminável de inovações e transformações sociais, políticas, económicas e tecnológicas, as quais nos últimos dois séculos foram, de longe, as mais dramáticas. Percebe-se agora que o que a economia dá, a economia tira. Este é o ponto, porque vai mudando e vai colocando novos desafios que derivam das soluções aos velhos desafios. Então, em certo sentido, este é o nosso pacto faustiano (do Dr. Fausto). E, neste momento, a economia que criámos está a criar-nos múltiplos problemas porque não está a funcionar da forma como, em certo sentido, gostaríamos, e há uma série grande de problemas sociais e políticos. Como fizemos no passado, teremos de elaborar um novo conjunto de soluções.
Chegámos a um ponto em que construímos uma sociedade desigual e com uma tremenda falta de confiança no sistema político e no económico. É um ponto que altera todos os pensamentos económicos?
Tentámos fazer com que isto funcionasse através de um sistema baseado no consenso, na competição política, na liberdade, nas liberdades políticas, sociais e económicas, nas liberdades individuais e na coesão social, tudo misturado, e isso funcionou, eu diria, muito bem. Na maioria dos critérios que utilizaria, prosperidade, estabilidade política, direito individual, a sociedade capitalista democrática foram bastante bem-sucedidas e se perguntássemos aos nossos antepassados, de há 300 anos, o que achavam sobre a forma como vivemos, achariam bastante notável. Mas, a forma como resolvemos isso e a forma como evoluiu criou algumas instabilidades muito sérias. A economia tem sido menos estável do que gostaríamos, gerou mais desigualdades do que gostaríamos, sofreu mais choques do que gostaríamos e o resultado é uma menor confiança nas estruturas políticas, sociais e económicas. E muitas respostas acabam por chegar, como aconteceu no passado, de populistas e terceiros que prometem soluções simples… Neste momento, os populistas de direita estão a ter mais sucesso que os populistas de esquerda.
Estamos mesmo numa recessão democrática? Há o risco de passarmos a ter mais e mais países com regimes autoritários?
Bem… é o que, neste momento, parece. O termo da recessão democrática foi desenvolvido por Larry Diamond, da Universidade de Stanford e da Hoover Institution.
Mas concorda com a definição?
A sua afirmação é a de que as normas democráticas, tal como evoluíram no último século, foram erodidas. Estamos a ver autocratas chegarem ao poder em muitos países com democracias mais frágeis, Turquia, Índia, em países na América do Sul, Obrador no México, etc. onde pensávamos que a democracia estava a progredir e estamos a ver até mesmo em países que pensávamos terem democracias fortes…
Os Estados Unidos da América?
Particularmente, mas não só. Políticos populistas de direita estão a ter sucesso em França, na Itália e até, surpreendentemente, na Alemanha, apesar da história. Portanto, teríamos de dizer que estamos a assistir a uma recessão e a um apelo crescente de formas políticas autocráticas e demagógicas, e isso é uma preocupação e parece ser algo global e é um desafio.
A recessão democrática está de mãos dadas com a recessão económica? Não estamos em recessão económica, mas estamos com baixos crescimentos. Estão associados?
Essa é uma questão controversa e muitas pessoas concordam que é um problema. Em termos gerais, existem duas teorias, mas penso que ambas são relevantes. Uma é que uma economia que não conseguiu gerar benefícios iguais e transversais na sociedade. É uma sociedade que dá assistência às camadas mais baixas, mas aumenta o fosso entre as pessoas que estão no topo e as que estão na classe média e na média-baixa, aumenta a insegurança, aumenta o baixo crescimento. E a combinação do aumento da desigualdade, do aumento da insegurança e do crescimento mais lento gerou resultados muito dececionantes para grandes partes da sociedade. Na Grã-Bretanha, por exemplo, uma proporção muito considerável da sociedade registou uma estagnação real nos rendimentos disponíveis ao longo dos últimos 15 anos, o que não acontecia há mais de um século, bem mais de um século, na verdade. O que tem sido um grande problema.
Além disso, ou paralelamente, ocorreram profundas mudanças sociais e culturais. Houve uma transformação da população, com uma imigração massiva, o que em muitos países foi bastante inesperado, e que tem estado associado à ascensão do multiculturalismo e as tensões que isso cria. Houve uma profunda mudança social que acompanhou a ascensão de uma proporção muito maior da nossa população que é qualificada, liberal, progressista e que tem ideias sobre como a sociedade deveria ser organizada, o que muitos nas classes média e média baixa não gostam muito. E tudo isso abriu a porta para os populistas se concentrarem na cultura.

▲ Martin Wolf lançou o livro "A Crise do Capitalismo Democrático" e participa segunda-feira, 23 de outubro, na 5.ª conferência do Ciclo Novas Conferências do Casino 2023
Bloomberg via Getty Images
Mas, na minha opinião, a sensação de crescente insegurança e medo de queda, juntamente com a crise financeira e as suas consequências, desempenham um papel importante no aumento da ansiedade, da insegurança, da irritabilidade das pessoas que, assim, ficam mais predispostas para ouvir o tipo de retórica populista e demagógica que argumenta que tudo isto é culpa das elites progressistas, dos imigrantes e das mudanças culturais. E vê-se o tipo de políticos como o governador da Florida, DeSantis, como Donald Trump claro. Este tipo de retórica, xenófoba, nacionalista, populista, torna-se popular quando as pessoas se sentem inseguras, e foi isso que aconteceu. Pelo menos é parte do que aconteceu na década de 1930.
Rendimento básico universal? Martin Wolf vê outras prioridades
↓ Mostrar
↑ Esconder
Martin Wolf não é um grande adepto do rendimento básico universal (RBU). Considera, antes de mais, uma questão de prioridades.
No livro aponta um exemplo. Martin Sandbu, do Financial Times, considerou um RBU de 7.150 libras por ano para cada adulto, um terço do rendimento médio disponível. Mas o RBU levaria à abolidação do subsídio (ou isenção) antes do pagamento do imposto (no Reino Unido, o custo desse subsídio antes do imposto sobre o rendimento e das contribuições para a previdência nacional equivale a cerca de 7,5% do PIB). Reduziria o custo do RBU para pouco menos de 10%. E substituiria a pensão estatal, que tem praticamente o mesmo valor (pouco mais de 7000 libras por ano). O que pouparia 5% do PIB, reduzindo o custo a 5% do PIB. Uma quantia que é aproximadamente o que o Reino Unido gasta em educação e metade do que gasta em saúde.
“O problema é que o dinheiro iria principalmente para as pessoas que hoje não recebem apoios”. Ou seja, os 5% adicionais do PIB “vão para pessoas que têm o suficiente para não receberem, agora, qualquer ajuda. Basicamente os 5% vão para pessoas como eu. Não vejo qualquer ponto nisso, porque é ridículo. A única vantagem é que baixaria a taxa marginal de imposto para as pessoas abaixo e isso percebo. Mas pensaria em tantas outras coisas para esses 5%… Precisamos de gastar mais em saúde; os nossos apoios assistencialistas são, claramente, muito baixos para as pessoas que estão verdadeiramente necessitadas, para os deficientes, as famílias monoparentais, etc. O nosso investimento em infraestruturas é ridiculamente baixo”.
Por isso, Martin Wolf diz que o RBU não seria uma utilização, a ser ver, prioritária dos limitados fundos públicos.
Inglaterra anunciou que iria testar o rendimento básico universal.
Um novo New Deal
Defende o que designou de um novo New Deal. Por onde começar?
Defendo que se quisermos ter uma resposta positiva a isto, temos de responder às ansiedades das pessoas, ou às principais ansiedades, e isso significa que precisamos de concentrar a política em fazer com que as pessoas se sintam mais seguras, em melhor situação, com melhores oportunidades para si próprias e para os seus filhos, e escapar às guerras culturais que não nos levarão a lado nenhum. As guerras culturais não podem ser vencidas, são inerentemente e profundamente divisivas. A minha sugestão é que precisamos de nos concentrar em políticas que gerem mais crescimento, e tenho algumas ideias sobre isso, sobre poupança, investimento, inovação. Precisamos de garantir que maximizamos as oportunidades para as pessoas, melhorando a difusão e a disponibilidade da educação a toda a sociedade, dando às pessoas oportunidades de competir e de entrar na sociedade com sucesso a nível económico. Temos de enfrentar enormes desigualdades regionais, o que varia entre os países. Não tenho ideia de qual é a situação em Portugal, que é um país relativamente pequeno, mas na Grã-Bretanha a desigualdade regional foi um grande fator do voto a favor do Brexit. E se olharmos para a América, muitas das regiões e áreas que votam na direita são áreas rurais que são as mais pobres. As partes mais ricas dos EUA são, em sua maioria, mais progressistas, social-democratas, democráticas se preferir. É preciso uma agenda que se concentre nessas coisas.
É importante que as empresas sejam vistas como responsáveis perante as pessoas, para além dos seus accionistas. Esta alienação das corporações também é importante. Precisamos de um governo que seja um pouco mais ativo e que, até certo ponto, recrie, o que depende do país, os sucessos da social-democracia de meados do século XX num mundo diferente. O mundo é diferente e nunca regenerará a velha classe trabalhadora industrial daquela época, que desaparecerá. Mas penso que a ideia de um Estado mais ativo em parceria com as empresas privadas faz muito sentido, e esta é uma espécie de reação contra o ultraliberalismo, por vezes chamado de neoliberalismo, dos anos 80 e 90, e para mim é certamente um ponto de partida.
É um pouco assustador as respostas dadas pelos millennials, pelos mais jovens, sobre a democracia. Nós demos a democracia como certa, mas os jovens não a dão?
É muito assustador. Eu tinha um amigo, que morreu em 86, um amigo muito chegado, que uma vez me disse: ‘Martin, não é verdade que não aprendemos com a história. Aprendemos e depois esquecemos’. O que quero dizer é que tendemos a repetir os erros dos nossos bisavós e avós, mas não o dos nossos pais, porque esses ainda os vemos. Se for europeu continental, por exemplo, os jovens não experimentaram diretamente o fascismo, se é jovem não sabem o que é. Em Portugal, as pessoas que se lembram da ditadura já são mais velhas. As pessoas que estão com 20/30 anos não se recordam de nada disto e olham para o presente, para os problemas ambientais, para a desigualdade, para a corrupção, consideram que as pessoas não se estão a comportar de forma apropriada e responsável.
A verdade é que nas nossas democracias, os velhos, pela primeira vez na história, superaram os jovens. Nunca aconteceu antes, e é uma forma pouco natural de gerir a sociedade. Historicamente, os jovens eram mais que os idosos. Agora, há uma situação completamente nova em que, dadas as taxas de natalidade, temos mais idosos do que jovens. Tudo isto faz com que os jovens se sintam descontentes porque sentem que a democracia não responde às suas preocupações e, afinal, são eles que vão viver durante o próximo meio século. Eu percebo bem isto. Bem… felizmente, não estão a ser seduzidos pelo comunismo revolucionário, o que provavelmente é uma coisa boa. Mas acho que há, para o meu gosto, demasiado fanatismo de direita por aí, e de uma forma que pode ser ainda pior. Não sei como é que vai acabar. Há muitas evidências, por exemplo no Inquérito aos Valores Mundiais, verifica-se que os jovens estão menos apegados à democracia do que os seus pais, entendem menos do que se trata, não lutaram por isso, não se lembram das guerras mundiais, não se lembram dos antigos ditadores. Não podemos fazer nada a esse respeito. É uma realidade.
Em relação às mudanças climáticas, vemos cada vez mais protestos de jovens pedindo o fim do capitalismo. O que aconteceria se parássemos a industrialização?
Como o capitalismo está associado à economia, e eles não gostam do capitalismo desistem da economia. A forma mais radical é o chamado movimento de ‘decrescimento’, uma espécie de ‘vamos parar o crescimento’, que, às vezes, parece pretender desfazer a maior parte da atividade económica que temos. Parece-me que isso é completa e totalmente irrealista. Primeiro. Vamos assumir que a economia mundial fica estagnada onde está agora, continuaremos a produzir muito mais CO2 e outros gases com efeito de estufa do que a atmosfera mundial pode absorver, e, portanto, o problema climático irá continuar a piorar. Portanto, parar o crescimento não resolverá o problema. Segundo. Se tentássemos travar o crescimento, provavelmente tentaríamos fazê-lo em todo o sítio, o que significa que estaríamos a congelar o mundo num padrão de produção enormemente desigual. O PIB per capita dos países desenvolvidos, em termos reais, que é a produção, é quatro a cinco vezes maior que a média mundial. O que permite concluir que a maioria dos países do mundo em desenvolvimento está abaixo da média mundial. A China está aproximadamente na média mundial. Ora, com isso estaríamos a permitir que os países desenvolvidos continuariam a produzir quatro vezes mais que a média mundial e a maioria das pessoas viveria para sempre abaixo da média mundial. Não há hipótese nenhuma que as pessoas nos países em desenvolvimento aceitassem isso, obviamente, e então contrapunham: ‘vocês [nos países desenvolvidos] encolhem e nós crescemos’. O que simplesmente mudaria a origem da poluição, mas não a reduziria. A ideia de que qualquer governo no mundo ocidental aceitaria reduzir o PIB per capita em 75% para voltar à média mundial, ou um pouco menos do que isso, para que todos os outros tivessem espaço para crescer, também não vai acontecer. Obviamente não vai acontecer. Não existe nenhum sistema político que permitiria que isso acontecesse.
E, finalmente, se o mundo todo realmente concordasse que tínhamos de parar toda a indústria, a fim de parar a destruição que significou, seria, basicamente, desfazer os avanços económicos dos últimos dois séculos, que trouxeram consigo todos os problemas, mas trouxeram melhorias maciças nos padrões de vida — quase abolimos a fome, o que é uma conquista incrível, conseguimos melhorias na igualdade na nossa sociedade, especialmente para as mulheres, para já não falar das melhorias nas ciências médicas. E não podemos desfazer tudo isso. É impossível.
Portanto, se eliminarmos todas as soluções impossíveis, torna-se óbvio que a única solução possível é aquela em que mudamos para um modelo tecnológico completamente diferente, em que dependemos apenas das energias renováveis. A energia é o mais importante. As outras coisas passam pela reciclagem e pela mineração. Mas estou bastante otimista. Há imensos problemas, mas há evidências de que, tecnologicamente, podemos gerir a nossa economia sem utilizar combustíveis fósseis. O que vai exigir grandes investimentos, será disruptivo e mas parece-me óbvio. É a única solução politicamente viável. As outras são apenas fantasias. Não podem simplesmente acontecer e certamente não nos próximos 10 ou 20 anos, que é o que precisamos. Temo que as pessoas me odeiem por isso, mas acho que a tecnologia criou as oportunidades que temos, os problemas que temos, mas creio que as únicas soluções que temos são mais tecnologia, porque é isso que os seres humanos fazem.
2016 — Trump e Brexit — foi o gatilho para Martin Wolf avançar para o livro
O livro entitula-se “A Crise do Capitalismo Democrático”. Qual foi o gatilho para haver esta crise do capitalismo democrático? A crise financeira, a crise pandémica ou a crise inflacionista?
Num livro sobre a crise financeira já tinha dito que se alguma vez tivermos outra crise financeira como a que tivemos, não tenho a certeza sobre o que acontecerá ao nosso sistema político. Foi a recessão democrática geral. Mas [agora] o grande gatilho foi o Brexit e, mais importante, Trump que representou, penso eu, uma mudança suficientemente grande na política do país democrático mais importante que tive de me perguntar bem: porque é que isto está a acontecer? Como isso se relaciona com o que tem acontecido nas últimas três ou quatro décadas e mais recentemente? A democracia vai sobreviver? Desde então comecei a planear o livro… em 2016. Comecei a escrever em 2017.
Começou em 2017?
Demorou bastante, porque foi muito difícil trabalhar todas as áreas. Além de que, claro, as coisas continuaram a acontecer. Tive de trabalhar durante a pandemia. Escrevi um capítulo sobre a pandemia, o qual, depois, livrei-me dele. Foi uma perda de tempo porque estava completamente desatualizado assim que o escrevi… Aconteceram todos os outros desenvolvimentos. E, depois, escrevi demais e tive que cortar. Demorei muito mais tempo do que em qualquer livro anterior. Escrevi durante cinco verões — só escrevo no verão. Para mim, a única coisa boa, que é uma satisfação puramente pessoal, é que as preocupações continuam legítimas. A ideia de que a democracia é muito frágil, mesmo em alguns dos países onde a tomamos como certa, é agora amplamente aceite, muito particularmente nos Estados Unidos, e a receção ao livro indicou-me que um grande número de pessoas, como eu, partilham as preocupações. A ideia de que o sistema democrático, que acreditávamos era duradouro, estável e bem sucedido, é na verdade frágil, instável e não tão bem sucedido é muito amplamente mais partilhada do que eu esperava.
Tivemos a crise financeira, a crise pandémica e a crise inflacionária de forma consecutiva. Os governos meteram muito dinheiro nas economias, ajudando famílias e empresas. Isso foi positivo? Considera que as respostas política e as dos bancos centrais a estas três crises foram as corretas?
Dada a dimensão dos choques que vivemos e que já duram há quatro anos, mas se considerarmos que começou com a crise financeira estamos, então, no 16.º ano. A crise financeira foi obviamente um choque muito grande. Depois tivemos estes três choques bastante significativos: a pandemia, o pós-pandemia, as perturbações na cadeia de abastecimento, a guerra na Ucrânia, a inflação mais ampla e depois o aperto da política monetária. Eu diria que os governos ocidentais nos seus próprios países lidaram com estes enormes choques tão bem quanto poderiam.
Martin Wolf, no livro, admite que o aumento da inflação em 2021 e 2022 “pode vir a revelar‑se temporário e os riscos de um
regresso a uma inflação persistentemente alta poderão ser modestos”.
Não havia forma de estes choques não serem desestabilizadores e destrutivos. Não creio que isso pudesse ter sido evitado. Mas é claro que tiveram que responder à inflação. Fizeram isso perfeitamente? Quem sabe? Estavam certos em utilizar fundos públicos para apoiar as pessoas durante a pandemia? Talvez tenham exagerado, já que houve demasiada expansão orçamental e monetária. Mas é importante lembrar que no início de 2020 ninguém sabia quanto tempo duraria a Covid, quão ruim seria, se iriam estar disponíveis tratamentos, era tudo incerto. Nessa situação, entendo por que gastaram tanto dinheiro. O grande fracasso foi não se ter gastado mais nos países em desenvolvimento e emergentes, mas isso é outra questão. Considero que responderam a esses desafios tão bem quanto poderiam ter feito, mas foram dispendiosos e as pessoas continuam a sentir-se ansiosas porque passaram por todos esses choques. Mas não os critico. Agora, têm problemas de longo prazo, alguns remontam à crise financeira e até anteriores, com os quais ainda não lidaram. E temos estas economias relativamente fracas e relativamente desiguais, e esse é um problema que eles ainda têm de enfrentar. Mas não critico o que fizeram nos últimos quatro anos. Em geral, existem alguns problemas técnicos, mas nada de muito relevante.
Em relação ao papel das empresas. Estão atualmente a pensar apenas nelas próprias?
Não tenho uma resposta concreta, porque para a maior parte das coisas não existem respostas perfeitas. Tudo, na minha opinião, são compromissos. Defino o capitalismo e a democracia como opostos complementares, e isso implica tensão. Por outras palavras, a tensão faz parte da tensão de qualquer sociedade civilizada complexa. Não há soluções, mas a questão é, antes de mais, que a cooperação é uma invenção social espetacularmente bem sucedida e não poderíamos imaginar as nossas economias de forma alguma sem estas entidades e as proteções legais e a independência que elas têm como entidades independentes. Mas, ao mesmo tempo, são obviamente muito poderosos, dispõem de enormes recursos e podem ter um efeito muito grande nos nossos entendimentos políticos, sociais e económicos.
Não lhes pode ser permitido fazer o que quiserem, nem podem ser autorizadas a organizar a política como querem. Trata-se de obter as vantagens sem as desvantagens. De um modo geral, vejo duas dimensões do que queremos fazer. A primeira é garantir que a sociedade possa regular as empresas nos comportamentos, o que gera o que os economistas chamam de externalidades, nomeadamente coisas que afetam a sociedade e que elas não têm em conta quando tomam as suas decisões, como a poluição ambiental ou o desemprego em massa, etc, e isso requer regulamentação e controlo, entre outras coisas, por parte dos governos e dos processos políticos, e é importante neste contexto que as empresas não controlem os processos políticos. Uma das coisas da que falo é de como os processos políticos podem ser criados e executados sem a indevida influência das corporações e dos interesses corporativos. O segundo aspeto é a gestão das próprias empresas. As corporações são entidades autónomas, e têm de ser, dentro da lei e da estrutura regulatória, mas obviamente é um problema se prestarem contas apenas a um grupo de interesses, nomeadamente os acionistas.
Mas numa empresa detida por milhões de pessoas ninguém é verdadeiramente o responsável. A gestão pode, em certo sentido, fazer o que quiser. Por isso precisamos de controlos mais efetivos em relação à governação. Há duas propostas. Uma delas é explicitamente, nos estatutos, escrever-se os objetivos da empresa. O objeto social é que conduz a empresa, afastando-se apenas da maximização do valor para o acionista. Não tenho tanta certeza disso, mas é uma ideia interessante. O meu amigo Colin Mayer, professor em Oxford, escreve muito sobre isso. A outra abordagem, que considero mais relevante, é tentar ampliar a governação corporativa para incluir os trabalhadores, como fazem na Alemanha, porque os acionistas não são os únicos tomadores de risco na empresa, muito longe disso, e, por isso, considero importante que os trabalhadores tenham uma participação no controlo das corporações, não necessariamente dominante, mas uma voz. Estas duas dimensões, o papel das empresas na governação, no governo e na democracia, e o papel dos trabalhadores na influência são duas formas de o fazer.
E uma diferente tributação para as empresas?
A minha opinião geral é que se se pretende tributar o rendimento que provém das empresas, a forma mais simples é tributar o rendimento distribuído, dos dividendos e das recompras de ações ao mesmo nível do rendimento do trabalho. Claro que isto aumenta o imposto sobre os lucros retidos na empresa que se pretende que seja investido. Para promover investimento, então, é precisa combinar essa solução com a dedução total das despesas com investimento. Portanto, não se tributa o investimento porque a sociedade quer que as empresas invistam, mas tributa-se como rendimento, efetivamente, a riqueza à medida que é repassada aos acionistas.
Há o problema adicional, que não discuto muito, de que as pessoas que possuem empresas, se detiverem o suficiente, podem deixar o dinheiro na empresa e contrair empréstimos contra a riqueza [dando garantias com a sua carteira] que acumularam e podem viver disso, totalmente isento de impostos. Existem maneiras de apanhar isso ou com impostos sobre a riqueza e/ou alterar a tributação das despesas com juros. Assim, resumindo, as alterações no imposto sobre as sociedades destinam-se a promover o investimento e a garantir que os proprietários das empresas paguem impostos tal como todos os outros. É tecnicamente complicado, é difícil de fazer, mas é claramente a direção que temos que seguir.
É considerado um pessimista. O seu livro não ajuda na mudança dessa perceção. Continua muito pessimista?
Tenho várias respostas para isso. Há a famosa frase: ‘pessimismo da razão, otimismo da vontade’ [Antonio Gramsci]. Escrever um livro como este é um ato de otimismo, porque vai permitir às pessoas perceberam, concordaram e mudarem. A outra resposta é que sendo pessimista tenho tido razão, nem sempre, mas quando não tenho razão tenho boas surpresas e eu prefiro ter surpresas boas. Por isso, se não tivermos a expectativa de que as coisas estão muito bem, tendemos a ter boas surpresas. E tem havido. E a última coisa, talvez a mais importante, é que é um caminho de reduzir complacência. Não se devia assumir que tudo vai correr bem, porque muitas vezes isso não acontece. E se prestarmos atenção ao que pode correr mal isso encoraja as pessoas a tomarem decisões para evitá-lo, conduzindo a um melhor resultado, do que se simplesmente fingir que está tudo bem. Talvez seja um erro, mas vamos supor que há um problema e vamos supor que agimos porque estamos preocupados com a possibilidade de isso ser um problema… Então o pessimismo foi usado com realismo para mudar a realidade. E mudar a realidade para melhor é, penso eu, a obrigação moral de cada ser humano, se puder.
No fundo deixa uma mensagem: “A democracia não é perfeita, mas é o único regime que devemos defender”.
A combinação da economia de mercado com a democracia provou gerar, para mais pessoas do que nunca, uma sociedade mais tolerante, uma sociedade na qual não há medos em massa, não há guerra, não há guerra civil, há descentralização, as pessoas têm uma voz. Sim, acho que essas são as melhores sociedades que alguma vez houve. Portugal teve muita sorte em escapar às ditaduras e fez enormes progressos sociais. Não acho que alguém que diga que há um ditador que tem todas as respostas entenda alguma coisa sobre a história e sobre a humanidade. Sim, não é apenas o melhor sistema, como também é o sistema mais moral, porque é o sistema que permite que todos tenham voto nas suas vidas e nas suas políticas. E essa é uma grande virtude moral.