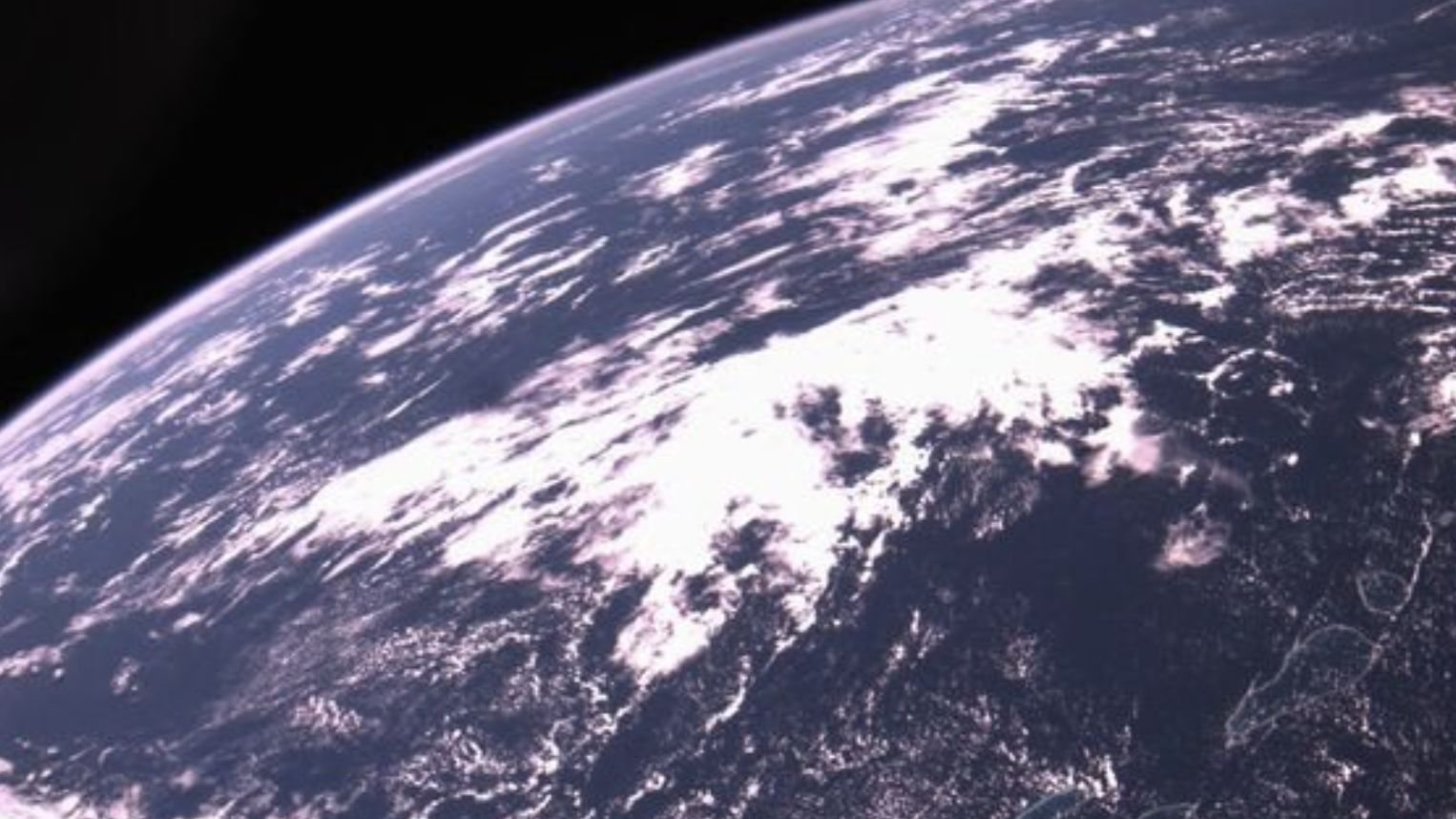Como já foi amplamente noticiado na comunicação social, nestes últimos dias, a esquerda parlamentar socialista, comprovando o seu ADN antiliberal e estatocrático, inimigo da Sociedade Civil, recusou alargar a atribuição da gratuitidade dos manuais escolares aos alunos que legalmente não frequentam o ensino em estabelecimentos escolares estatais.
Já muito foi dito em crítica desta deliberação parlamentar, que é evidentemente inconstitucional, porque discrimina os alunos com base numa escolha que, a eles e aos seus pais, é constitucionalmente garantida como seu inato e inviolável direito fundamental de liberdade de ensino e direito social ao ensino. Discriminação negativa que é expressamente proibida pela Constituição, nestes termos eloquentes do art. 13.º: «(1) Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. (2) Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual».
Note-se bem que a enumeração de injustas causas de discriminação negativa que consta do n.º 2 deste artigo é exemplificativa. O princípio geral está muito claro no n.º 1. E haverá que perguntar à maioria de esquerda socialista da Assembleia da República se os cidadãos portugueses podem ser discriminados por escolherem uma escola não estatal. Podem? Não podem. Além da Constituição, as leis em vigor dão plena liberdade para essa escolha e atribuem a mesma validade aos diplomas nas escolas estatais e nas escolas privadas. O dever de o Estado garantir a gratuitidade do ensino obrigatório vale igualmente para todos os alunos, sem prejuízo da sua liberdade constitucional e legal de escolherem uma escola não estatal.
Citarei apenas a Lei n.º 85/2009, que foi da iniciativa do Governo Sócrates. Diz assim, no seu art. 2.º: «(3) A escolaridade obrigatória implica, para o encarregado de educação, o dever de proceder à matrícula do seu educando em escolas da rede pública, da rede particular e cooperativa ou em instituições de educação e ou formação, reconhecidas pelas entidades competentes, determinando para o aluno o dever de frequência.» E imediatamente acrescenta, no art. 3.º: «(1) No âmbito da escolaridade obrigatória o ensino é universal e gratuito. (2) A gratuitidade prevista no número anterior abrange propinas, taxas e emolumentos relacionados com a matrícula, frequência escolar e certificação do aproveitamento, dispondo ainda os alunos de apoios no âmbito da acção social escolar, nos termos da lei aplicável. (3) Os alunos abrangidos pela presente lei, em situação de carência, são beneficiários da concessão de apoios financeiros, na modalidade de bolsas de estudo, em termos e condições a regular por decreto-lei.»
Em apoio da crítica à gravíssima deliberação da maioria de esquerda socialista e antiliberal da Assembleia da República, citarei no original a decisão tomada pelo Tribunal Constitucional Italiano, há 28 anos.
Lê-se nesse acórdão: o Tribunal Constitucional Italiano «Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all’obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale; […] Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1994.»
E em complemento permito-me republicar aqui um comentário que já publiquei anteriormente, em que se comparam as concepções portuguesas com a questão já decidida constitucionalmente em Itália.
1. Em 2 de Janeiro de 2020, enviou a Provedora de Justiça ao Ministro da Educação uma «Recomendação» assim inicialmente justificada:
«Senhor Ministro: Dirijo-lhe esta Recomendação […] na sequência de mais de uma dezena de queixas que fui recebendo ao longo destes últimos dois anos, e que me foram sendo apresentadas quer por cidadãos quer por associações e instituições. Em todas estas queixas se contestava a justiça da medida de gratuitidade dos manuais escolares […] Alvo da contestação não era o facto de assim se ter estendido a disponibilização gratuita dos manuais escolares a todos os alunos na escolaridade obrigatória, mas antes o facto de essa mesma disponibilização se restringir, apenas, a quem frequentasse as escolas da rede pública do Ministério da Educação. […] Queixavam-se assim pais, encarregados de educação, associações de famílias e outras instituições de serem destinatários de uma medida legislativa discriminatória, porque fundada afinal de contas numa diferença totalmente destituída de sentido. A dicotomia público/privado – diziam – não podia ser apresentada como razão bastante para justificar que ficassem excluídos do benefício os seus filhos, os seus educandos e os seus estudantes; e, por isso mesmo, pediam-me que me dirigisse ao Tribunal Constitucional, a fim de requerer a declaração de inconstitucionalidade das normas cuja injustiça veementemente contestavam. […] Não acedi a este último pedido. É minha convicção profunda que a medida legislativa, tal como está hoje desenhada, não contradiz só por si os valores fundamentais da Constituição da República. Aliás – e voltarei ainda a este ponto – é frequente a adoção de medida idêntica em ordenamentos jurídicos que compartilham daqueles mesmos princípios constitucionais que, neste e noutros domínios, são também os nossos.»
E finalmente, formulou assim a Provedora de Justiça o seu pedido ao Ministro da Educação:
«Por todos este motivos, Senhor Ministro, recomendo-lhe que promova as iniciativas legislativas necessárias para que a atual medida de gratuitidade dos manuais escolares, que prevê a distribuição gratuita dos mesmos apenas para os alunos que frequentam a rede pública de escolas, seja completada por uma outra, que confira aos alunos comprovadamente carenciados que frequentem o ensino privado e cooperativo (sem contrato de associação), apoio idêntico ou equivalente àquele que é conferido aos estudantes da referida rede pública.»
O Ministro da Educação respondeu que não. E a Provedora de Justiça aquietou-se de maiores diligências nesta questão. Como já tinha deixado entender quando renunciou a recorrer ao Tribunal Constitucional por ser sua «convicção profunda» que o Estado não é obrigado a financiar os apoios e complementos sociais da gratuitidade do ensino escolar obrigatório, previstos na Lei de Bases, senão aos alunos das suas próprias escolas públicas. Confortando essa convicção profunda numa alegada prática dos países com quem partilhamos afinidades constitucionais, sem contudo dar provas dessas práticas nem indicar esses países.
Estranho é que, em vez da alegação de uma prática alheia, que, a existir, não é por si mesma paradigmática, porque não tem força normativa no nosso ordenamento constitucional nem no constitucionalismo moderno, o pedido não tenha sido mais exigente e baseado numa interpretação desejavelmente exaustiva do regime constitucional e legal português sobre os direitos e liberdades fundamentais de ensino escolar. Desenvolvido na Lei de Bases do Sistema Educativo, e depois em legislação complementar da Lei de Bases, designadamente no DL 35/90 e na Lei 85/2009. Sabendo-se, como se sabe, que há divergências políticas e jurídicas nesta questão, que foram acerbas na Assembleia Constituinte de 1975-1976, continuaram nos debates que precederam as imediatas leis da Assembleia da República que vieram interpretar correctivamente uma leitura literal de apenas um artigo da Constituição (o art. 75.º), e depois ainda nas revisões constitucionais. Basta, para o provar, consultar as duas mais importantes obras da jurisprudência portuguesa de Comentário à Constituição, respectivamente de Gomes Canotilho/Vital Moreira e de Jorge Miranda/Rui Medeiros, onde efectivamente se defendem interpretações muito divergentes.
Não havendo aqui espaço para maiores desenvolvimentos críticos, limitamo-nos a noticiar como decorreu o mesmo caso em Itália.
Diz assim o art. 3.º da Constituição Italiana: «Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, sem discriminação de sexo, de raça, de língua, de religião, de opiniões políticas, de condições pessoais e sociais…». A esta disposição corresponde o art. 13.º da nossa Constituição, que diz assim: «Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.»
Ora, com base nesta disposição constitucional do princípio da igualdade, que é comum em Itália e em Portugal, o Tribunal Constitucional Italiano aprovou o Acórdão de 30 de Dezembro de 1994 n. 454 (já lá vão quase trinta anos), assim oficialmente concluindo: «São constitucionalmente ilegítimos, porque em contraste com o art. 3.º da Constituição, os arts. […] da L. […] e os arts. […] do DL […], na parte em que excluem a prestação gratuita de livros escolares aos alunos das escolas elementares que cumprem a escolaridade obrigatória de modo diferente da frequência nas escolas estaduais ou habilitadas a conceder títulos escolares com valor legal».
No desenvolvido corpo em que o Tribunal Constitucional Italiano fundamenta esta decisão, é em certa altura expresso o argumento de que a evidente razão de ser da atribuição gratuita de livros escolares é em directo favor pessoal dos alunos do ensino obrigatório e das suas famílias, e não em favor das escolas estaduais. Porque são os alunos, ou as suas famílias, que teriam de comprar esses livros no caso de não lhes serem gratuitamente oferecidos pelo Estado. Portanto, a discriminação negativa é directamente entre alunos e famílias de diferentes escolas, e essa discriminação não pode ter justificação na escolha de escolas diferentes em que legalmente todos cumprem perfeitamente o ensino obrigatório. Lê-se aí, nesse mesmo Acórdão: «Assim, a norma impugnada estaria em contraste com o princípio da gratuitidade da instrução, com o da liberdade de inscrição em escolas privadas, com o da paridade entre escolas públicas e privadas e enfim com o princípio da igualdade […].
Em conclusão. O Tribunal Constitucional Italiano fundamenta as suas convicções nos princípios constitucionais vigentes em Itália — e não em alegadas velhas práticas de outros países. E especifica claramente (não apenas invoca) esses princípios, quando nele se argumenta (repita-se): «Assim, a norma impugnada estaria em contraste com o princípio da gratuitidade da instrução, com o da liberdade de inscrição em escolas privadas, com o da paridade entre escolas públicas e privadas e enfim com o princípio da igualdade […].»
A Constituição Portuguesa perfilha estes mesmos quatro princípios constitucionais, que estão clara e expressamente desenvolvidos em leis vigentes, designadamente na Lei de Bases do Sistema Educativo, no DL 35/90 e na Lei 85/2009. A que se deve acrescentar o mais recente princípio constitucional da subsidiariedade do Estado, que entrou expressamente no art. 6.º da Constituição pela revisão de 1997. Constitui portanto interrogação pertinente saber porque é que a interpretação e aplicação destes princípios tem vindo a ser inexplicavelmente omitida em questões agudas como as referidas nestas anotações — à luz do art. 277.º da Constituição, que impõe expressamente a observância dos princípios, e não apenas das normas-regras: «São inconstitucionais as normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados». Permitindo-se, deste modo, que em democracia personalista e pluralista baseada na dignidade da pessoa humana e nos seus direitos e deveres humanos-pessoais, inatos, invioláveis, inalienáveis e irrenunciáveis, continue paradoxalmente dominante a ideologia do Estado-educador monopolista, típica do Estado soberanista do século XIX e das piores experiências políticas de Estados totalitários e autoritários do século XX.