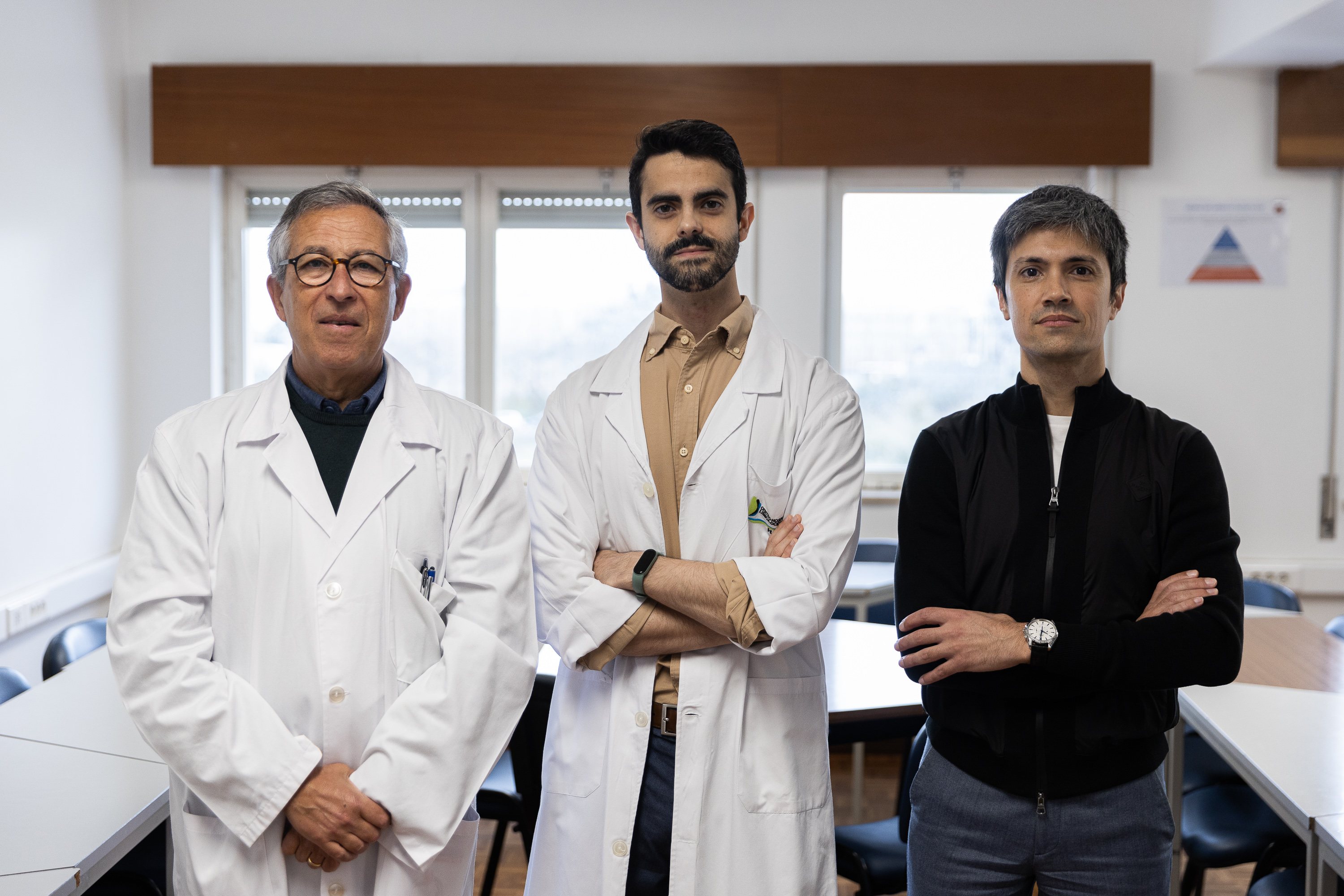Naquele dia, estive em Birmingham. Quer dizer, estava em casa, nos arredores de Lisboa, mas a cabeça tinha viajado para o Villa Park, ansioso para que o jogo começasse e despachássemos os checos, que eram bons mas não de ouro como os nossos: Fernando Couto, Paulo Sousa, Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto. E lá fiquei em Birmingham até ao minuto 53, quando Karel Poborsky – chapeleiro louco que ainda haveria de me dar alegrias, mas nenhuma que compensasse aquela tristeza – fez um chapéu à medida de Vitor Baía e que serviu ao país inteiro. Desabituados daquelas andanças – há dez anos que não púnhamos os pés numa grande competição – parecemos sempre um pouco tolhidos. Fala-se do 3-0 que aplicámos aos croatas, mas eles já estavam apurados. Os outros jogos foram todos assim-assim, como se a geração de ouro ainda estivesse a aquecer os motores.
Depois de um senhor francês (Marc Batta, como esquecer este nome?) nos ter dado cabo do motor, em 2000 regressámos aos quartos europeus, para enfrentar a Turquia. Eu estive em Amesterdão, concelho da Moita. Estivemos todos porque nesses quartos entrámos eufóricos depois de aviar ingleses, romenos e alemães com uma limpeza jamais repetida. Tanto trabalho, tanto génio, tanto talento para sermos eliminados pela Turquia? Impossível. Sentado no sofá a comer amendoins e a beber cerveja, sabia que os golos chegariam. E chegaram pelas botas inspiradas de Nuno Gomes, que até esse Europeu nunca marcara pela selecção e lá chegado cometeu esse acto completamente contrário à natureza lusitana que é o de aparecer nos grandes momentos.
Em 2004 é que foi. Contra os ingleses e eu a trabalhar na boca do lobo, em Alcochete, no Freeport, “a 30 minutos de Lisboa”, na noite em que Postiga atirou de cabeça como quem remata com o pé, Rui Costa atirou com o pé como quem remata como o Rui Costa, Ricardo defendeu sem luvas e chutou sem medos e o que mais recordo, além das lágrimas que todos chorámos de olhos postos nos ecrãs gigantes, é a brigada de ingleses, donos daquilo tudo, sentados na esplanada com as suas canecas de cerveja e muita mágoa para afogar.
Fui a Basileia, distrito de Setúbal, em 2008, ver uma selecção apagada, talvez a pressentir o adeus ao Scolari, ao Murtosa e à Senhora do Caravaggio, os jogadores a pensar como é que daí para a frente iriam ganhar jogos sem santinhas no balneário e sem bandeirinhas à janela, e a Alemanha, sem espírito de despedidas e adeuses, a despachar-nos com uma goleada tangencial. Basileia, nunca mais, disse eu, como já teriam dito os portistas vinte e quatro anos antes, esquecendo a máxima “nunca voltes a um lugar onde já foste infeliz”, sobretudo se tiveres de enfrentar alemães.
Dezasseis anos depois, o destino deu-nos oportunidade de vingar aquela derrota em Birmingham, embora os actores fossem outros. Apanhei o autocarro para Varsóvia, a quinze minutos de Quinta do Conde, e não descansei até ao momento em que Ronaldo disse “eu estou aqui” e com um balázio de cabeça sossegou a pátria em pulgas.
E eis-me aqui, de volta aos quartos, em Marselha, pertinho de Sarilhos Grandes, num confronto entre países catolicíssimos que só podia obrigar os santinhos a horas extraordinárias, indecisos entre quem levou a fé tão longe e aqueles que a mantiveram mesmo cercados de ateus por todos os lados. Ao segundo minuto viu-se logo que a legião de santinhos a favor dos polacos era mais rápida do que a nossa, que deve ter chegado atrasada ao cantinho do empíreo onde tais criaturas de Deus assistem aos sucessos humanos. O remate de Renato Sanches pode ter sido humano, demasiado humano, mas estou certo que aquele desvio foi obra de um santinho e que os três pontapés de Ronaldo na atmosfera tiveram contributo de São Estanislau. Com forças tão poderosas em acção, Deus resolveu que tudo se decidiria na lotaria dos penáltis. E tendo proferido estas palavras, saiu e foi apostar em Portugal.