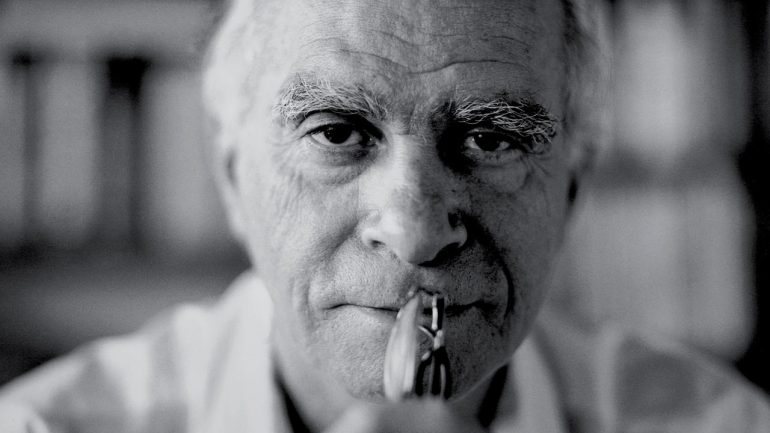A carreira nos media começou cedo: aos 16 anos já escrevia críticas de cinema para jornais brasileiros, quando se apercebeu de que desta forma não pagaria bilhete para ver os filmes. O jovem de 21 anos do interior de Araraquara mudava-se em 1957 para a cidade grande de São Paulo, para trabalhar como repórter no jornal Última Hora. Depois, seguiram-se outros cargos como o de editor na Revista Planeta e de diretor na revista Vogue Brasil. Desde 2005, é cronista no jornal O Estado de S. Paulo.
Em 1965, chegou o primeiro livro (de contos) Depois do Sol. No entanto, seria com o romance Zero em 1975 que alcançaria mais reconhecimento. O livro foi rejeitado por várias editorias brasileiras e censurado pelo Ministério da Justiça que proibiu a sua venda em 1976 –, o que levou Ignacio a publicá-lo primeiro na Itália.
A história passava-se durante a ditadura militar do Brasil e contava as peripécias de um casal, que se odiava e desejava simultaneamente. Zero foi considerado um atentado aos bons costumes devido às imagens sexualmente explícitas que transmitia, mas também aos valores de liberdade a que aspirava.
Dos vários livros que publicou destacam-se ainda os relatos de viagem com Cuba de Fidel: viagem à ilha proibida (1978) e Acordei em Woodstock: viagem, memórias, perplexidades (2011); e por fim, as autobiografias, sobretudo Veia bailarina (1997), onde Ignacio de Loyola Brandão explica os momentos que passou quando descobriu que tinha um aneurisma cerebral.
Se for pra chorar que seja de alegria é o mais recente livro do escritor e jornalista brasileiro, de 80 anos. Sempre com o otimismo normal, de quem não esquece os dias de trabalho, mas lembra sobretudo os de folga.
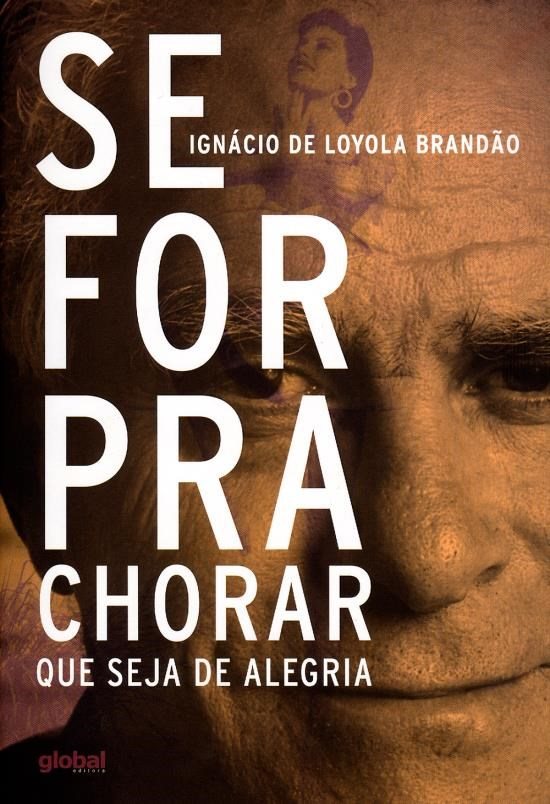
A capa do mais recente livro de Ignácio de Loyola Brandão
A literatura e o mundo das artes parecem ter assumido um papel muito importante na carreira do Ignácio. Foram uma forma de escapar ao jornalismo?
Não. Foram uma forma de eu me entender e de me saber situar no mundo. Eu descobri, desde os tempos de escola, que contar e criar histórias era uma coisa interessante. Foi a minha salvação. Caso contrário, eu não sei o que teria sido. Sabe Deus o que eu teria sido. Já passei dificuldades e a literatura salvou-me. A literatura e as artes salvam as pessoas — desde que cada um se empenhe e acredite nisso. Não é uma questão de ganhar dinheiro ou de ser famoso. É uma questão de estarmos em paz connosco e de levarmos aos outros mundos melhores, diferentes deste onde vivemos. É tentar sobreviver, no fundo.
Podemos dizer que o romance Zero foi um ponto de viragem?
Foi um ponto de viragem, porque até Zero eu era apenas um autor. A partir de Zero, eu tornei-me um autor nacional e internacional. Foi um grande trampolim. Zero tornou-se definitivo na minha carreira. Eu corri o risco de não conseguir publicá-lo. Ele foi publicado primeiro na Itália: a editora traduziu-o e mandou-me uma carta a dizer o seguinte: “Durante a ditadura [militar no Brasil], pode ser muito perigoso publicar este livro fora do país”. Fiquei dias e dias a pensar naquilo, “publico, não publico?”. Sabia que podia ser preso e que o meu editor podia ser preso também. Mil coisas podiam acontecer. Mas eu decidi publicar. Se tivesse dito “não”, não estava aqui hoje. Não sei dizer o que seria a minha vida sem Zero.
Na mesma altura, em 1974/75, Portugal estava também de mãos dadas com um processo revolucionário. Em tempos de repressão, a literatura e as artes podem ser uma arma?
Tanto a literatura como todas as outras artes têm o papel de manter as pessoas conscientes. Muita gente diz que a repressão estimula a criação e não é verdade. Se alguém tem alguma coisa para dizer, diz em qualquer regime. Principalmente em liberdade. Num regime forte corre-se o perigo de se estar apenas focado a combatê-lo, esquecendo outros momentos e essências importantes. Quem tem de escrever, escreve em qualquer regime. Durante a ditadura [no Brasil], muita gente dizia: “Eu tenho dois livros prontos, só não publico por causa da censura”. Era tudo mentira. As pessoas não tinham nada, só posavam. Eu repito: se alguém tem de escrever, escreve em qualquer altura e em qualquer lado.
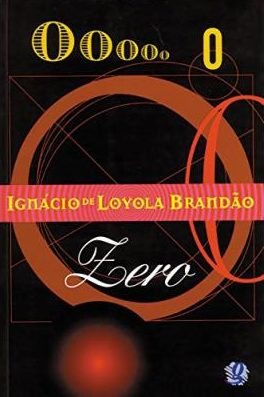
“Zero”, o romance que mudou o percurso de Loyola de Brandão
O romance Zero foi rejeitado por muitas editoras brasileiras…
Treze.
Quais as razões que as editoras lhe apontavam para esta rejeição?
Eles diziam uma coisa que eu já sabia: que era um romance difícil. O Zero não é fácil. Diziam que era um romance de estrutura complexa e completamente diferente do publicado até então. E até hoje, devo dizer. Só teve o Zero no Brasil. É nisto que eu fico admirado, não sei se fico triste ou alegre: ninguém copiou, fez escola ou tentou traçar uma linha com este romance. As pessoas sabiam que ao publicarem aquele livro podiam ter de fechar as editoras e ser presas. Podia ser tudo muito complicado.
O Brasil tem estado na mira dos media internacionais com o impeachment de Dilma Rousseff e a presidência de Michel Temer. Como é que vê este Brasil, depois ter assistido a vários momentos históricos no seu país?
Eu já vivi muita coisa. Mas uma revolução feita em nome da Constituição, um golpe de Estado — que é o nome correto do que aconteceu — da direita, foi a primeira vez que eu vi. A ditadura militar era algo que as pessoas tinham noção do que estava a acontecer e sabíamos o que pretendiam. Mas isto não. Foram manobrando as regras e chegaram ao poder, naquilo a que muitos advogados chamam de “ditadura do judiciário” — da qual é muito mais difícil escapar, porque são eles que fazem as regras. O Brasil está num momento de extrema vulnerabilidade e medo. Toca-se numa pessoa com um dedo e essa pessoa bate na outra que lhe tocou. Nunca vi o país tão polarizado. Não se sabe com quem se está a falar, o que é que o nosso interlocutor pensa. Qualquer coisa que alguém fale é motivo para uma discussão. Resumindo: está toda a gente no limite para estourar. E estoura apenas com um grito ou a voz de uma pessoa ao nosso lado.
O Ignácio foi jornalista, qual deve ser o papel do jornalismo brasileiro?
Tem de ser como o documentário, tem de mostrar a verdade. Porém, sabe-se que a verdade em jornalismo é muito subjetiva e depende muito dos interesses do grupo que comanda o jornal. Alguns jornais brasileiros estão a favor do golpe – não se pode dizer “golpe” nos media porque pode-se ser processado – e outros jornais combatem-no e já dizem mal do que aconteceu. O presidente [Michel Temer] é uma pessoa muito incompetente e está cercado de pessoas aproveitadoras. É um bando de corruptos que tentar salvar a sua própria pele e que tenta terminar com a única coisa importante no Brasil: o Lavajato. A Dilma permitiu que o processo da Lavajato se instalasse e foi por essa razão que ela também foi derrubada. Eu não votei na Dilma para presidente, mas que ela foi traída, foi. E pelas próprias pessoas que a apoiavam. Ninguém sabe o que é que o povo brasileiro pensa disto, porque só protestou na rua e não nas urnas. É muito difícil explicar o que se passa no Brasil, porque nem os próprios brasileiros conseguem entender. É uma pena, num instante tudo mudou.

“Eu descobri, desde os tempos de escola, que contar e criar histórias era uma coisa interessante. Foi a minha salvação. Caso contrário, eu não sei o que teria sido”
Numa entrevista disse que receava que a sua obra fosse esquecida. Não acredita que os escritores gozam do direito da eternidade?
Os escritores gostariam de não ser esquecidos. Não eu, o escritor, mas a minha obra. Não depende de nós, mas do que produzimos. Quem sabe se o que é bom hoje vai ser bom amanhã? Quando o escritor norte-americano F. Scott Fitzgerald morreu, ele estava completamente esquecido, cheio de dívidas e não vendia nenhum livro. Hoje, vende 100 mil por ano e é considerado o maior autor da sua geração, superior ao Hemingway. Neste ofício, existe o purgatório, o inferno e o limbo. Às vezes fica-se no limbo, que é o pior que pode acontecer, porque daí nunca se sai. Quando o purgatório enche, passa-se pelo inferno e sobe-se até ao céu. Eu gostaria que os meus livros não fossem esquecidos. Quanto ao meu nome, estou-me a lixar. No entanto, não posso determinar a posteridade.
O último livro que escreveu tem o título Se for pra chorar, que seja de alegria. Vê-se como um otimista?
O que é um pessimista? Um pessimista é um otimista em experiência. Isto foi-me dito pelo meu tradutor na Alemanha, que já morreu há alguns anos, quando olhavam para o meu romance Não Verás País Nenhum [1981] como uma obra pessimista. Foi nesse momento que ele me disse aquela frase.
A determinada altura na sua vida, houve uma “veia bailarina”. O aneurisma permitiu-lhe encarar de forma diferente os anos seguintes e ter uma vida mais sentida?
Sim, permitiu. Foi fundamental. Eu estava a passar por um período em que nada me interessava. Não era depressão. Eu achava inclusive que não ia escrever mais nenhum livro e de repente, acontece essa veia bailarina. Eu terminei a cirurgia e constatei que estava vivo. Uma cirurgia enorme de 13 ou 14 horas, delicada, em que se abre a cabeça. Eu depois até vi o filme da operação na televisão, com o médico a mostrar todos os passos. Nessa operação, não se costura nada, é apenas um clip que segura o aneurisma. O aneurisma é uma bolha, não é uma doença. Se explode, xau. Aliás, chama-se “assassino silencioso” pelos médicos. Não tem sintomas, quando acontece, a pessoa morre. Sobrevivi e foi aí que comecei a escrever um livro cheio de piedade de mim mesmo. Mas pensei: “Estou vivo”. E fiz o contrário, escrevi um livro cheio de vida. A minha vida mudou, no sentido em que os sabores, as cores, as palavras e a relação com as pessoas mudaram. Eu nunca tirava férias: trabalhava sábados, domingos e feriados. Acabou tudo. O meu dia de folga é o meu dia de folga. Eu sou um profissional, tenho prazos e também tenho a angústia de os ter. Mas deixei de achar isso importante. A comida é outra coisa, a luz tornou-se diferente. É difícil explicar a uma pessoa que não passou pelo mesmo. Eu estava prestes a ultrapassar a linha da morte, mas não dei o passo. Viver é isso, é existir.
O menino que vendia abacates para comprar bilhetes para o cinema ainda nutre a mesma paixão pela sétima arte?
Sim, claro. Sei que nunca vou fazer cinema, mas o meu filho mais novo está a fazer. Estudou engenharia, acabou por fazer fotografia e agora está no cinema. Está a fazer o que eu deveria ter feito. Um continua no outro.