Afonso Cruz tem-nos habituado a uma grande regularidade editorial. São já perto de 40 os títulos que compõem a bibliografia do escritor, também músico, ilustrador e fotógrafo, que nos tempos livres se dedica à produção de cerveja artesanal, no seu monte alentejano. “Comecei nos anos 90, ainda no meu apartamento em Lisboa, quando não se falava de cervejas artesanais”, comenta com descontração de visionário acidental, depois ter estreado o espetáculo O que a Chama Iluminou, no festival literário Utopia, em Braga (3 e 4 de novembro). O seu próximo romance será publicado em 2024, precisamente a partir deste espetáculo que cruzou a palavra, a música, a fotografia e a performance. “Será um romance-ensaio ou, se quisermos, uma autoficção”.
Enquanto esperamos pela novidade, chega ao mercado a reedição de O Cultivo de Flores de Plástico (Companhia das Letras), texto dramatúrgico estreado em 2013 pela associação Gato que Ladra e publicado então numa edição limitada de mil exemplares. Dividido em nove atos, o livro explora a realidade de quatro personagens sem abrigo, baseada em testemunhos recolhidos pelo autor de Para onde vão os guarda-chuvas. Nele, Afonso Cruz discorre sobre a condição de invisibilidade da pessoa sem abrigo e sobre a desumanização do ser humano. “Andamos a regar flores de plástico, é isso que fazemos. (…) Temos coisas, em vez de tentarmos ser felizes, substituímos a vida por plástico, a felicidade por plástico e o próprio plástico por plástico. Trabalhamos para regar uma vida destas”, lê-se no quarto ato.
A relação com a fé, com a morte, com o abandono e a violência são temas pelos quais a escrita aparentemente inocente de Afonso Cruz vai tocando. Em conversa com o Observador, o autor defende o rendimento básico universal, condição fundamental para dar uma vida digna a todos os seres humanos, e reflete sobre a rua enquanto espaço de solidão, mas também de resistência contra uma sociedade onde o trabalho continua a ser “uma obrigatoriedade um pouco perversa”.
A reedição de O Cultivo de Flores de Plástico é lançada num momento em que se estima que, em Portugal, 10.773 pessoas vivam em condição de sem abrigo, número que representa um crescimento de quase 80% face aos últimos quatro anos, noticiou o Expresso. “O problema da rua e das pessoas sem abrigo é o de haver outras causas e injustiças sociais igualmente graves, mas que são muito mais apelativas.” Humanizarmo-nos, diz Afonso Cruz, é essencial para que os estigmas sejam ultrapassados.
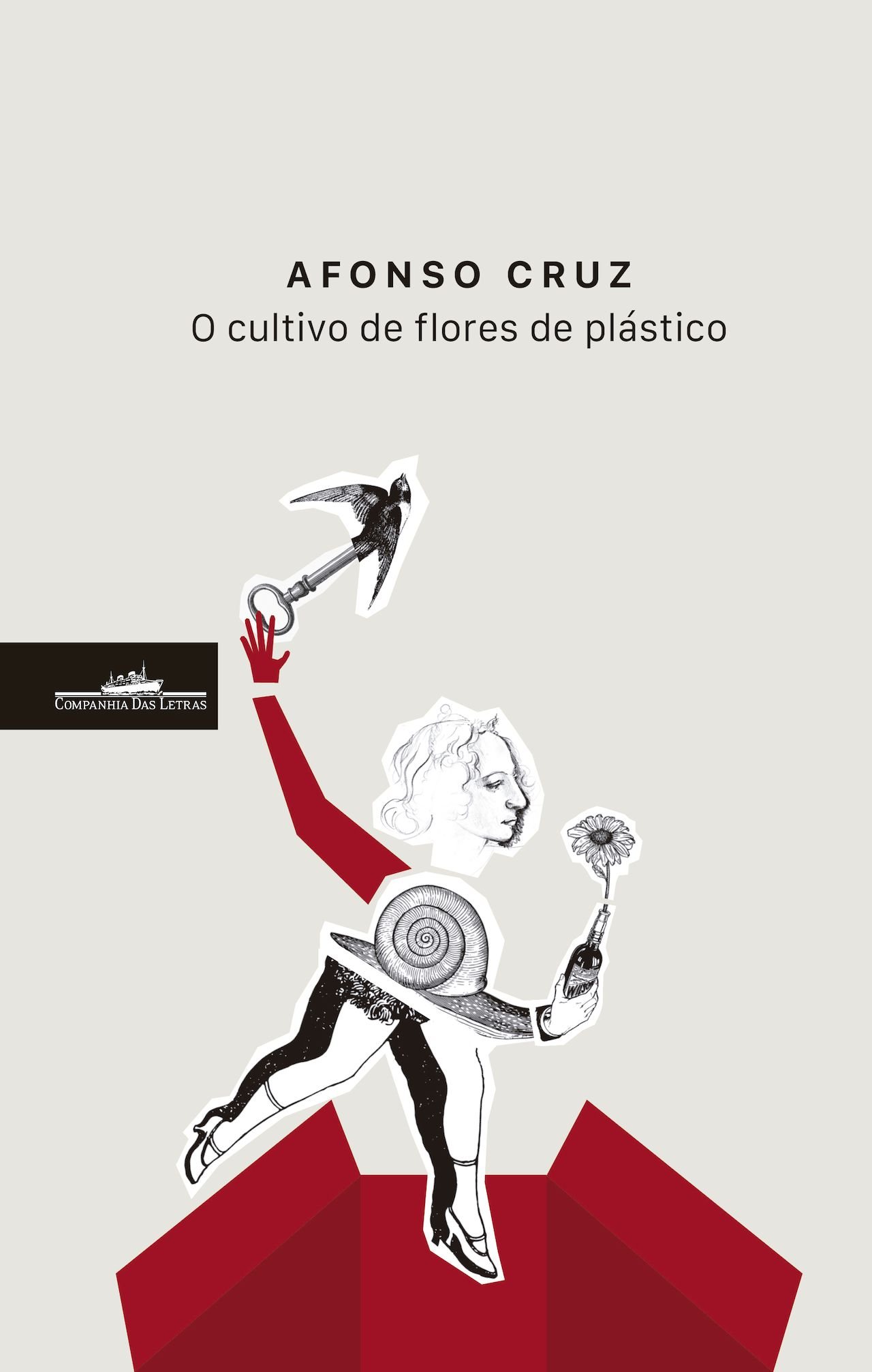
▲ A capa da reedição de "O Cultivo de Flores de Plástico", de Afonso Cruz (Companhia das Letras)
De onde surgiu a vontade de escrever este livro?
À época, o grupo de teatro da Rute Rocha [Gato que Ladra] desafiou-me a escrever uma peça baseada na realidade sem abrigo. Passámos duas noites com pessoas sem abrigo, reuni alguns testemunhos e depois acabei por pegar em coisas verídicas e transformá-las em ficção. O livro foi escrito nessa altura, especificamente para ser encenado.
Como foram essas duas noites?
Estivemos com uma associação que foi nossa intermediária nesse contacto. Recentemente, estive com a Comunidade Vida e Paz e passei uma semana numa casa de reabilitação. É interessante perceber que este é um mundo cheio de estereótipos e não há um padrão para uma pessoa se tornar sem abrigo. Pode ser simplesmente alguém afetado pela crise, alguém que tinha um bom emprego, como um autarca, um designer de moda ou um sushiman, que são três exemplos que conheci. É algo que pode acontecer a qualquer pessoa, especialmente quando não há uma rede de amigos e família para ajudar em momentos mais dramáticos.
O número de pessoas sem abrigo aumentou drasticamente nos últimos quatro anos. É também um reflexo da construção (ou reconstrução) das cidades?
Parece-me que, em termos globais, o mundo está cada vez melhor, ainda que com flutuações muito desesperantes provocadas por grandes tragédias. O caso dos sem abrigo é um dos casos mais dramáticos da vida das pessoas, embora não o seja para todas. Há muitos tipos de reação à rua. Conheci, por exemplo, um antigo sem abrigo que dizia que odiava a palavra “rua”. A rua tem esse lado dramático de não se ter um lugar para pousar a cabeça. Há uma falta de sustentáculo, de uma casa, de um sítio para nos recolhermos e no qual nos sintamos confortáveis e seguros. Isso condena muita gente a uma enorme solidão. Mas também conheci outro sem abrigo que gostava de viver nas ruas. Habituou-se àquele tipo de vida, encontrando uma certa liberdade de não pertencer a uma sociedade da qual não gosta. Isto está relacionado com a compulsão do trabalho, que continua a ser uma obrigatoriedade um pouco perversa. Acho que já devíamos ter chegado a um ponto em que o trabalho deveria ser algo que queremos fazer e não algo que somos obrigados a fazer para sobreviver. Há muita gente que não gosta do sistema, e com toda a razão, uma vez que corta a liberdade das pessoas.
O Rendimento Básico Universal [RBU] seria um caminho para construir outro tipo de sociedade mais justa e livre?
Para mim seria essencial. Ao se tornar sedentário, o ser humano criou o conceito de propriedade privada. Numa sociedade caçadora e recoletora, isso não existe. Existe o que a natureza oferece. Quando o ser humano fica no mesmo espaço, acaba com os recursos e tem de acumular para alturas de escassez. A partir do momento em que acumula, é preciso fechar a comida à chave para que as pessoas que não trabalham não tenham acesso a ela. Quando fechamos a comida à chave, precisamos de polícia e de um exército que proteja essa comida das ameaças externas. Portanto, quase todos os males da sociedade, como a prisão, a compulsão do trabalho, a escravidão (que é outra forma de propriedade) advêm daí. Nós, sociedades sedentárias, privámos sociedades nómadas de ter acesso à natureza. Devia ser garantido uma espécie de rendimento básico universal que ressalvasse o fundamental: o direito à vida digna. Tudo o resto, se desejássemos mais, então sim, dever-se-ia trabalhar para isso.
No livro, abordas a questão da desumanização. Tanto a desumanização da pessoa sem abrigo, que se torna quase invisível para quem passa por ela na rua, como a desumanização da sociedade que, nas palavras de uma das tuas personagens [Senhora de Fato], passa a vida a trabalhar para regar uma vida de plástico.
As duas coisas são verdade. O problema da rua e das pessoas sem abrigo é o de haver outras causas e injustiças sociais igualmente graves, mas que são muito mais apelativas. Parece que o sem abrigo é um pouco invisível para a maior parte da sociedade e dos ativistas. Claro que há muitas associações, mas a maior parte da população passa ao lado do sem abrigo sem o ver, porque muitas vezes ele está associado a sujidade, a drogas, a uma série de coisas que queremos evitar. É muito raro vermos alguém sentar-se ao lado de um sem abrigo a conversar com ele. O sem abrigo torna-se um estrangeiro, alguém com quem não queremos ter contacto. Muito provavelmente, isso terá o seu fundamento na biologia, mas se for uma coisa de instinto, temos o dever ético de fazer um esforço para ultrapassar isso com a razão.
O livro procura equilibrar a desumanização com as pequenas bondades do dia-a-dia. Uma das personagens [Jorge] diz inclusivamente: “não é preciso ser Deus, basta fazer pequenas coisas, e elas crescem e um dia alastrar-se-ão pelo mundo como uma daquelas pragas medievais”. O caminho para nos voltarmos a humanizar passa por aí?
O [escritor austríaco Robert] Musil dizia que o somatório de pequenos gestos tem um impacto maior do que apenas um gesto heroico. De vez em quando é preciso alguém atirar-se a um rio para salvar outra pessoa, mas isso não acontece todos os dias. Porém, todos os dias temos pequenas ações que nos permitem viver em sociedade e em alguma segurança. Quando o bem se torna na nossa natureza é muito mais valioso enquanto virtude. A Simone Weil tem um livro, A Gravidade e a Graça, onde explora uma imagem lindíssima sobre a graça. Ela acha que a graça é uma gravidade ao contrário, em que caímos para cima sem esforço. E porquê? Porque, se quisermos, torna-se uma segunda natureza. Torna-se uma ação natural, como cair. Para que deixemos que a graça nos aconteça é necessário que a bondade seja uma segunda natureza.
Esquecemo-nos disso com facilidade?
Estamos constantemente a esquecê-lo. O ser humano parece ser o único ser que perde a sua característica fundamental, que é a humanidade. Perde e rouba-a. A um ser humano pode ser retirada a sua humanidade como ele próprio se pode desumanizar e desumanizar outro.
A par de O Cultivo de Flores, podemos esperar novos lançamentos para breve?
Tenho o Leva-me ao Teu Líder, que é da coleção “Missão: Democracia”, da Assembleia da República e que toca temas que são importantes para a cultura democrática, especialmente com a ascensão de partidos populistas. [Foi lançado no dia 6 de novembro, numa sessão incluída no programa do festival Utopia, com a presença de Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República]
Está a escrever algum romance?
Tenho o texto do espetáculo que apresentei no Utopia, que sairá para o ano [O que a Chama Iluminou]. Será um romance-ensaio ou se quisermos uma autoficção, não sei bem como classificar este livro. Não tem quase nada de ficção, ainda que seja literário, mas tem histórias pessoais que são entrelaçadas com outras da história universal.
Como viveu a criação deste espetáculo?
Foi um desafio que aceitei com algum prazer e algum receio. Na verdade, eu estava um pouco dependente da reação do público. O livro tem um período de reação muito mais lento do que um espetáculo, onde temos logo 300 pessoas a dizer o que acharam após a apresentação. Se o espetáculo não tem aceitação, torna-se num objeto irrelevante. Há uma parte da arte que deixa de pertencer ao artista para ser entregue ao público. Como as reações foram muito boas, espero conseguir replicá-lo noutros espaços.

















