Índice
Índice
[Esta é a última parte de um especial dividido em quatro capítulos. Siga os links para ler a primeira, a segunda e a terceira partes]
Washington, 1930: Uma lei “malévola, exorbitante e obnóxia”
A Grande Depressão não teve como única causa o colossal tombo da bolsa de Nova Iorque, a 29 de Outubro de 1929, e as repercussões que este crash teve nas bolsas de valores dos outros países. É provável que as medidas proteccionistas a que a maioria dos governos recorreu, em pânico, na tentativa de conter a crise tenham contribuído para amplificar e prolongar os seus efeitos.
O sinal de partida para a guerra tarifária foi dado pela lei conhecida como Smoot-Hawley, a partir do nome dos seus “pais”, Reed Smoot e Willis C. Hawley, dois membros do Congresso dos EUA. Embora o presidente Herbert Hoover fosse contrário a esta legislação (que classificou de “malévola, exorbitante e obnóxia”), tenha recebido uma petição assinada por 1028 economistas para que a vetasse e tenha sido alvo de pressões no mesmo sentido de grandes empresários e banqueiros (como Henry Ford, que a qualificou de “estupidez económica”, e o CEO da J.P. Morgan, que a rotulou de “asinina”) acabou. por razões de política partidária, por a aprovar. A lei Smoot-Hawley entrou em vigor a 17 de Junho de 1930 e abrangia cerca de 20.000 produtos – e teve como consequência que os parceiros comerciais dos EUA retaliassem prontamente com um aumento das suas tarifas (alguns deles antes mesmo de a Smoot-Hawley ter entrado em vigor).

Willis C. Hawley (à esquerda) e Reed Smoot, pouco depois da assinatura da lei com o seu nome
A Grande Depressão causou uma quebra acentuada na produção industrial – 46% nos EUA, 23% na Grã-Bretanha, 24% na França, 41% na Alemanha, no período 1929-32 – mas teve um efeito ainda mais pronunciado no comércio externo que caiu, no mesmo período, 70% nos EUA, 60% na Grã-Bretanha, 54% na França e 61% na Alemanha.

Dependência do American Union Bank, Junho de 1931: um dos muitos episódios de corrida aos bancos durante a Grande Depressão
Japão, após 1945: aqui a neve é diferente
O Tratado de Kanagawa (1854), não só forçava o Japão a abrir os seus portos aos mercadores e navios estrangeiros, como limitava a liberdade de impor tarifas aduaneiras, Quando, no início do século XX, o Japão se afirmou como potência e deixou de estar sujeito ao diktat ocidental, elevou-as consideravelmente e voltou a fazê-lo, acompanhando a onda proteccionista, durante a Grande Depressão da década de 1930. A tendência proteccionista só seria dissipada com a II Guerra Mundial, cujo desfecho representou não só uma profunda alteração na ordem geopolítica como na atitude perante as trocas comerciais: os EUA tinham saído da II Guerra Mundial como a potência n.º 1 e com a sua indústria e infra-estruturas incólumes – ao contrário das outras grandes potências, que tinham sofrido uma profunda devastação – e aproveitaram-se desta posição para tentar impor o livre comércio a todo o mundo (ou, pelo menos, a todo o “mundo livre”, isto é, que não estava na esfera de influência soviética).
O Japão não estava em posição de contestar, uma vez que em 1945 ficou sob ocupação americana, pelo que as tarifas japonesas caíram quase para zero. Mas assim que os americanos partiram, em 1952, e o governo japonês ganhou autonomia, as tarifas japonesas voltaram a subir, para proteger uma indústria que precisava de tempo para recuperar da terrível devastação sofrida durante a guerra.

Tarifas médias no Japão, 1870-1960
Mas a subida de tarifas pode ser uma lâmina de dois gumes, pois há o risco de os parceiros comerciais retaliarem, pelo que alguns países recorrem a processos menos frontais para lutar com a competição estrangeira, como sejam a contingentação (imposição de um limite às quantidades importadas), a subsidiação da produção nacional ou a criação de entraves burocráticos.
O Japão tornou-se perito na terceira modalidade, como relata David S. Landes no seu muito instrutivo The wealth and poverty of nations: Why some are rich and some are poor (editado em Portugal pela Gradiva como A riqueza e a pobreza das nações):
“Os tacos de baseball eram perfurados na alfândega para verificar se eram feitos de madeira. O equipamento médico tecnologicamente avançado entrava sem obstáculos, mas o seu emprego era excluído da cobertura dos seguros de saúde […] Os automóveis [estrangeiros] eram desmontados e virados pelo avesso antes de poderem ser comercializados. Aconteceu mesmo que, agastados com o aumento da importação de skis fabricados em França, os japoneses os tentassem excluir, alegando que a neve japonesa era diferente. Os franceses replicaram com a ameaça de exclusão dos motociclos japoneses, invocando que as estradas francesas eram diferentes. Os japoneses perceberam a mensagem e recuaram”.
Mas recuaram apenas neste caso concreto, pois prosseguiram, genericamente, uma atitude “mercantilista”, tentando minimizar importações por todos os meios possíveis. Foram necessárias décadas de pressão dos parceiros comerciais e alterações substanciais nos padrões de consumo da sociedade japonesa para que o Japão baixasse substancialmente as suas tarifas.

“Neve no templo de Zoji”, estampa de Hasui Kawase, 1929
Portugal, 2010: Uma atitude patriótica
Quando se fala da globalização da economia na segunda metade do século XIX há que colocá-la em perspectiva: em 1870, as exportações representavam 5% do PIB mundial, percentagem que subiu até 8% nas vésperas da I Guerra Mundial. Estes valores tornam-se irrisórios face à economia do século XXI, em que as exportações representam 41% do PIB mundial (dados de 2016) e em que há países como o Luxemburgo em que as exportações representam 221% do PIB. Entre os campeões da globalização estão outros micro-países como Hong Kong (187%), Singapura (172%) e Malta (140%); no outro extremo estão o Afeganistão (7%), o Burundi (6%) e o Yemen (3%).

Singapura, um dos expoentes da globalização da economia
Portugal, com as exportações a representar 40% do PIB (ainda de acordo com dados de 2016), o que o coloca a meio da tabela da abertura comercial ao exterior, comunga desta situação de forte interdependência entre países que é a marca da economia actual.
Todavia, tal não impede que em Portugal continuem a subsistir adeptos das teorias mercantilistas e que alguns deles sejam conhecidos professores de economia e estadistas, como
é o caso de Aníbal Cavaco Silva, que em 2010, em plena crise das dívidas soberanas na União Europeia, fez esta exortação, na qualidade de Presidente da República: “Neste tempo difícil que atravessamos, os portugueses devem fazer turismo no seu próprio país, pois é uma ajuda preciosa para ultrapassar a situação difícil em que o país se encontra […] Passar férias cá dentro, nesta altura difícil, é uma atitude patriótica […], é criar emprego, combater o desemprego e ajudar à melhoria das condições de vida dos portugueses”.
À primeira vista, poderá parecer uma ideia sensata, mas o que aconteceria se os governantes de Espanha, Reino Unido, França, Alemanha e Holanda, também eles preocupados com a conjuntura internacional, fizessem idêntico apelo e se os seus compatriotas, muito patrioticamente, lhe dessem ouvidos? Os prejuízos para Portugal resultantes de os outros europeus ficarem em casa seriam muito maiores do que os benefícios provenientes de os portugueses fazerem “férias cá dentro”.
Cinco séculos de comércio livre e proteccionismo, parte 1: 1498-1580
A exortação de Cavaco Silva é ainda mais desconcertante por os destinos de férias não terem, como os economistas sabem, uma natureza fungível: enquanto ao consumidor que precisa de uma chave de parafusos pouca diferença prática fará que ela tenha sido fabricada em Portugal ou na China, e poucos tenham o dom de discernir entre o tomate enlatado proveniente de Portugal ou de Espanha, já o apetite por visitar os fiordes noruegueses dificilmente será satisfeito por uma estadia em Monte Gordo, assim como o impulso para descobrir os tesouros artísticos de Florença não encontrará substituto numa visita a Braga. As viagens turísticas dos portugueses ao estrangeiro até poderão ter diminuído em 2010 e nos anos seguintes, mas é provável que isso se tenha devido menos à adesão à mundividência mercantilista de Cavaco Silva do que à falta de dinheiro – ou ao temor da falta de dinheiro.
De qualquer modo, o proteccionismo tende hoje a encontrar bom acolhimento junto da opinião pública de uma Europa em que os fervores nacionalistas estão a recrudescer e de uns EUA obnubilados por campanhas de desinformação que convenceram os americanos de que a economia nacional está em ruínas.
Washington, 2018: Princípios morais e interesses conjunturais
Em termos simplistas, pode ver-se uma tarifa aduaneira como um imposto sobre o consumo, pelo que, na prática, o proteccionismo beneficia os produtores nacionais, enquanto o comércio livre beneficia os consumidores nacionais. Muitos economistas defendem que, no longo prazo, o proteccionismo acaba por prejudicar todos, pois fomenta a ineficácia e o imobilismo, já que as indústrias protegidas pelas tarifas têm menor incentivo a modernizar-se e fazer investimentos e acabam por perder ainda mais competitividade. Todavia, como observa David S. Landes em The wealth and poverty of nations, “os dois mais veementes advogados do comércio livre – a Grã-Bretanha vitoriana e os EUA do pós-II Guerra Mundial – foram fortemente proteccionistas nos seus estádios iniciais de desenvolvimento”. Quando estes países tentaram impor o livre comércio estavam a dizer “Não faças como eu fiz; faz como eu posso agora dar-me ao luxo de fazer” (Landes).
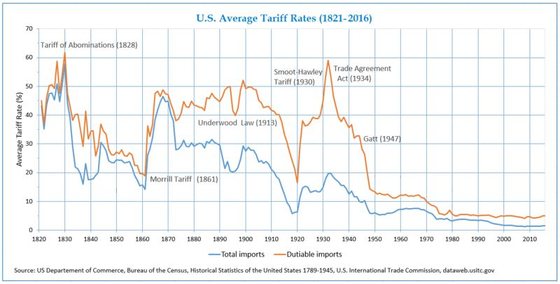
Tarifas médias nos EUA, 1821-2016
Desde o final da II Guerra Mundial que as tarifas baixas são parte essencial da política americana e em 2002 o presidente George W. Bush proclamava, no prefácio do documento “A Estratégia Nacional de Segurança dos EUA”: “O comércio livre e os mercados livres têm demonstrado a sua capacidade para retirar toda uma sociedade da pobreza, pelo que os EUA colaborarão com nações, regiões e a comunidade comercial global e forma a criar um mundo que comercie sem entraves e, portanto, cresça em prosperidade”. Nesse mesmo documento pode ler-se que “o conceito de comércio livre surgiu como um pilar moral antes mesmo de se tornar num pilar económico. Se somos capazes de produzir algo a que os outros atribuem valor, seremos capazes de vendê-lo. E se os outros forem capazes de produzir algo que nós valorizamos, deveremos ser capazes de comprá-lo. É isto a verdadeira liberdade, a liberdade de um indivíduo – ou de uma nação – fazer a sua vida”.
E todavia, uns meses antes, o presidente Bush impusera tarifas à importação de aço, a fim de proteger a declinante indústria pesada do Midwest. A mesma indústria que, em 2018, serviu para o presidente Trump iniciar uma guerra tarifária, invocando em defesa do proteccionismo o mesmo desígnio – a segurança nacional – que Bush invocara para exaltar o comércio livre.

“A Inglaterra do comércio livre ambiciona a Terra para si”: Cartoon no semanário satírico norte-americano Judge, de 27 de Outubro de 1888. O proteccionismo é visto como a forma de manter os EUA a salvo da avidez do Império Britânico
Apesar de vivermos numa era em que nunca houve tão poucos entraves ao comércio livre, as conveniências pontuais da economia ou da política podem levar os governantes – sobretudo os que, como Trump, têm uma visão de “soma nula” das interacções entre nações (“se tu perdes, eu ganho” e vice-versa) – a tomar medidas proteccionistas. Trump tem-se multiplicado em iniciativas contra o comércio livre: uma das suas primeiras medidas como presidente, em Janeiro de 2017, foi retirar os EUA da Parceria Transpacífica (Trans-Pacific Partnership, TPP), que tinha sido assinada menos de um ano antes, após anos de complexas negociações; anunciou a intenção de renegociar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (North American Free Trade Agreement, NAFTA); e suspendeu as negociações com a União Europeia sobre a Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento (Transtlantic Trade and Investment Partnership, TTIP).
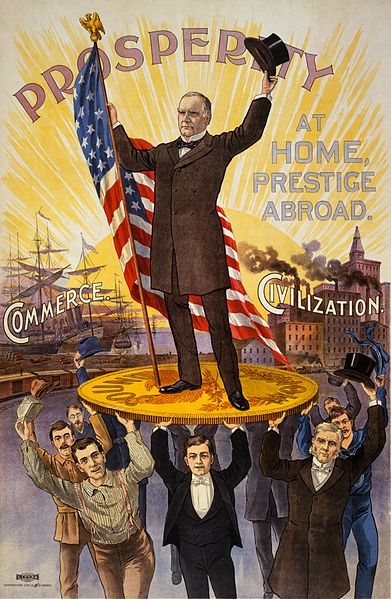
“Prosperidade em casa, prestígio no estrangeiro”: cartaz da campanha para a reeleição do presidente William McKinley, que conquistou apreciável popularidade ao promulgar um aumento de tarifas através do Dingley Act, em 1897
Os EUA não são uma economia emergente. São, há muitas décadas, a maior economia do mundo – a China aproxima-se rapidamente mas ainda há uma boa distância entre os 20.4 biliões de dólares do PIB americano e os 14 biliões da China; e os países seguintes ficam todos muito longe: Japão com 5.1 biliões, Alemanha com 4.2, Reino Unido com 2.9, França com 2.9 e Índia com 2.8 (dados de 2018 do Fórum Económico Mundial).
Além disso a economia americana é altamente diversificada, caracteriza-se por uma forte componente de inovação e tecnologia de ponta, tem ai seu dispor uma força de trabalho altamente qualificada, formada nas universidades americanas, que dominam completamente o ranking das melhores universidades do mundo, é capaz de atrair mão de obra qualificada de todos os cantos do planeta, conta com maiores reservas de recursos naturais do que qualquer dos seus rivais económicos (a Rússia está mais bem servida de recursos, mas não é um rival de peso), beneficia de o dólar ser a moeda usada na maioria das transacções internacionais e está respaldada pela mais formidável máquina militar do planeta.
A economia dos EUA precisaria talvez de ser protegida no tempo de Alexander Hamilton (quando o país acabara de tornar-se independente) ou do presidente Ulysses S. Grant (quando o país acabara de sair de uma devastadora guerra civil). Mas em 2018, os EUA, ao apresentarem-se como vítimas da globalização e ao entender que precisam de ser defendidos da concorrência com barreiras alfandegárias, fazem a figura de um gigante que choraminga porque tem uma unha encravada.
Pode parecer incompreensível ou ridículo ao resto do mundo, mas não é novo. No início do século XX, a Grã-Bretanha ocupava uma posição comparável àquela que os EUA têm hoje: era a potência n.º 1 em termos militares e económicos (gozando, para mais, de uma supremacia esmagadora em termos de extensão territorial e acesso a matérias-primas), actuava como “polícia global” e era a principal beneficiária do comércio livre.

O Império Britânico em 1910
Mas nem por isso deixava de haver na Grã-Bretanha quem, num misto de cupidez, paranóia, xenofobia e receio do futuro, fosse atormentado pelo medo de que o comércio livre inundasse o mercado britânico de produtos estrangeiros baratos e os trabalhadores britânicos fossem lançados no desemprego e na indigência. É a “angústia do topo do pódio”: quem está no 1.º lugar já não pode subir mais e vive na angústia de, mais tarde ou mais cedo, poder descer.
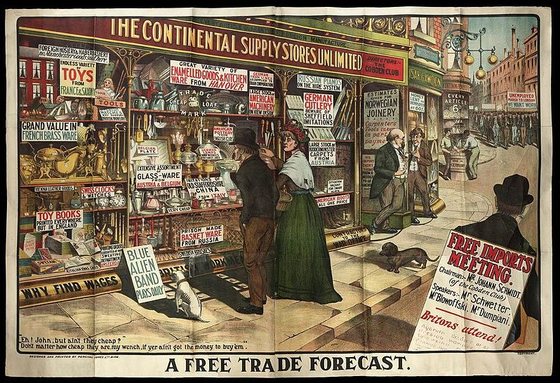
“Eh, John, isto não é mesmo uma pechincha?”; “Pouco importa quão barata é, se eu não tiver dinheiro para a comprar”. Cartaz impresso em Birmingham, c.1905-10, perspectivando um futuro tenebroso para a Grã-Bretanha, em resultado do comércio livre
Os americanos evocam hoje com saudade (e muita distorção e mitificação) uma década de 1950 em que, embora não vivessem objectivamente melhor do que agora, a sua vantagem sobre o resto dos países era muito maior do que hoje, em que os noruegueses e os dinamarqueses têm níveis de vida superiores aos seus e milhões de netos dos camponeses esfaimados de Mao também já têm iPhones e iPads.
E como è intrínseco à natureza humana preferir ter um rendimento de 1000 num contexto em que os seus pares ganham 800, do que ter um rendimento de 1200 num contexto em que os seus pares ganham 1400 – está provado por estudos psicológicos – os americanos sentem-se angustiados; aspiram a que a “América seja grande outra vez”; confundem o direito inalienável garantido na Bill of Rights da “demanda da felicidade” (”life, liberty and the pursuit of happiness”) com a garantia de que a prosperidade estaria garantida para todos e para sempre; e amaldiçoam a globalização que eles próprios fomentaram, logo a partir de 1853, através dos canhões do comodoro Perry, e, ainda mais energicamente, no pós-II Guerra Mundial.

É desta América de prosperidade ostensiva e ilimitada – que só existiu nas campanhas publicitárias congeminadas na Madison Avenue – que os americanos têm saudades
Os operários da indústria automóvel de Detroit e os mineiros de carvão da West Virginia não estão a atravessar bons momentos? Pretendem apresentar queixa na qualidade de vítimas da globalização? Terão de resignar-se a tomar lugar numa longa fila, onde figuram, entre muitos outros reclamantes:
Os mercadores venezianos para quem a viagem de Vasco da Gama representou o dobre de finados pelo monopólio do comércio europeu com o Oriente;
Os Taíno, os habitantes originais das Caraíbas, que se estima terem sido três milhões na ilha de Hispaniola, à data da chegada de Colombo, e, cinquenta anos depois, graças aos maus-tratos e às doenças, estavam reduzidos a poucas centenas;
As raparigas japonesas vendidas pelos mercadores portugueses do século XVI como escravas sexuais na Europa;
Os africanos arrancados às suas terras e postos a trabalhar em condições desumanas nas plantações das Caraíbas e Brasil, a fim de os europeus poderem saciar o seu apetite por açúcar (em média, cada tonelada de açúcar consumida na Europa custava a vida de um escravo);
Os 125.000 egípcios que tombaram a abrir o Canal do Suez;
Um Portugal vs. Holanda com quatro séculos e outros duelos: comércio livre e proteccionismo, parte 2
Os tecelões indianos atirados para a miséria por não serem capazes de competir com os tecidos britânicos fabricados pelos teares mecânicos movidos pela força do vapor;
Os javaneses que labutaram e morreram como gado nas plantações de café das Índias Orientais Holandesas;
Os coolies chineses arregimentados para extrair guano nas ilhas do Peru em condições tão pavorosas que 2/3 pereceram antes do término do “contrato”;
Os congoleses que sucumbiram aos maus-tratos, à fome e às punições brutais enquanto recolhiam borracha para o rei Leopoldo II da Bélgica;
Os trabalhadores rurais colombianos que, a pretexto de as suas greves por melhores salários serem subversivas e inspiradas por comunistas, foram reprimidos e massacrados por um exército sempre pronto a zelar pelos interesses da United Fruit Company;
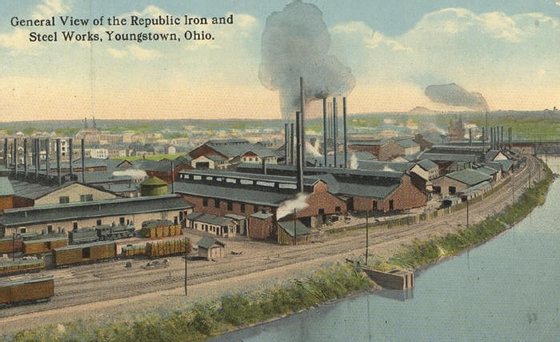
Youngstown, Ohio, foi um dos principais centros de produção de aço dos EUA, hoje é uma das chagas do Rust Belt. Vista dos tempos de prosperidade: Republic Iron and Steel Works, c. 1900
Quando os operários do Rust Belt americano lamentam a sua sorte e reclamam protecção contra a competição internacional, é tentador recuperar a velha argumentação dos comunistas e socialistas do início do século XX: o capitalismo tenta pô-los contra os operários chineses, alemães, mexicanos, indianos, checos, malaios e vietnamitas, quando os seus verdadeiros inimigos estão em casa.

2006: Ruínas da Youngstown Sheet and Tube Company, em tempos uma das principais empregadoras da cidade de Youngstown. A 19 de Setembro de 1977, a Youngstown Sheet and Tube despediu 5000 trabalhadores e encerrou parte das suas instalações, um evento que abalou o tecido económico da cidade. Em 1977 a economia chinesa era ainda incipiente e não competia no mercado mundial, pelo que não pode ser invocada como bode expiatório
Os seus inimigos são os empresários e gestores americanos, que por inércia, soberba e falta de visão, se deixaram ultrapassar pelos seus rivais das economias emergentes, ou que deslocalizaram as suas fábricas para as economias emergentes, e que entraram numa roda viva de aquisições, fusões e restruturações cujo fito não é aumentar a robustez e competitividade das empresas que dirigem, mas gerar dividendos para os accionistas;
São os políticos que os representam, a maior parte dos quais fazem parte dos sectores mais abastados da sociedade (dois quintos dos membros do Congresso são milionários) e que zelam, antes de mais, pelos interesses das empresas a que estão, estiveram, ou virão a estar ligados – situação que conheceu em 2016 a apoteose com a eleição de um presidente-empresário-milionário;
São as hordas de lobbyistas que assediam diariamente os políticos para que tomem decisões favoráveis, não ao bem comum, mas aos interesses das empresas e grupos que representam;
Em inglês nos entendemos (ou não): comércio livre e proteccionismo, parte 3
São os banqueiros e especuladores de Wall Street, que estão inteiramente focados no lucro a curto prazo e nos seus prémios de gestão, que estão cada vez mais enredados em moscambilhas, manipulações do mercado e jogos de casino ultra-sofisticados, e que, vivendo numa economia virtual controlada por algoritmos, não querem saber de empregos, sustentabilidade ambiental, justiça e coesão social e comunidades locais e vêem os trabalhadores como um empecilho e um custo a minimizar;
São toda uma classe empresarial e financeira que tem conseguido apoderar-se sistematicamente dos lucros decorrentes dos ganhos de produtividade conquistados pelo progresso tecnológico nas últimas três ou quatro décadas.
E os operários americanos podem também culpar-se a si mesmos por se terem alheado da participação política: as eleições americanas não só têm tido uma taxa de abstenção de cerca de 50% como esta é particularmente elevada entre quem não possui estudos superiores (nas eleições de 2008 apenas 23% dos eleitores com menos de nove anos de escolaridade votaram) e tem menores rendimentos.
Se o presidente e o Congresso prosseguirem com a guerra tarifária, é possível que os operários chineses, alemães, mexicanos, indianos, checos, malaios e vietnamitas percam rendimento e alguns postos de trabalho, mas não é garantido que essas perdas revertam para os trabalhadores americanos e é previsível que estes tenham de pagar mais pelos produtos que consomem.
[A canção “Youngstown”, de Bruce Springsteen (incluída no álbum The ghost of Tom Joad, de 1995), é uma elegia pela cidade homónima, pelos blue collars e pelo American dream. A letra dá voz a uma personagem que começou a trabalhar na indústria do aço quando regressou da II Guerra Mundial e que, ao contemplar as fábricas arruinadas, comenta amargamente: “Os ‘big boys’ fizeram aquilo de que Hitler não foi capaz”]















