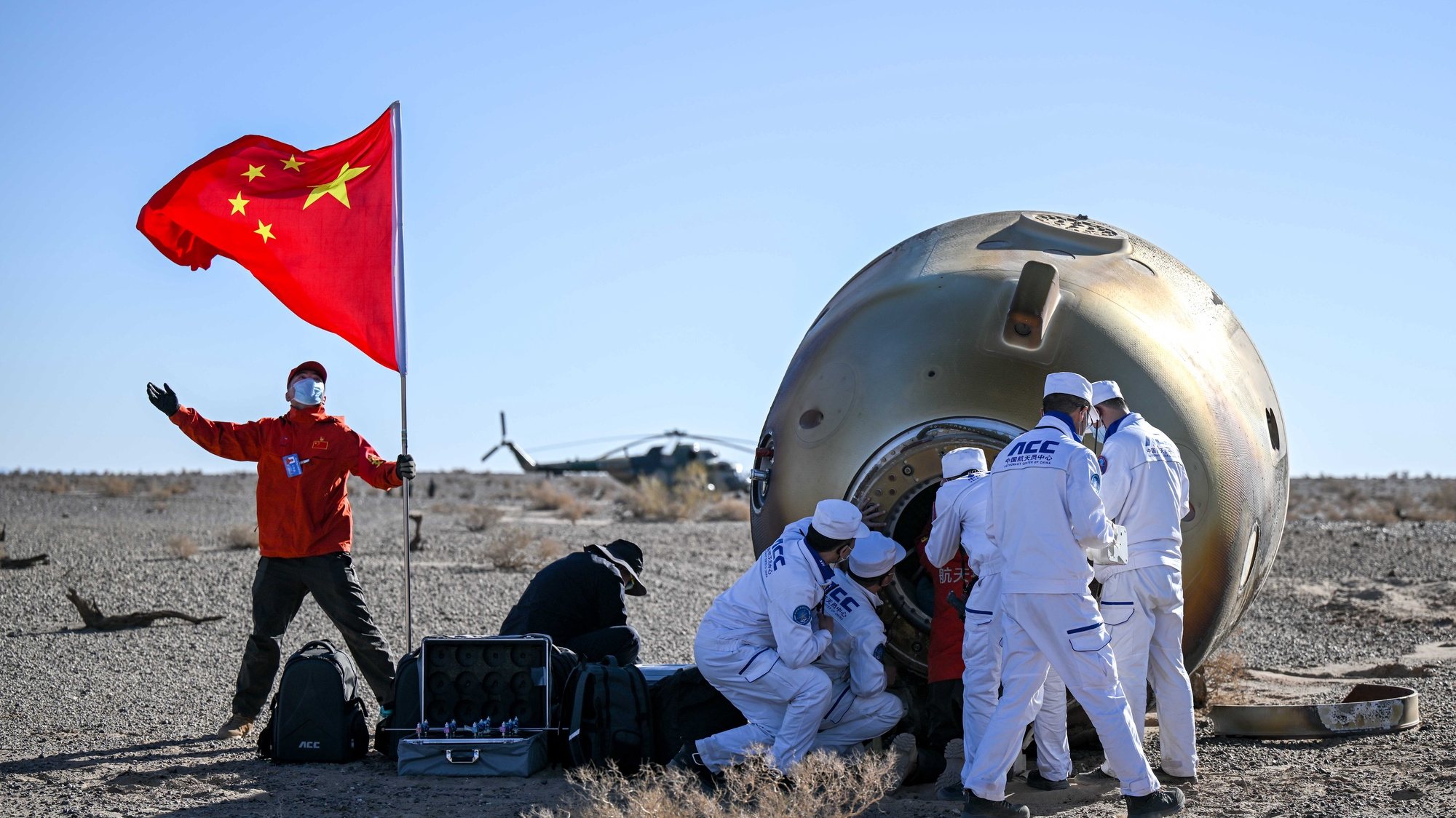Anteontem, Pedro Sánchez e a esquerda espanhola chegaram a um acordo que lhes garantiu a sua primeira vitória após as eleições legislativas de 23 de Julho. Até ao último momento, não era claro se Sanchéz conseguiria angariar o apoio do partido extremista e independentista de Puidgemont, Junts per Catalunya, condição indispensável para conseguir eleger a candidata socialista Francina Armengol como Presidente do Congresso de Deputados e, dentro de umas semanas, conseguir ser investido como Primeiro-Ministro espanhol.
Afinal de contas, após o Partido Popular ter logrado mais votos e mais deputados após as eleições de há um mês, Sánchez necessitaria do apoio afirmativo de uma frente de esquerda e regionalista para conseguir chegar à Moncloa. Não lhe bastava a abstenção de nenhum deles: para além do apoio do seu parceiro de coligação Sumar, precisaria do aval positivo de partidos como o EH Bildu, a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), o Bloco Nacionalista Galego, o Partido Nacionalista Basco e os mais extremistas Junts per Catalunya, que têm como principal objectivo a realização de um referendo inconstitucional à independência da Catalunha.
Do outro lado, o PP necessitaria do apoio parlamentar do Vox, da Coligação das Canárias, da União do Povo Navarro, do supracitado Partido Nacionalista Basco e, ainda, o apoio de mais algum dos partidos que listei em cima, o que seria altamente improvável por motivos ideológicos e regionais. Em alternativa, a solução mais centrista – PSOE a viabilizar um governo minoritário do PP – foi posta liminarmente de parte por Sánchez.
É certo que obter um acordo com o Junts per Catalunya para a eleição de cargos como a presidência do Congresso de Deputados é bem mais fácil do que obter um acordo capaz de sustentar um governo. A questão do referendo à independência da Catalunha, e da amnistia aos envolvidos na Crise Catalã de 2017, está muito longe de ter sido solucionada por Sanchéz. A questão do referendo será, aliás, muito difícil de resolver dentro das baias constitucionais. É provável que vejamos, nos próximos tempos, fortes disputas legais e constitucionais entre Governo, Congresso dos Deputados, Senado e Tribunal Constitucional. Não será bonito. Para além disso, nunca é positivo que, numa democracia, os lados em contenda recorram a mecanismos legais e ao manejo das instituições do Estado de Direito para efeitos políticos. Não é uma porta que se recomende abrir a quem quer preservar a saúde democrática e, uma vez aberta, é muito difícil fechar.
No entanto, penso ser fundamental reflectirmos sobre algo mais importante: porque é que Sanchéz recusa de forma tão veemente um acordo com o PP? Porque é que o centro político parece ter desaparecido em Espanha? A polarização entre blocos políticos agudizou-se e assenta agora numa coincidência muito maior entre as principais clivagens que regem o sistema político espanhol.
De uma forma geral, podemos dizer que a política espanhola consiste num jogo em três tabuleiros. Por um lado, o tabuleiro tradicional esquerda-direita, onde se decidem questões relacionadas com a economia e a redistribuição. Este tabuleiro existe em quase todas as democracias do mundo e, em grande parte delas, é a principal clivagem do sistema. Muitas vezes, num segundo tabuleiro, em quase todos os países, decidem-se também questões relacionadas com os valores sociais e culturais, onde progressistas e conservadores debatem questões religiosas, sexuais, de organização da própria sociedade, de hábitos e mudança culturais, princípios educativos e do papel do Estado em tudo isto. Note-se que estes “tabuleiros” têm muitas vezes outros nomes e coincidem, frequentemente, com outros conflitos políticos, como a pertença religiosa ou posições relativamente à integração do país na esfera internacional. Muitas vezes, linhas étnicas e raciais, ou a posição de cada um em relação à interação entre elas, fazem parte deste segundo tabuleiro, como é o caso da “questão racial” nos Estados Unidos da América.
Em Espanha, joga-se ainda um terceiro tabuleiro, mais raro nos dias que correm, mas não inédito: a questão territorial, isto é, a própria organização e constituição do Estado enquanto tal. Qual deve ser o grau de homogeneização territorial das políticas públicas? Será que o território Espanhol, e como tal o próprio país, alberga diferentes identidades nacionais? Se sim, qual a autonomia que deve dada a cada uma destas quasi-nações culturais? Queremos a preservação, segregação ou integração destas identidades (sub)nacionais? Como podem imaginar, tudo isto são questões absolutamente fundacionais para um regime – um regime democrático pressupõe que o demos se auto-identifique como tal e lhe atribua legitimidade.
Não por acaso, Dankwart Rustow, já em 1970, identificou a unidade nacional como pré-condição da própria democracia. Note-se, claro, que, nas palavras do próprio, esta não tem de constituir algo absolutamente predominante ou que haja um propósito nacionalista na mente de cada cidadão. No entanto, não pode haver dúvidas sobre a nossa pertença a um colectivo, porque é esse colectivo que em conjunto utiliza a democracia para decidir sobre si próprio. Como posteriormente mostraram Linz e Moreno, não por acaso politólogos de nacionalidade Espanhola, é perfeitamente possível sentir que pertencemos simultaneamente a múltiplas comunidades culturais, subnacionais, nacionais e supranacionais (por exemplo, muitos Espanhóis sentem-se Galegos e Espanhóis e Europeus, sem qualquer tensão mutuamente exclusiva entre elas). Ainda assim, os limites e contornos do demos e, como tal, do Estado, não podem estar em questão por uma parte significativa dos cidadãos para que a democracia funcione.
Parece-me que o problema fundamental com o qual Espanha se depara é a coincidência quase absoluta dos três tabuleiros. Isto é, a maioria das pessoas de esquerda são também progressistas e pela descentralização nacional e territorial, enquanto a maioria pessoas de direita são também conservadoras e pela centralização nacional e territorial (o Partido Nacionalista Basco é a excepção mais relevante, já que é simultaneamente pela descentralização e de direita conservador). Durante as décadas que se seguiram à transição espanhola, o tabuleiro territorial parecia relativamente bem distribuído entre esquerda e direita, e bem resolvido, possibilitando que a PP e PSOE a formação de governos minoritários com pequenos partidos regionais. Porem, este sistema deixou de funcionar. Isto é, deixámos de ter aquilo que designamos na ciência política como clivagens cruzadas. O tabuleiro territorial voltou a organizar-se de acordo com as linhas esquerda-direita.
A importância da existência de clivagens cruzadas em democracia e de uma massa de eleitorado centrista é muitas vezes esquecida ou mal compreendida. Mas ambas são essenciais para que exista uma certa flexibilidade que permita ao sistema político resolver os conflitos sem grande violência ou sem pôr em causa os parâmetros e instituições do jogo. Se, para alguns, o “centro” representa o poder oculto e unnacountable do establishment neoliberal que tomou os partidos de centro-direita e centro-esquerda das democracias ocidentais, para outros o “centro” aparece como o Santo Graal da virtude política, com todos os clichês que já ouvimos centenas de vezes sobre a virtude da moderação. Não subscrevo, no entanto, nenhuma destas visões. Os eleitores centristas não são moralmente superiores aos que têm preferências mais vincadas ou extremadas, nem intelectualmente iluminados. Contudo, o oposto também não tem sentido. Quem tem preferências bem definidas não é inerentemente melhor, por ser “destemido” e “resoluto”.
Todos podemos estar mais ou menos distantes de um candidato nas nossas preferências políticas e de políticas públicas. Uma pessoa com posições de um extremo do espectro, pode estar muito perto de um candidato desse extremo. Mas está muito longe dos candidatos do lado oposto. Como tal, deixar o outro lado governar torna-se muito oneroso. Tem muito a perder ao deixar o outro lado governar. O mesmo acontece se todas as nossas posições nos vários assuntos políticos, coincidem com um candidato, ou um “lado” da contenda, e discordamos em tudo do outro lado. Quando assim é, deixar o outro lado governar torna-se extremamente doloroso. Pelo contrário, um eleitor de centro, porque está mais equidistante de candidatos de ambos os lados, tem menos a perder se a sua primeira preferência perder, porque também não está muito longe do outro lado. Da mesma forma, um eleitor que concorde com um candidato em alguns assuntos, mas com outro candidato noutras questões, poderá considerar aceitável que qualquer um dos lados governe.
Quando estamos muito distantes da alternativa, aquilo de que temos de abdicar para deixar o outro governar é muito mais doloroso do que quando estamos mais perto. Consequentemente, é-nos muito mais fácil tolerar comportamentos anti-democráticos, transgressores ou negativos do “nosso” candidato ou partido se a alternativa estiver muito distante daquilo em que acreditamos. Retirar o nosso apoio a um candidato próximo, mas transgressor, é muito difícil se, para isso, tivermos de votar ou apoiar um candidato que odiamos ou com o qual não temos nada em comum. Isto não tem (apenas) que ver com vieses cognitivos – como estarmos mais dispostos a racionalizar ou tolerar um mau comportamento de alguém do nosso “grupo”. Mesmo sem esses vieses cognitivos, é realmente – e racionalmente – muito difícil para um eleitor de um extremo votar em alguém distante, ou deixar esse outro governar.
Num artigo publicado em 2020, Matthew Graham e Milan Svolik estimam que, por esta razão, um eleitor centrista tem quatro vezes mais probabilidade de penalizar um candidato que tenha realizado uma acção anti-democrática do que um eleitor “extremista” ou que se identifica muito com um dos candidatos. Nos Estados Unidos, entre aqueles que têm uma preferência partidária bem definida, apenas 13% estão dispostos a votar contra um candidato do “seu” partido que tenha realizado acções anti-democráticas.
Esta é uma das fragilidades da democracia. Os próprios eleitores podem não conseguir ou não querer conter acções negativas ou transgressoras dos seus representantes quando estas vêm do seu lado político, quando a polarização é demasiado elevada. Esta não é necessariamente uma “falha moral” dos eleitores”. Decorre simplesmente do facto de, em democracia, todos dispormos apenas de um voto, entre um número limitado de alternativas, para realizarmos múltiplos objectivos que consideramos positivos. Tal limitação, porém, é muito mais perigosa num contexto de polarização e coincidência de clivagens, como é o caso em Espanha. A diferença é essencial para a democracia funcionar e é a razão pela qual ela é necessária. Mas demasiada diferença pode levar à sua quebra. Esperemos que a democracia Espanhola, e o seu Estado de Direito, passem a difícil prova com a qual se deparam.