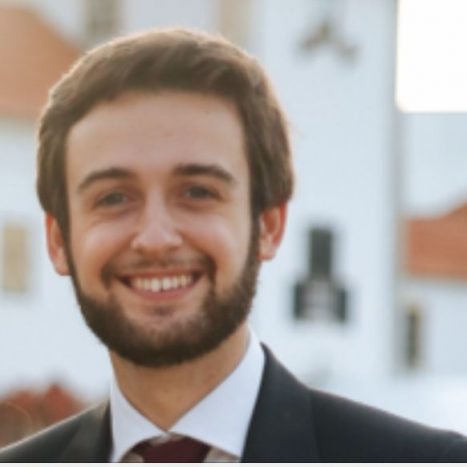Título: “Deus ajude a criança”
Autora: Toni Morrison
Editora: Presença
Páginas: 157
Preço: 12,90€
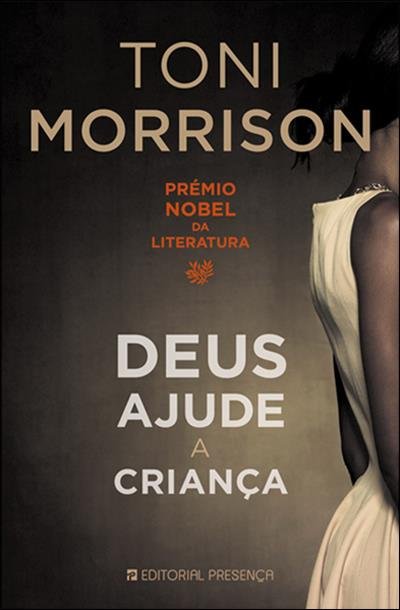
Que a tradução pode influenciar a leitura de um livro não é propriamente a mais recente revelação do segredo dos Templários. No entanto, trata-se de um lugar-comum que importa trazer de novo à liça, e não apenas para aproximar o grau de originalidade da resenha do grau de originalidade do livro em causa. Toni Morrison é conhecida, a contra-gosto, como uma escritora poética. Como alguém que arrebica a narrativa com imagens fantasiosas, que afina o discurso pela voz profética de feiticeiros tribais e pelas lendas negras, tão negras como aqueles que as conhecem, que os seus antepassados trouxeram da Costa Africana ao coração dos Estados Unidos, salgadas com as agruras da travessia e coadas pelo sangue comum até ao coração dos filhos. Este é, habitualmente, o estilo, o modo de contar, de Toni Morrison. Poético, embutido de paganismo, tão diferente da majólica urbana que ela escolhe para objecto das suas histórias.
E é provavelmente por isso que a Toni Morrison tanto lhe desgosta o apodo de “poetical writer”. Queixa-se ela de que os leitores fazem pouco caso das suas personagens, dos seus dramas e tragédias, por estarem hipnotizados pela voz.
Ora, a tradução – não por incompetência da tradutora, mas por incompetência da língua – tira ao discurso as suas particularidades étnicas e o elemento racial que colora o estilo de Toni Morrison. Aquilo que se pode perder em complexidade narrativa – é por sofrerem aquilo que sofrem que as personagens choram desta maneira, com estas palavras e não com outras – pode ganhar-se naquilo que a própria autora anseia. Sem atavios estilísticos que arredondem os traços de carácter, sem ornatos que disfarcem os possíveis buracos no enredo, que vale o livro de Toni Morrison?
E a resposta, infelizmente, é que este Deus ajude a criança vale pouco. A criança (principal, embora a frase surja noutro contexto) por quem se predica é Bride, a quem só Deus pode valer porque a mãe não vale. Em genealogia, era costume chamar tição genealógico a uma página negra (normalmente judiaria) no livro dos antepassados. Ora, Bride é, nas palavras da mãe, um verdadeiro tição, mas também no sentido literal. Negra como um tição, Bride é o grande desgosto da sua alva mãe, que antecipa logo, em jeito de preparação, algumas das safadezas que julga que o futuro reservará para a sua filha.
À primeira vista, o vaticínio materno caiu em saco roto. Bride cresce, torna-se uma mulher deslumbrante, sempre vestida do branco que a genética lhe recusou, é dona de uma popular empresa de artigos de mulher e dona também de tudo quanto forme a pátina de mulher forte e independente de que Toni Morrison e o seu século tanto gostam.
Toni Morrison é uma escritora académica, consagrada, canónica, e o seu discurso já soa académico. As suas injustiças têm a tese demasiado à mostra, os problemas sociais já vêm filtrados pelo problema académico; os mecanismos narrativos já estão domesticados e as desgraças já vêm de analgésico tomado.”
Acontece, no entanto, que Bride abdica de tudo aquilo que tem em prol de dois estranhos projectos: ajudar uma mulher que a própria Bride, ainda criança, com o seu testemunho fecho na prisão, e perseguir um namorado que deu sumiço sem dar cavaco a ninguém.
Corre mal a primeira parte – Bride é sovada pela condicionalmente liberta – e pior a segunda: o carro da bela empresária dos vestidos brancos despista-se, o que a obriga a recobrar dos ferimentos no meio de uma família hippie. Pelo meio, a vistosa mulher vai perdendo misteriosamente – e numa manobra de gosto muito duvidoso – alguns dos atributos que a tornam mais vistosa. Adelgaçam-se-lhe as ancas, alisa-se-lhe o peito, caem-lhe os pelo, recupera a sua figura impúbere, como que a sugerir sem grande subtileza onde está a chave da sua estranha mudança: um grande pecado cometido na infância – previsível desde as primeiras páginas mas guardado pela autora como um grande mistério -, responsável pela prisão da mulher que em adulta tenta ajudar, perpetrado para que a mãe gostasse dela. Apesar de já ser habitual, o expediente de remeter a explicação para a infância podia ser interessante, caso não besuntasse todas as explicações de tudo o que se passa no livro. Há uma rapariguinha prostituída com agenciamento materno, uma condenada por estuprar criancinhas que é também ela molestada, Bride tem na memória a visão do senhorio de sua casa em aventuras com um rapazote, e mesmo o namorado de Bride, embora não tenha sofrido às mãos de nenhum sodomita, viu o irmão morrer nos braços de um.
A percentagem de traumas sexuais infantis por personagem raia os cem por cento, mas Morrison parece não ter aprendido que os abusos são abusos precisamente por serem demais, daí que, em tamanha quantidade, naturalmente percam força e verosimilhança.
É este, aliás, o principal defeito do livro: todas as cenas dramáticas parecem aguadas, quase moralistas, tiradas de um compêndio municipal de cidadania e recato burguês. O desfecho – isto é, a reconciliação entre Bride e Booker, o namorado – é simplista, operado junto a uma cama de hospital num tom quase Nicholas Sparks e, como a todos os dramas do livro, falta-lhe densidade humana.
No enredo, embora não haja fissuras (a técnica de reforçar o que foi dito pela boca de várias personagens é interessante), não resiste o mistério, nem a tragédia, nem a resolução. Nas personagens, mesmo que a quase todas seja dado o privilégio de serem narradoras por um ou outro capítulo, pouco resiste de verdadeiramente pessoal, visto que todas têm os mesmos traumas. Sobram, e mesmo assim por pouco tempo, as ideias: a denúncia, embora não gritante, da opressão étnica, os problemas raciais, a injustiça e a conduta de racismo passivo. O mais interessante de tudo isto está na forma como demonstram que a marginalidade se tornou, pouco a pouco, o centro do academismo. Morrison não é só uma escritora académica, consagrada, canónica, a falar de problemas sociais; é uma escritora académica, consagrada, canónica, e o seu discurso já soa académico. As suas injustiças têm a tese demasiado à mostra, os problemas sociais já vêm filtrados pelo problema académico; os mecanismos narrativos já estão domesticados e as desgraças já vêm de analgésico tomado.
Toni Morrison ilustra bem o problema de se querer afinar as ideias pela revelação dos problemas de minorias. É que se o problema está no alvo, este, à medida que vai entrando no espaço público, vai-se tornando (pelo menos no discurso) maioritário. Daí que, para subsistir neste esquema, seja sempre necessário acercar-se de uma nova minoria, por mais pequena que seja. O problema é que, por este processo, ou se torna irrelevante o que se diz – porque já toda a gente, dado que a minoria já é maioritária no discurso – ou insignificante aquele de quem se fala – porque ninguém o conhece.
O problema não está no alvo, não está nas injustiças contra os negros, ou contra os asiáticos, ou contra a classe operária. O problema está na injustiça, não em quem sofre mas em quem a perpetra. E esse não é, decididamente, um problema de minoria.