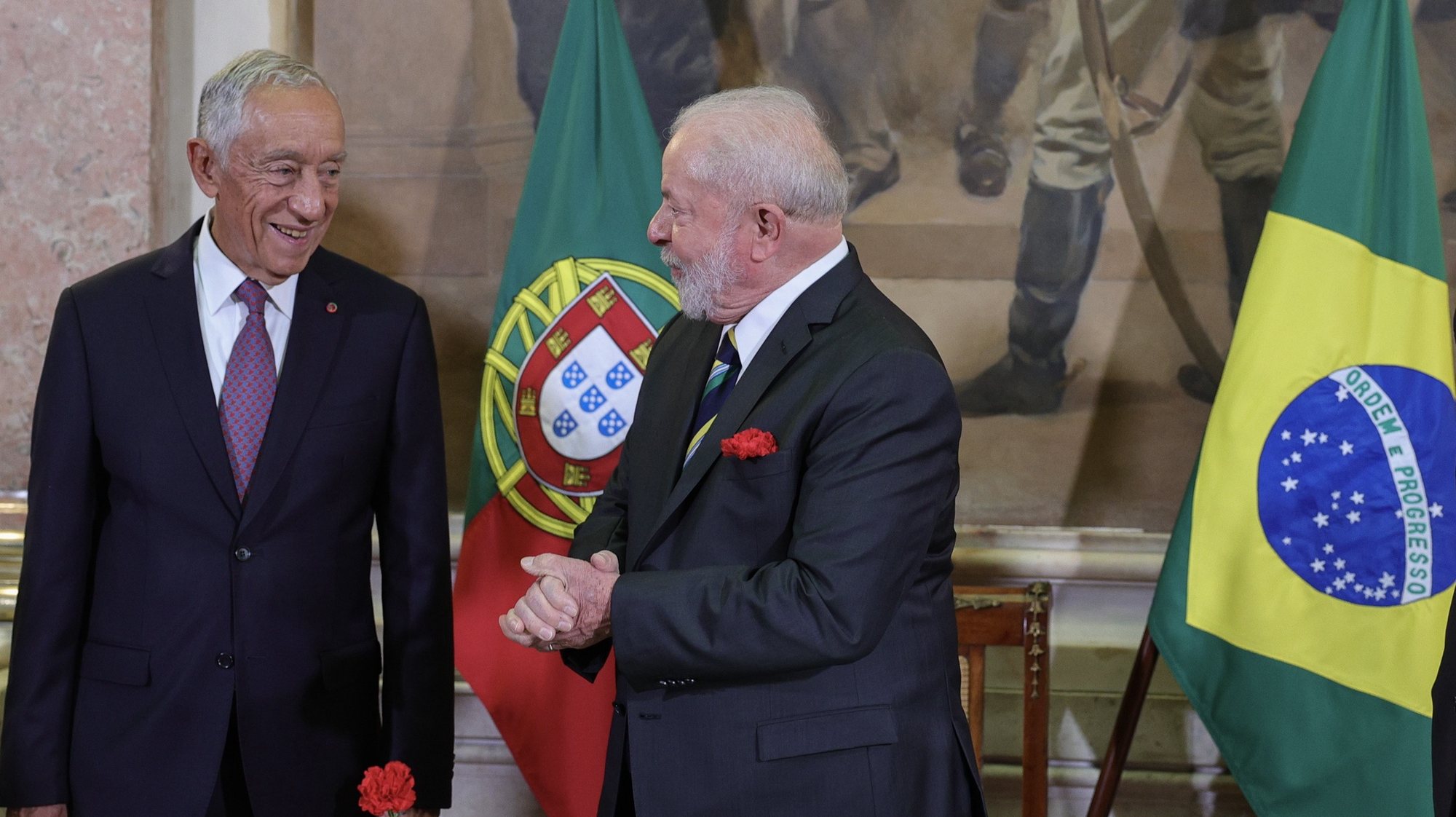Índice
Índice
O pai diz que ele tinha apenas seis meses. A mãe diz que Rodrigo já tinha um ano e meio. Foi nesse momento, o da separação, que tudo começou. A rotina e a vida de Rodrigo viriam a ser ditadas por sucessivas decisões judiciais ao longo dos seus 12 anos de vida. Almoços e festas de um lado. Dormidas noutro. Até ao dia em que uma juíza do Tribunal de Família e Menores de Tomar considerou que este não era um ambiente saudável para a criança crescer e que o melhor era colocar Rodrigo em terreno “neutro”. Internando-o numa instituição.
A decisão foi assinada a 29 de abril, ainda antes de terminar o julgamento iniciado por uma queixa da Comissão da Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Vila Nova da Barquinha. Ao fim de duas sessões, e depois de ouvir os pais e a criança, a juíza considerou essencial ao desenvolvimento integral e saudável da sua personalidade que ela fosse colocada em terreno “neutro”. Em doze anos de vida, entendeu o tribunal, Rodrigo nunca conseguiu ter, por responsabilidade dos pais, um projeto de vida consistente e saudável.
Foi também a 29 de abril que a decisão chegou por fax à GNR da Chamusca. Os militares tinham ordem para, até às 21h00, se deslocarem a casa do pai de Rodrigo, onde ele tem passado mais tempo, com uma equipa da Segurança Social para levar a criança para uma instituição. Ao Observador, fonte oficial da GNR explicou que, nestes casos, é sempre enviada uma equipa da Unidade de Intervenção porque “não se sabe o que se vai encontrar”. Neste caso concreto, foi também enviada uma militar à civil “que já conhecia a criança” e que integra os programas especiais da Guarda. E o comandante do posto da GNR da Chamusca.
Rodrigo não queria sair de casa
Eram 20h30 quando os militares bateram à porta da casa do pai de Rodrigo, João C. Nas mãos traziam um mandado de condução com a decisão provisória da juíza de Tomar: o seu filho deveria ser internado numa instituição durante seis meses. Naquele momento, quando Rodrigo percebeu que iria ser tirado de casa, correu para o quarto aos gritos e enfiou-se num armário. Gritou que não queria ser retirado ao pai, nem ficar longe dos amigos. “Pai, acaba com isto”, pediu. Como contou ao Observador, João C. fechou a porta aos militares e telefonou à advogada.
Quando a advogada Rita Cardador chegou à pequena moradia, o aparato policial “era enorme”. Havia, segundo o seu relato ao Observador, “uns oito militares da Intervenção Rápida, uma militar à civil, o comandante de posto e duas técnicas da Segurança Social”. Estavam todos à porta de casa e esperavam executar o mandado que a juíza determinou que fosse cumprido até às 21h00.
Dentro de casa, Rodrigo chorava e gritava enfiado no armário. O pai não sabia o que fazer. “Tentei explicar-lhe que a única forma era deixar a criança ir. Senão podia ser detido por desobediência. E que o passo seguinte seria recorrer da decisão”, diz a advogada.
João acalmou. Rodrigo não. “Tentei conversar com a criança, explicar-lhe. Consegui que ele viesse à porta do quarto. Depois, o senhor João deixou a GNR entrar. E a militar à civil tentou conversar com ele”. Mas, mal Rodrigo ouviu a sua voz, alcançou um extintor e acionou-o sobre a advogada, a militar e o comandante.
Terá sido neste momento que um militar da Unidade de Intervenção o agarrou ao colo e o tirou de casa. “Só o ouvia a chorar e a gritar. Estava descalço. Ainda alertei os militares para isso. Foi o pai que acabou por ir buscar alguns bens dele”, recorda a advogada. “Nunca vi nada assim.” Rodrigo foi levado no banco de trás do carro da GNR, ladeado por duas técnicas da Segurança Social. Cerca de 40 minutos depois, Rodrigo telefonou ao pai. Ainda chorava. Seria levado para uma instituição em Fátima.
“A situação foi indescritível. Quando entrei no portão estavam todos ali, os militares da GNR da Chamusca, os militares do Corpo de Intervenção… Eu disse que aquilo não tinha necessidade. Pedi-lhes para recuarem. O senhor João é uma pessoa com 74% de incapacidade [sofre de esclerose múltipla]. Pedi para terem calma”, descreve a advogada.
“A situação foi indescritível. Quando entrei no portão estavam todos ali, os militares da GNR da Chamusca, os militares do Corpo de Intervenção… Eu disse que aquilo não tinha necessidade. Pedi ao Corpo de Intervenção para recuar”, lembra a advogada Rita Cardador.
Contactada pelo Observador, fonte oficial da Segurança Social explicou que “a retirada da criança é preparada e planeada atempadamente” nalguns casos. Noutros, “no âmbito de execução de decisões judiciais que determinem a retirada imediata da criança”, “não é possível acautelar ” esse planeamento. “Nestas situações cabe aos técnicos da Segurança Social minimizar no local o impacto negativo que uma situação destas tem na criança/jovem e, como já referido, acompanhar a criança ao local de acolhimento procurando estabilizá-la e acalmá-la durante o percurso, e fazer a sua integração/acolhimento com a equipa da Casa de Acolhimento”.
Da Chamusca à Assembleia da República para uma greve de fome
Dois dias depois de ver os militares levarem-lhe o filho, João C. fez as malas e instalou-se à entrada da Assembleia da República para uma greve de fome, como já tinha feito em finais de 2014 quando lutava por uma pensão de invalidez. A ideia era divulgar a sua história e conseguir “processar a juíza.”
Foi em frente à escadaria de acesso à Assembleia da República, em Lisboa, numa segunda-feira, que o Observador o encontrou. João C. montou uma tenda, muniu-se de água, de documentos do processo e de cartazes. Foi abordado por turistas, por deputados e representantes de partidos. E só um advogado conseguiu fazê-lo mudar de ideias três dias depois. Iria ajudá-lo no recurso da decisão para o Tribunal da Relação de Évora, mas teria que interromper a greve de fome.
A mãe de Rodrigo, Rossana M., não quer tocar no assunto. Contactada pelo Observador para reagir ao internamento da criança, diz que encarou a opção da juíza “como uma decisão estruturada e a pensar no que seria melhor” para o seu filho. “Claro que me sinto mal por ele estar fora da família. Mas tenho que aceitar por saber que neste momento ele está com pessoas que o podem ajudar.” A advogada que a representa também optou por não fazer muitos comentários, para que o processo de promoção e proteção de Rodrigo “decorra com serenidade”.
Um caso que começou em 2005, tinha Rodrigo um ano
A primeira vez que o nome de Rodrigo chegou a um tribunal foi em 2005, altura em que foi homologado o primeiro acordo de regulação do poder paternal entre João C. e a ex-companheira, na sequência do processo de divórcio. O casal decidira separar-se “tinha o Rodrigo seis meses”, explicou João C. ao Observador, e também ao tribunal. Rossana M., por seu turno, disse sempre às autoridades que o corte se deu quando a criança tinha um ano e meio. Uma de muitas contradições entre os dois.
Quando se divorciaram, João C. alegou que ela o abandonou e não quis levar o filho. Rossana M. refuta e afirma que foi ele quem lhe tirou o bebé. No papel, em tribunal, a primeira decisão de regulação do poder paternal apontava para uma guarda partilhada, com a participação da avó materna, entretanto falecida. Estabeleceram-se datas especiais em que o menor devia estar com o pai e com a mãe. E definiu-se quem pagava o quê. Mas não foi fácil.
Nos anos seguintes, as alterações do poder paternal foram-se acumulando. Do processo de divórcio nasceram nove apensos. A maior parte referentes a pedidos de alteração da guarda da criança, ora vindos de João C., ora de Rossana M. Ele acusa a mãe do filho de sofrer de “insanidade mental”, embora os testes psicológicos não o confirmem. Ela acusa-o de não respeitar os encontros estabelecidos, negando-se à presença dela na vida do filho. Rossana M. tem um filho mais velho, fruto de outra relação, com quem Rodrigo gosta de estar. Mas até essa ligação não foi alimentada. Uma outra fonte ligada ao processo diz que, ao longo destes anos, as acusações foram atiradas dos dois lados. E Rodrigo foi crescendo com “medo de amar a mãe” e com “medo de contrariar o pai”.
Ao longo dos últimos onze anos, o nome de Rodrigo e todos os desentendimentos dos pais — que passaram por troca de acusações e de queixas à polícia por agressões de parte a parte — passaram pelas mãos de vários magistrados. O processo está também com a Equipa Multidisciplinar de Assessoria ao Tribunal (EMAT), da Segurança Social, que tem promovido testes psicológicos a João C., a Rossana M. e ao próprio Rodrigo. E que até sugeriu ao tribunal que Rodrigo se mantivesse em casa do pai, mas que ali recebesse as visitas da mãe com supervisão das suas técnicas.
Numa das decisões de regulação do poder paternal, teria Rodrigo cerca de nove anos, afirmava-se que a criança vivia de medo e constrangimentos. Além disso, não se sentia descansado sem a presença do pai e não desfrutava da companhia da mãe por sentir peso na consciência ao parecer feliz ao lado da mãe. Mais. O tribunal entendia que Rodrigo se sentia confuso e por vezes chegava a odiar a mãe. Uma alteração de comportamento que o tribunal atribuía ao comportamento de João C. com o filho, considerando-o doentio e obsessivo.
Perante este cenário, o tribunal concluiu então que o menor sofria de síndrome de alienação parental. E estabeleceu que Rodrigo permaneceria com o pai, mas o leque de visitas da mãe seria alargado a almoços na escola, a contactos por telemóvel e a períodos de férias mais diversos. Sem efeitos práticos.
Criança em perigo
O processo de promoção e proteção que resultou, numa primeira fase, no internamento de Rodrigo chegou ao Tribunal através da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco e foi apensado ao processo de divórcio de João C. e de Rossana M. No processo, constam os avanços e recuos e de um eterno desacordo de regulação do poder paternal, as queixas feitas à polícia e os testes psicológicos a que toda a família já se sujeitou. Disputas e mais disputas, às quais Rodrigo assistiu.
A 18 de abril, Rodrigo sentou-se perante a juíza e foi irascível. Rejeitou cumprimentar a mãe, acusou-a de lhe bater. Do outro lado, a magistrada olhou para o seu discurso e considerou-o preparado, estudado, incoerente. Considerou, mesmo, que as suas palavras eram precisamente as mesmas que o pai usava quando fala da sua mãe. A juíza concluiu que Rodrigo se encontrava em perigo. E que os comportamentos dos pais ao longo destes onze anos foram atentatórios do seu bem-estar físico e emocional, comprometendo o seu desenvolvimento saudável.
Assim, e de acordo com a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, a juíza decidiu internar por seis meses Rodrigo numa instituição, colocando-o num terreno “neutro” e “securizante”, longe dos conflitos dos adultos. A juíza espera que, assim, os adultos reflitam sobre a forma como têm lidado com o filho.
A medida extrema
A pedopsiquiatra Ana Vasconcelos reconhece ao Observador que a institucionalização é a medida extrema e limite de um processo de proteção de uma criança. E que não é muito comum que um tribunal a aplique. “Os juízes recorrem a estas situações quando os pais não têm responsabilidade parental competente. Neste momento, tenho confiança na nossa justiça e sei que os juízes têm feito um trabalho imenso. Fazem-no quando é uma medida de força maior, tendo como bússola o superior interesse da criança”, refere.
Mesmo quando “nos parece” chocante, é preciso perceber, diz a especialista, que por trás da decisão de um juiz há uma equipa a trabalhar no caso, que tem o Ministério Público, a Segurança Social e uma série de técnicas cuja avaliação contribuiu para a decisão.
Eu já tive uma situação em que uma criança preferia ir para uma instituição do que para casa dos tios, porque era um sítio neutro”, diz a pedopsiquiatra Ana Vasconcelos.
No fundo, o que se procura, refere Ana Vasconcelos, é um terreno “neutro”. Para afastar a criança do centro da discórdia. “Eu já tive uma situação em que uma criança preferia ir para uma instituição do que para casa dos tios, porque era um sítio neutro”. E explica porquê. “O que faz muito mal é os vínculos de fidelidade aos pais, a criança aliena-se, prefere afastar-se, porque tomar partido é enlouquecedor. Temos de trabalhar para que os filhos criem ligações com os pais. A criança andar a fugir de um progenitor para o outro já é um comportamento alienado”, considera.
“Não há decisões perfeitas”
Esta é a segunda vez que o presidente da associação Pais Para Sempre ouve falar de uma decisão assim: colocar a criança numa instituição “até os pais se entenderem”. João Mota refere ao Observador que não há decisões “perfeitas”, mas reconhece que esta tenha sido a melhor alternativa encontrada pela juíza. “Estamos a falar de um pré-adolescente que tem um laço de lealdade muito forte para com o pai e que precisa de reatar uma relação de proximidade com a mãe, porque é importante enquanto família parental. Se o juiz decidiu desta forma é porque não encontrou melhor solução”, diz.
João Mota defende que a institucionalização é uma medida “drástica” que “não deve acontecer”. Os tribunais “devem ser o garante da justiça” e proteger os “direitos do cidadão que é a criança”. No caso em concreto, que o responsável não conhece de perto, não havendo familiares próximos que pudessem acolher Rodrigo e sendo os encontros com a mãe tão difíceis, então “a institucionalização acaba por ser uma forma de atenuar esse momento desagradável das visitas.”
Devia Rodrigo ter sido informado e apoiado na decisão tomada que o retirou de casa? Para João Mota, não há preparação possível nestes casos. “Não se avisam as pessoas que estão presas, senão fogem, logo não se avisam as pessoas que são institucionalizadas”, explica. Mais. “Como é que se prepara uma pessoa para dizer que vai ser arrancada do seu meio natural de vivência? A situação é sempre traumática. Havia forma de tratar o trauma da alienação com outro trauma?”, interroga, acreditando que também os juízes se batem com estas questões quando decidem. “Não há nenhuma decisão que não provoque dano. Esse mundo idílico não existe. Todos nós passamos por momentos traumáticos em crianças e sobrevivemos. As crianças e todos os seres humanos têm uma enorme resiliência.”
O juiz Joaquim Manuel Silva, há mais de dez anos a trabalhar no Tribunal de Família e Menores, corrobora. “Estas questões são sempre dolorosas e difíceis para nós, que temos que decidir, mas as crianças são muito resistentes”, explica ao Observador. No entanto, acrescenta, “nestas situações temos um conjunto de danos globais, em que há conflitos, há negligências e temos que encontrar uma solução”. No fundo, a decisão passa por “diminuir danos”. Aos olhos de uma família comum pode ser chocante, sim, “mas o público compara no quadro de uma criança feliz, numa vinculação segura, que é posta numa instituição”. E não é o caso. “A criança é retirada quando está numa situação tal, que essa decisão é a melhor”. O magistrado sublinha que “muitas vezes” os juízes apostam “nos pais e, mais tarde, estes miúdos transformam-se em delinquentes, abandonam o sistema escolar, desenvolvem doenças psiquiátricas”.
Alienação parental: que tipo de vínculo?
Ainda assim, o internamento é a medida última, mesmo em casos de alienação parental. O juiz Joaquim Manuel Silva explica que o Síndrome de Alienação Parental é atualmente visto de uma forma bidirecional. Ou seja, já não é só a influência que um pai ou uma mãe tem sobre o filho, mas as consequências que isso provoca no desenvolvimento da criança e no seu comportamento. E são estas diferentes vinculações que têm que ser vistas à lupa, em cada caso, para tomar uma decisão. Porque há vinculações seguras que permitem, em casos de alienação parental, “reescrever a vida da criança” com recurso a terapias cognitivas, mas há vinculações inseguras que se tornam “complicadas”.
“É preciso olhar para o funcionamento da criança. Depois do corte do cordão umbilical físico, cria-se um cordão psicológico. A criança situa a sua sobrevivência no pai, na mãe ou num terceiro. De quem cuida. Esse é um processo em que ela adquire segurança. E é a partir daí que explora o mundo. Quando ela está fora dessa zona de segurança, tem medo, sente insegurança e volta para a zona de segurança. Procura a proteção do vinculador”, explica o juiz.
“É preciso olhar para o funcionamento da criança. Depois do corte do cordão umbilical físico, cria-se um cordão psicológico. A criança situa a sua sobrevivência no pai, na mãe ou num terceiro. De quem cuida. Esse é um processo em que ela adquire segurança. E é a partir daí que explora o mundo. Quando ela está fora dessa zona de segurança, tem medo, sente insegurança e volta para a zona de segurança. Procura a proteção do vinculador”, explica o juiz Joaquim Manuel Silva.
E é neste comportamento que o juiz consegue determinar que tipo de vínculo a criança tem com o cuidador. Se a criança se sente segura quando volta para perto do seu vinculador, a vinculação é segura. Quando se sente insegura e não procura o vinculador, estamos perante uma vinculação insegura. Estes dois casos podem ser resolvidos, diz o juiz, com recurso a psicoterapia e com a ajuda de psicólogos que trabalham no tribunal. Tem sido, aliás, o que tem trazido uma enorme taxa de sucesso nos processos que lhe aparecem no Tribunal de Sintra.
Mas há, ainda, uma terceira situação, que na perspetiva do magistrado é a “mais complicada”: a criança agarra-se à mãe ou ao pai, mas não acalma. “É uma situação de fusão. E, à medida que vai crescendo, vai invertendo o processo. É a criança que tenta proteger o vinculador”. Este determina o que é perigoso e seguro. E qualquer estratégia de manipulação, ou o simples conflito entre os pais, assim como a idade da criança “determinam que ela vá assumindo as dores do vinculador”. Assim, conclui, quando o cuidador se sente atacado, a criança sente as suas dores. “O alienado contribui para a sua própria alienação.” E aqui, dificilmente será possível trabalhar a criança sem a retirar do seu alienador. “Muitas vezes, em ultima instância temos que retirar a criança. É uma situação de penalização para a criança, mas deixá-la num processo alienante é uma violência e um mau trato enorme, que vai destruir o mundo emocional e condicionar o seu relacionamento com os outros. Retirá-la pode ser uma dádiva”, diz o juiz.
Segurança Social tinha feito outra proposta
Antes de a juíza de Tomar decidir que o terreno neutro era uma instituição em Fátima, ainda teve em conta a proposta da EMAT de Santarém, que conta com peritos da Segurança Social. Propunha-se que Rodrigo se mantivesse com o pai e começasse por receber visitas da mãe supervisionadas por técnicas. Mas a juíza considerou que a convivência só com o pai seria um risco e que as visitas supervisionadas já tinham sido testadas sem sucesso. Por outro lado, não havia família disponível para acolher Rodrigo.
O processo vai continuar a ser julgado e esta decisão provisória suspende todos os outros pedidos de regulação do poder paternal que estavam pendentes. O objetivo é que, nestes seis meses, a relação de Rodrigo seja trabalhada com o pai e com a mãe na instituição — na presença de técnicas da Segurança Social, que deverão fazer relatórios de tudo o que se passar. A medida será revista dentro de seis meses. Até lá, Rodrigo foi privado do contacto diário com o pai, com a mãe e com os amigos. E da escola. Como a instituição onde se encontra fica distante da sua escola, dificilmente conseguirá terminar o ano letivo. Será um ano perdido. Como tantas outras perdas que Rodrigo já sofreu nos últimos onze anos de vida.