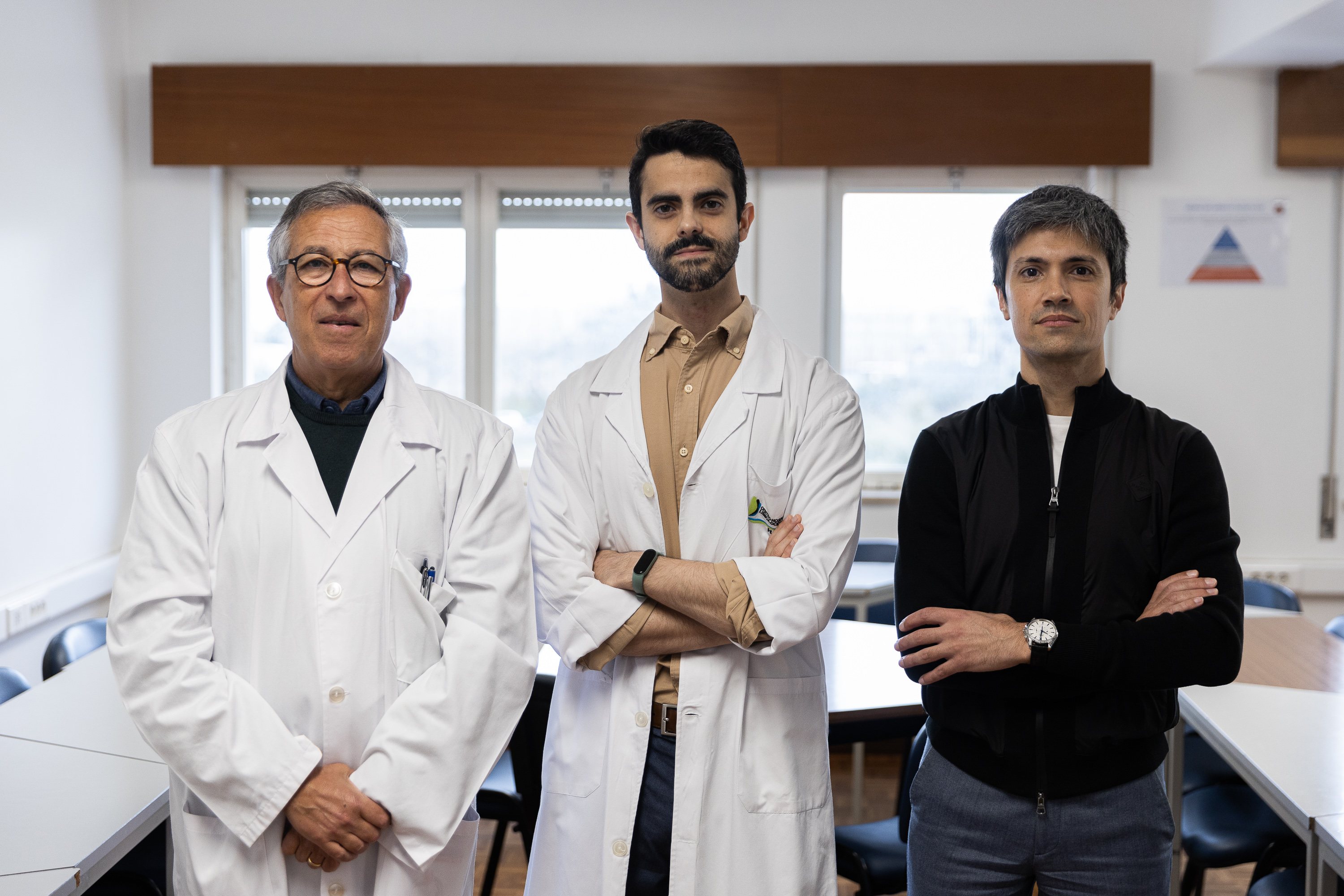Quando “O Passado e o Presente”, de Manoel de Oliveira, se estreou em 1972, João César Monteiro escreveu, no suplemento literário do Diário de Lisboa, entre outros elogios, que ele era “um cineasta demasiado grande para um país tão pequeno”, e que aos 62 anos, tinha acabado de fazer “o seu maior e mais inteligente filme”. Mas o autor de “Recordações da Casa Amarela” escreveu ainda no mesmo artigo: “(…) Antipatizo consigo. Se quiser, é uma antipatia de classe, feroz, desdenhosa. Irremediável. Há ainda o seu inconcebível catolicismo de catequista que (diga-se) se traduz num humanismo bolorento e charlatão sempre que o senhor sacrifica o discurso cinematográfico a uma verborreia pseudo-literária para se dar ares de carpideira filosófica preocupada com os pecados do mundo.” E nesta alternância de água benta e ácido sulfúrico, mais escreveu César: “É urgente rever o Oliveira, confirmar-lhe os fracassos, redescobrir-lhe o espantoso talento. A espantosa vitalidade também”.
(“O Passado e o Presente”)
Nunca mais ninguém voltou a escrever assim em Portugal sobre Manoel de Oliveira, sem papas na língua e com uma tão frontal definição do gosto-não-gosto-e-digo-porquê, já que praticamente se institucionalizou o discurso de exaltação acrítica e de exegese em superlativos da sua obra, acompanhados por aquilo a que o falecido Pedro Bandeira Freire chamava “intimidação cultural”. Gostar dos filmes de Oliveira era, para uma certa intelligentsia com vocação de patrulheira dos gostos alheios, culturalmente correcto; não gostar era a morte cultural. Paralelamente, surgiu um outro discurso, este anti-Oliveira, que se comprazia numa execração chocarreira dos seus filmes em bloco, tendo aqueles que o promoviam, na maior parte das vezes, visto apenas “Aniki-Bóbó” – o filme mais “consensual” do realizador – e cinco minutos de “Amor de Perdição”.
(“Aniki-Bobó”)
Espartilhado entre ambos, ficavam aqueles que sabiam que nem tudo o que Oliveira tocava luzia como ouro, que o realizador, a par de filmes brilhantes, inspirados e conseguidos, também fazia filmes menores, falhados e francamente maus. Aqueles que não fingiam gostar dos filmes que não lhes tinham agradado para não “parecer mal”, não destoarem do quase-unanimismo, não fazerem figura de irremediáveis ignorantes, e que procuravam não se atolar no lamaçal dos estereótipos quer dos zelotas, quer dos incréus do cineasta. (Reconheça-se que Oliveira também não facilitava as coisas para o seu lado em termos de simpatia do público, ao repetir – mesmo que fosse em jeito de piada – que não se importava que os seus filmes não tivessem “um espectador que fosse”, ou que “fazia tudo” para que o público não aderisse a eles…).
A retrospectiva integral, e por ordem cronológica, dos filmes de Manoel de Oliveira que decorre em vários locais do Porto até ao dia 10 de Dezembro (Teatros Rivoli e Campo Alegre, Museu de Serralves e Cinema Passos Manuel) dá-nos uma boa oportunidade para pegar nas palavras de César Monteiro e rever a obra do autor de “Amor de Perdição”, para lhe reconhecer os “fracassos” mas também para destacar o “talento” e a “vitalidade”. E para tentar fugir a esta sina de extremar opiniões quando se fala de Oliveira e dos seus filmes, ou é génio ou é um bluff.
(“Amor de Perdição”)
https://youtu.be/pKCS5jIDJ8o
Nada mais lamentável do que ser redutor, para um lado ou para o outro, quando há singularidades, contradições (palavra não necessariamente negativa, neste caso) e características únicas e por vezes pouco realçadas, para minerar no vasto e precioso acervo cinematográfico deixado por Manoel de Oliveira. Um realizador que, no cinema português, não teve antecessores, não cultivou discípulos, não deixou herdeiros nem escola, e de quem é arriscado procurar definir um “estilo” ou descrever uma rotina estético-formal, tais e tão surpreendentes são as guinadas que de vez em quando dá com os seus filmes – alguns dos quais parecem feitos por pessoas totalmente diferentes –, tal é a forma como às vezes parece académico e noutras surge como experimental (lembram-se de “O Meu Caso”, em 1986, aglomerando Régio, Beckett e O Livro de Job numa história com quatro pontos de vista e a fazer jiga-jogas com o som? ).
(“O Meu Caso”)
Afinal, não é Oliveira aquele cineasta que tanto é capaz de estar na crista da onda da vanguarda cinematográfica com um filme como “Douro, Faina Fluvial” (1931), influenciado por obras como “Berlim, Sinfonia de Uma Cidade”, do alemão Walter Rutmann, e “O Homem da Câmara de Filmar”, do russo Dziga Vertov, que arrebata pelo movimento, fala pela imagem, ousa pela montagem; como parecer que se meteu numa máquina do tempo e foi ao passado, ao tempo dos “primitivos” do cinema, fazer um estático, artificial, verboso, átono “Amor de Perdição” (1978), concebido, nas suas palavras, “como se fossem quadros vivos, uma sucessão de quadros onde as pessoas estão a declamar”? O cineasta que gostava de dizer coisas como “o cinema não pode ir além do teatro” ou “o cinema é a fixação audiovisual de uma representação teatral”, e depois revela nos seus filmes alguns dos mais belos, deslumbrantes e puros momentos visuais do cinema português, onde a câmara diz tudo sem precisar de qualquer palavra, nem um monossílabo sequer (e recordo aqui, de forma impressionista, certos planos de “Francisca”, “Vale Abraão”. “O Dia do Desespero”, “Viagem ao Princípio do Mundo” ou “O Quinto Império”?).
(“Vale Abraão”)
Ou ainda o cineasta que em 1975, em plena tempestade do PREC, e no meio da vertigem cacofónica e radicalizada do cinema “revolucionário e de massas” que ia apontar aos portugueses o caminho do socialismo, explicar como fazer o funeral ao patrão, ou a melhor maneira de instalar a ditadura do proletariado, roda, a contrapelo da agitação, do desatino, da demagogia e dos apelos à violência em redor, “Benilde ou a Virgem Mãe”, um filme de tema místico-religioso que adapta uma peça do católico e conservadoríssimo José Régio, e onde combina classicismo formal e ousadias de encenação, ao mostrar décors e câmaras? Recordo-me de ter ido ver “Benilde” com um colega de liceu muito, muito esquerdista, que à saída desabafou: “Este Oliveira sempre me saiu cá um fascista de sacristia!…”
(“Benilde ou a Virgem Mãe”)
Por falar em Régio, há que recordar que Oliveira, talvez o mais “literário” dos realizadores portugueses, nunca se cansou de levar à tela obras de escritores portugueses, grande parte dos quais naturais do Norte, como Agustina, Camilo, Raul Brandão, Eça ou Pascoaes, o que faz dele um cineasta profundamente ligado ao seu rincão geográfico e intelectual, bem como à cidade onde nasceu. Uma cidade que está tantas vezes e tão bem presente nos seus filmes, sejam de ficção ou sejam documentais, como o belíssimo “O Pintor e a Cidade” . Cineasta português de expressão internacional, Manoel de Oliveira foi ao mesmo tempo um cineasta enraizadamente do Porto, representante de uma tradição burguesa individualista, liberal e culta desta cidade, bem como de uma identidade e sensibilidade nortenha.
(“O Dia do Desespero”)
Além daqueles nomes maiores da literatura nacional, Oliveira também transportou para a tela textos de outros autores menos conhecidos, de segundo plano ou mesmo menores. É o caso de Vicente Sanches (“O Passado e o Presente”), Prista Monteiro (“A Caixa”, um dos seus melhores filmes, um comentário arrasador, e cheio de humor feroz, sobre a inveja e a ganância) ou Álvaro Carvalhal (o infeliz e involuntariamente hilariante “Os Canibais”). E já que estamos com a mão na massa, diga-se em abono da verdade que, da sua colaboração com Agustina Bessa-Luís, talvez a menos “cinematográfica” das escritoras portuguesas, ou da inspiração que foi buscar aos seus livros, não saíram apenas filmes de excepção como “Francisca” ou “Vale Abraão”. Há também coisas francamente falhadas, como o insofrível “Party”, que mais parece rádio filmada, ou o insipidíssimo “Espelho Mágico”.
(“A Caixa”)
Outro aspecto da obra de Oliveira geralmente pouco referido tem a ver com o seu interesse pela História de Portugal, expresso em filmes como “’Non’, ou A Vã Glória de Mandar”. Esta é uma das raras grandes produções portuguesas do género, uma reflexão anti-heróica, céptica e pessimista, sobre o discurso histórico glorificador de vitórias, feitos e conquistas, e a inutilidade última destas, ilustrado pelo que o realizador considera ser um punhado de derrotas significativas da nossa história.
Além de uma nada convincente sequência inicial passada no Ultramar, onde em pleno mato a soldadesca se entrega a reflexões pseudo-profundas sobre temas como o sentido da guerra ou o destino nacional, como se fossem estudantes universitários em volta de uma mesa de café, a fita denuncia fragilidades na verosimilhança da recriação de época, e em especial numa batalha de Aljubarrota encenada de forma tosca e, que do ponto de vista militar, tem muito pouco a ver com a batalha real. Mesmo assim, recorde-se que Oliveira tinha já 82 anos quando se empenhou neste filme de produção árdua e complexa, sobretudo tendo em causa que não temos uma indústria cinematográfica que escore obras com estas características.
(‘Non’ , ou a Vã Glória de Mandar”)
Muito mais interessante e conseguido é “Palavra e Utopia”, que se ocupa da figura e da obra do padre António Vieira, interpretado em três tempos da sua vida por três actores diferentes, Ricardo Trêpa (na juventude), o brasileiro Lima Duarte (na meia idade) e Luís Miguel Cintra (na velhice), É um filme onde o gosto do realizador por um cinema da palavra significativa se realiza plenamente nos sermões de Vieira, e um dos momentos mais altos dessa vertente do cinema de Oliveira, porque a verdadeira protagonista de “Palavra e Utopia” é, no fim de contas, a palavra cheia de acção do padre António Vieira. Uma referência ainda ao algo desconsiderado “O Quinto Império-Ontem como Hoje”, onde Manoel de Oliveira volta a recorrer a José Régio, agora para reflectir sobre D. Sebastião e o sebastianismo. Sendo mais um dos seus filmes muito “encenados” e falados, “O Quinto Império-Ontem como Hoje” tem uma surpreendente dimensão semi-fantástica, uma crescente atmosfera fantasmagórica, que atinge o auge na cena do aparecimento dos reis, cujas estátuas, aliás, já pareciam vivas.
(“Palavra e Utopia”)
Não esquecer ainda, num registo mais pessoal e autobiográfico, “Viagem ao Princípio do Mundo”, onde Manoel de Oliveira revisita o passado e fala (também) de si pela interposta pessoa de Marcello Mastroianni (seria o último filme do actor); ou “Porto da Minha Infância” e “Visita ou Memórias e Confissões”, o filme que o realizador rodou em 1982, tinha então 73 anos, numa altura de difícil mudança da sua vida, quando teve que vender a casa familiar, mas quis que só fosse visto depois da sua morte. E que espera ainda estreia comercial, depois de ter sido mostrado em sessões especiais em Lisboa e no Porto, bem como no Festival de Cannes.
(“Porto da Minha Infância”)
Esta retrospectiva integral e cronológica dos filmes de Manoel de Oliveira que decorre no Porto é a oportunidade ideal – e recordando mais uma vez o que escreveu João César Monteiro, citado no início deste artigo – para os irmos rever ou descobrir, armados de espírito crítico e sem complexos “culturalistas” nem medo de furar unanimismos pedantes e hipócritas. Mas também para pormos de parte alguns preconceitos, lugares-comuns e certas ideias feitas injustas e enganosas que se foram instalando e generalizando sobre eles e sobre o seu autor, que quando morreu, aos 106 anos, continuava a filmar, e era o mais velho cineasta ainda activo. Um cineasta que, como escrevi aqui quando do seu desaparecimento, no passado dia 2 de Abril, começou a fazer filmes no tempo do mudo, noutro século e noutro milénio. E só parou quando a morte o veio tirar do meio de nós.