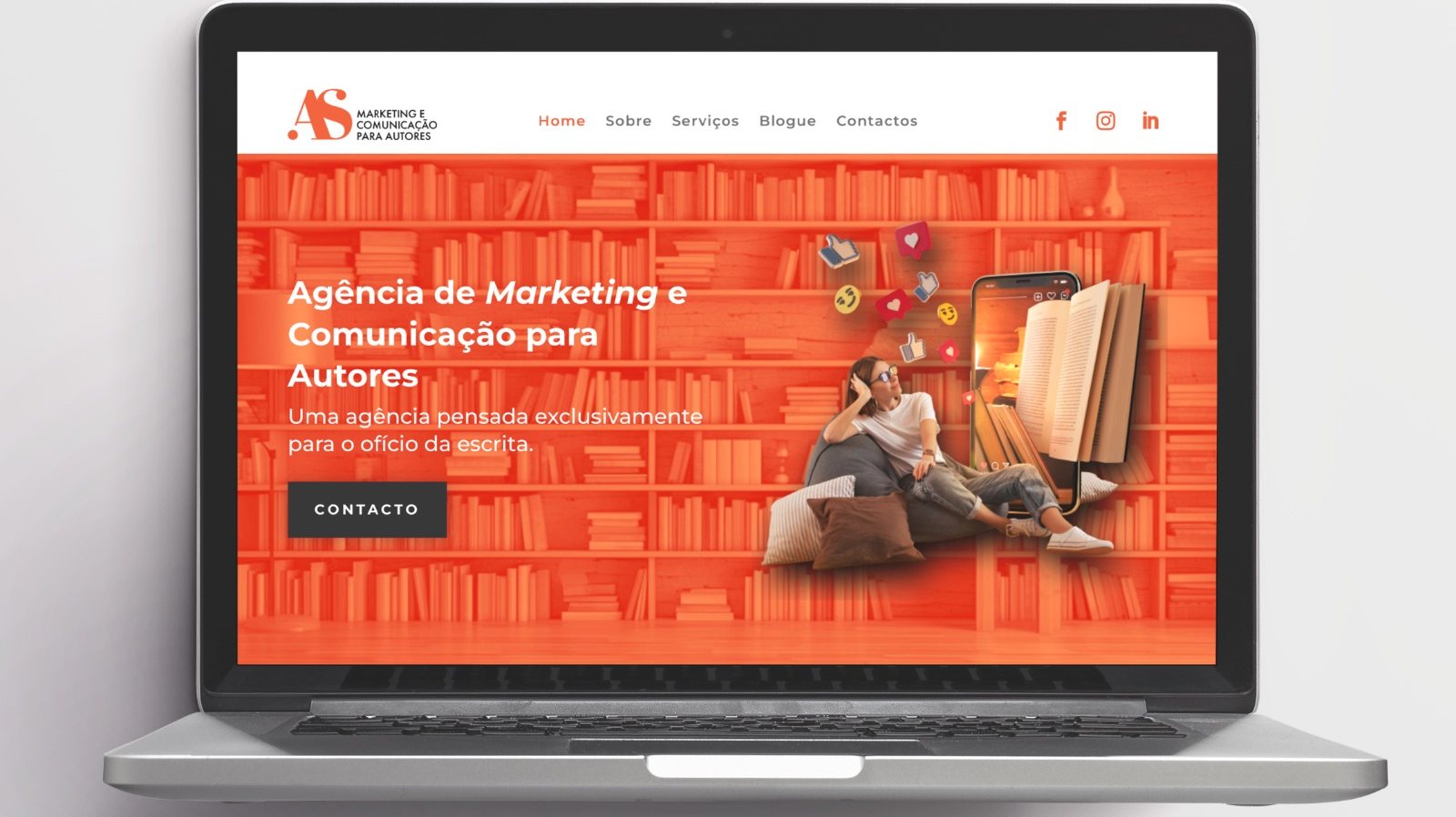Foi há cinco anos que Angélica Varandas, Nuno Simões Rodrigues e José Varandas decidiram organizar o primeiro seminário sobre J.R.R. Tolkien, “construtor de mundos”. A ideia surgiu durante uma “conversa de corredor” entre os três professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa que, apesar de pertencerem a departamentos diferentes, partilham o mesmo amor pelo autor de O Senhor dos Anéis. Desde então — e apesar de, todos os anos, José Varandas insistir que “este é o último” —, o evento cresceu: passou do Anfiteatro IV, mais pequeno, para o Anfiteatro I, o maior da faculdade, e este ano recebeu até investigadores de fora de Portugal.
“É incrível que vamos dar um quinto seminário”, confessou Angélica Varandas, professora do Departamento de Estudos Anglísticos, durante a abertura do evento, que decorreu na passada quarta-feira. “Começámos isto em 2013. A culpa é do meu amigo Nuno Simões Rodrigues”, do Departamento de Estudos Clássicos, “que, um dia, no corredor, me disse ‘porque é que não organizamos algo sobre Tolkien?’. Todos os anos achamos que é o último, mas nunca desistimos graças aos nossos queridos amigos — os suspeitos do costume”. Os “suspeitos do costume” são investigadoras como Adelaide Meira Serras ou Maria do Rosário Monteiro, que têm participado desde o primeiro seminário. “Pensámos sempre nestes encontros como informais, sem aquele enquadramento muito pesado. Queríamos que fossem debates, conversas onde as pessoas se sentissem à vontade, que interviessem. Este ano temos a particularidade de ter três línguas — o português, o inglês e o espanhol.”
A edição deste ano do seminário Tolkien: Construtor de mundos… contou com a participação dos investigadores Martin Simonson, Raúl Montero, Andoni Cossío Garrido e Jon Alkorta, da Universidade do País Basco, que têm trabalhado as obras do escritor e filólogo inglês. “Talvez seja o ano de acabar com isto porque chegaram os profissionais”, disse José Varandas, medievalista e professor do Departamento de História. “Parece que agora é a sério. Terminamos este ano.” “A conversa é a mesma todos os anos!”, atirou Angélica Varandas, sentada em cima do palco do Anfiteatro I. “E depois, no fim, o Professor Varandas diz: ‘Até para o ano’.” Na outra ponta, em pé, José Varandas fez questão de explicar, em tom de brincadeira, que “embora não sejamos casados”, a professora faz “sempre este número de ponto”.
Teresa Cid, diretora do Centro de Estudos Anglísticos da Universidade de Lisboa, que esteve presente na sessão de abertura do seminário, explicou que associação de “construtor de mundos” a J.R.R. Tolkien “é muitíssimo importante”. “Ao estudarmos quem propôs mundos fantásticos, estamos também a refectir sobre o nosso mundo, que às vezes parece stranger than fiction. Há muitas coisas que estão a acontecer e, realmente, é difícil para um escritor de ficção competir com a realidade”, afirmou a diretora do centro. “Falar de um escritor que investiu imenso na fantasia é muito importante para lidarmos com o nosso quotidiano e percebermos os meandros dos factos e não apenas da imaginação.”
Hermenegildo Fernandes, diretor do Centro de História, que também faz parte da organização, referiu que, apesar da obra de Tolkien não ter tanto a ver com o estudo da História, permite “saber que perspetivas que recuperamos da Idade Média” podem ser usadas para encarar o presente. “Ele era um especialista profundo de literatura e línguas do Mar do Norte e foi graças a esse conhecimento que conseguiu construir este mundo como forma de alegoria do presente que estava a viver”, disse, acrescentando que “a obra de Tolkien permite estabelecer pontos entre o passado e a forma como o utilizamos para interagir com o presente.”
No final da apresentação, José Varandas garantiu que o seminário tem a ver com “os nossos lados intimistas, porque a leitura de Tolkien é sempre uma viagem individual, e não coletiva”. “Somos sempre nós a dar alguma coisa ao que estamos a ler, e tentamos desconstruir essas camadas há cinco anos. E terminava como comecei há cinco anos: não se se viram os filmes, se leram os livros. Um colega, há uns anos, fez a conferência mais notável, onde disse ‘não vi os filmes, não li os livros, mas tenho os cartazes’. Nada disto existia, existe ao existirá. Bem-vindos, porque hoje é o dia da fantasia na nossa faculdade.”
Conjugar as tradições antigas com as novas para criar um mundo novo
Angélica Varandas conheceu Martin Simonson, da Universidade do País Basco, no ano passado, durante o colóquio de literatura fantástica e de ficção científica Mensageiros das Estrelas. Grande especialista na obra de J.R.R. Tolkien e autor de vários livros sobre o escritor inglês, Varandas achou que Simonson tinha de regressar a Portugal para participar no seminário sobre o autor de O Senhor dos Anéis. O especialista foi o primeiro a falar, fazendo um paralelismo entre a obra de Tolkien e de Ursula K. Le Guin, escritora norte-americana que, apesar de ter nascido várias décadas depois do autor inglês, também procurou criar uma realidade literária que conjugasse as antigas tradições com o presente.
Martin Simonson começou por abordar a influência da Primeira Guerra Mundial na obra de Tolkien. “Quando foi para França, Tolkien tinha decido tornar-se medievalista e especializar-se em literatura inglesa antiga.” Uma ambição que viu ser adiada pelo início da guerra, em 1914. “Para Tolkien, a Primeira Guerra Mundial foi uma experiência muito estranha.” As trincheiras e o ambiente sufocante no qual os soldados tinham de viver era “muito estranho”. “Era muito difícil para eles relacionarem-se com aquela experiência” e com o mundo hostil e desolador que os rodeava, tão diferente dos campos e florestas verdejantes de Inglaterra.
Por esta razão, muitos dos ingleses que participaram na Primeira Guerra Mundial — incluindo o poeta e pintor modernista David Jones —, procuraram encontrar “situações semelhantes” às que estavam a viver na literatura medieval, pré-rafaelita (que foram beber influências à Idade Média) e em obras de escritores como Thomas Malory (autor de Le Morte d’Arthur, uma das obras mais famosas sobre a lenda do Rei Artur e dos Cavaleiros da Távola Redonda) ou William Morris, do qual se falou mais à frente no seminário. “Tentaram encontrar um sentido para a experiência que estavam a viver olhando para modelos antigos de guerra, de combate”, salientou Martin Simonson. Tolkien foi um deles.

J.R.R. Tolkien teve de abandonar a carreira académica para ir lutar nas trincheiras Primeira Guerra Mundial. Para trás deixou também a mulher, Edith, com quem tinha acabado de casar (Wikimedia Commons)
“Para Tolkien, aquele era um tempo de contrastes. Ele queria tornar-se num especialista em literatura medieval. Tinha acabado de casar, era católico. Era um homem muito tradicional e não queria dizer adeus ao passado apesar de tudo o que estava a acontecer de novo.” Foi por isso que começou a escrever. A primeira história que criou depois do regresso a Inglaterra foi The Fall of Gondolin, cujo tema central é a guerra. Aí — e em todas as histórias que se seguiram — J.R.R. Tolkien procurou integrar “as tradições antigas no presente, criando um diálogo”. Isto é evidente, por exemplo, na forma como os hobbits — criaturas inspiradas na Inglaterra de meados do século XIX — interagem com outras civilizações mais antigas, como o reino de Gondor. Esta interação, porém, não é feita de forma violenta, mas através de “um diálogo suave”, que não havia na literatura modernista de autores como T.S. Eliot, James Joyce ou Erza Pound.
Foi este modelo criado por Tolkien, “fundador da fantasia moderna”, que muitos autores depois dele tentaram seguir, “criando mundos secundários e um ambiente pseudo-medieval”, como foi o caso de Ursula K. Le Guin, autora do Ciclo Terramar. Nascida em 1929, quase duas gerações depois do autor de O Senhor dos Anéis, em Berkeley, na Califórnia, Le Guin foi desde cedo influenciada pela literatura e história do seu país de origem e, sobretudo, pelo oeste norte-americano, cenário que incorporou na sua obra criando uma paisagem completamente diferente da de Tolkien.
O mundo fantástico do Ciclo Terramar é, contrariamente à Terra-Média, composto por pequenas ilhas onde, no extremo oriental, vivem dragões, criaturas que “representam alguma coisa autêntica, antiga”. Contudo, tal como Tolkien, a escritora norte-americana criou uma narrativa secundária “para que o antigo interagisse com o novo”. “Tolkien cresceu numa atmosfera de mudança. Viu o mundo a mudar e queria que houvesse espaço na literatura para os conceitos antigos”, explicou o investigador. “Le Guin, por outro lado, usou um mundo muito antigo, tradições antigas, mas arranjou espaço para o mundo moderno, através das histórias de minorias.” Quando o protagonista — um rapaz de pele negra — se encontra com culturas diferentes, fá-lo com “abertura de espírito”, numa crítica à sociedade de então. Para Simonson, isto mostra claramente que “quando mentes criativas incorporam as suas experiências pessoais”, a “sopa” — como chamou Tolkien à fantasia — é “diferente”.
J.R.R. Tolkien e George R.R. Martin: duas “sopas” diferentes
Num seminário dedicado a Tolkien, não podia faltar uma referência a George R.R. Martin. Diana Marques, investigadora do Centro de Estudos Anglísticos que se tem dedicado ao estudo da obra do autor de A Guerra dos Tronos, fez uma comparação entre os dois escritores, salientando algumas das grandes diferenças. “Não venho dizer quem é que é melhor, quem é que é pior, quem é que é mais interessante ou quem é que tem as personagens mais complexas”, começou por dizer a especialista. “Acho que não ganhamos nada com esse tipo de análise. Acho que é mais interessante discutirmos o que é diferente. A fama de Martin tem feito com que ele seja apelidado de Tolkien americano. Acho que o Tolkien é Tolkien, e Martin não tem de ser comparado com ele.”
E foi exatamente sobre o escritor inglês que Diana Marques começou por falar, o “primeiro autor a discorrer sobre fantasia e mundos fantásticos”. “Ele criou o conceito de mundo secundário, que tem regras próprias e que não tem nada a ver com o mundo primário, que é o mundo do leitor. Ao criar um mundo secundário, o autor torna-se no sub-criador. E ele não lhe chama ‘criador’ porque, para Tolkien, o grande criador é Deus”, explicou a investigadora. Para Tolkien, a literatura fantástica era como uma “sopa”. “Por ‘sopa’ quero dizer a história tal como é servida pelo autor ou contador de histórias e por ‘ossos’ as suas fontes ou material”, escreveu num ensaio chamado On Fairy-Stories. Isto significa que, “no fundo, qualquer história é uma sopa porque qualquer autor tem as suas experiências pessoas, enquanto leitor também, e vai retirar de todas elas o material para escrever”.
“Por ‘sopa’ quero dizer a historia tal como e servida pelo autor ou contador de historias e por ‘ossos’ as suas fontes ou material.”
Os “ossos” eram, no caso de Tolkien, as fontes, maioritariamente nórdicas, a que foi buscar inspiração e que, como referiu Diana Marques, “estão veladas” nas suas obras, “mas presentes”. “O que ele queria era criar uma mitologia para Inglaterra, porque ele sentia que não existia uma mitologia para o seu país”, referiu a investigadora. E ele próprio admitiu isso: “Desde cedo que me senti entristecido pela pobreza do meu amado pais: não tinha historias próprias (ligadas à sua língua e solo), não da qualidade que eu procurava e encontrei (como ingrediente) em lendas de outras terras. Há histórias gregas, celtas, romanas, germânicas, escandinavas e finlandesas (o que me influenciou em grande medida), mas nada inglês”. Foi isso que o levou a criar a Terra-Média, o mundo de O Senhor dos Anéis.
Esta ideia é completamente contrária à de George R.R. Martin que, apesar de admitir ser fã de Tolkien, “diz muitas vezes que há coisas com as quais ele não concorda”. “Há direções narrativas que ele acredita que não deviam ser assim. Quando Gandalf luta com Balrog, ele acha que Gandalf devia ter morrido. Que é o que acontece com Ned Stark!” Por outras palavras, o escritor norte-americano acha que, por vezes, falta realismo aos textos de J.R.R. Tolkien, algo que ele sempre tentou colmatar nas suas próprias obras.
“Ambos escrevem fantasia épica. Tolkien cria o molde da fantasia épica e das influências medievais que, posteriormente, vai ser repetida pelos autores que vieram a seguir. É sempre o mesmo tipo de herói, os dragões, a demanda, há sempre um senhor das trevas… Martin fartou-se um bocadinho disso e quis romper com essas fórmulas, que se tornaram quase clichés da fantasia. Martin cria a sua própria fantasia, como ele acha que deve ser.” É por isso natural que as suas influências sejam outras — “menos mitológicas e mais históricas”. “Ele diz que pretende juntar o que há de melhor na fantasia épica com o que há de melhor na ficção histórica. Ele é muito influenciado por autores de ficção histórica.”
E isso nota-se: o que importa nas histórias de George R.R. Martin não é a paisagem, são as pessoas. Apesar de haver indícios de uma possível batalha pela salvação da humanidade (contra os white walkers), as guerras da saga de Martin são, por enquanto, outras — são de natureza política. “A guerra sobre a qual Tolkien escreveu era uma guerra pelo futuro da civilização e da humanidade, e esse tornou-se o modelo. No entanto, não sei se é um bom modelo”, admitiu o próprio escritor norte-americano, em entrevista à Rolling Stone, em 2014. “O modelo de Tolkien levou gerações de autores de fantasia a produzir um sem fim de senhores da escuridão e de seus servos maléficos, que são todos feios e usam roupas negras. Mas a maioria das guerras da história não são assim.”
“O modelo de Tolkien levou gerações de autores de fantasia a produzir um sem fim de senhores da escuridão e de servos maléficos, que são todos feios e usam roupas negras. Mas a maioria das guerras da história não são assim.”
As guerras são lutadas por homens, e os homens “têm falhas”. “Não há pessoas completamente boas e más. Tolkien também associa muitas vezes a bondade à beleza — todos os elfos são belos e imortais. O mundo de Martin é muito mais cinzento.” Bem, talvez “à exceção de Joffrey e de Ramsay Bolton…”. Apesar disso, a investigadora considera ser inevitável fugir à grande luta do bem contra o mal, do gelo contra o fogo. “Tem de haver sempre mais qualquer coisa do que aquilo que vemos todos os dias. No caso de Martin, é a luta contra os dragões da Daenerys — a realidade que conhecemos —, e aquelas criaturas que não sabemos bem o que são e qual é o seu propósito, que vêm destruir a civilização”, disse Diana Marques. “Acho que ele não conseguia fugir a essa questão.”
Abaixo o progresso!
Adelaide Meira Serras, professora na Faculdade de Letras de Lisboa, falou dos Inklings, o grupo literário criado por J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis, antes da Primeira Guerra Mundial, em Oxford, que tinha por objetivo discutir a construção de uma literatura fantástica com “uma dimensão além o imediato, além de uma materialidade que é incompleta, deficiente a todos os níveis”. “Além disso, ao darem esta autenticidade, esta dimensão maior quase platónica de atingir algo que vai além do momentâneo, estavam a resgatar a fantasia da literatura infantil”, explicou a professora. “Era uma literatura séria, de homens sérios.” O grupo, composto por especialistas na época clássica e medieval, acreditava que era importante reforçar os programas dos cursos “com questões que dissessem respeito à medievalidade, do ponto de vista linguístico e literário”. Mas também tinham “outra grande objetivo de natureza espiritual” — “queriam acabar com a consequência nefasta que já vinham de Nietzche, que afirmou que ‘Deus está morto’”. “Era isso que estes homens pretendiam repudiar”, explicou a professora.
Depois da comunicação de Adelaide Meira Serras, Hélio Pires falou sobre as influência dos textos nórdicos nas obras de Tolkien, sobretudo na criação de Valinor, a terra dos Valar e Andoni Cassío Garrido abordou o papel das florestas em Tolkien. Jon Alkorta, por sua vez, procurou descrever as semelhanças existentes entre o autor de O Hobbit e o artista e escritor inglês William Morris, tema que explorou na sua tese de mestrado, apresentada no passado mês de setembro na Universidade do País Basco. “Quando li os dois, ficou claro para mim que havia tópicos semelhantes”, começou por explicar Alkorta. “Havia uma carta de Tolkien em que este admitia que havia passagens de Tolkien que o tinham influenciado. Tentei ver se estas influências podiam ser maiores.”
Nascido em 1834, William Morris era um “homem victoriano” fascinado pelas antigas formas de produção que, na altura (em plena revolução industrial), eram consideradas obsoletas. Influenciado por figuras como John Ruskin, o poeta Alfred Lord Tennyson (autor do ciclo poético Idylls of the King, em parte responsável pelo revivalismo das lendas arturianas no século XIX) e os pré-rafaelitas, Morris acreditava que “tudo o que criamos deve existir de acordo com as leis da natureza”, “deve ser bonito, mas também útil”, em oposição à industrialização e à mecanização. Explorou estas ideias no romance The House of the Wolfings, de 1888, onde reconstruiu o modo de vida dos godos e abordou o “choque civilizacional” entre estes e os romanos invasores.

William Morris, associado com o movimento inglês Arts & Crafts, defendia que a arte devia aproximar-se da natureza. Tal como Tolkien, era contra a industrialização (Wikimedia Commons)
“Os romanos representam o mal e o progresso, a industrialização e o colonialismo, que conduz à destruição”, explicou o investigador. “Os godos, por outro lado, são representados como sendo bons porque vivem em comunhão com a natureza. Não representam a industrialização porque são artesãos. Fazem tudo com as mãos.” No meio deste confronto, estão os anões, criaturas fantásticas que, “apesar de serem representados como maus, são artesãos”. “É a maneira de Morris dizer que não são completamente maus, mas que também não são completamente bons.” Este choque entre a industrialização e a natureza também foi explorado por Tolkien nas suas obras, mas de maneira diferente. “Ele não estava interessado em falar no sociedade eduardina, mas nas suas próprias experiências.” Foram elas que moldaram os seus textos.
J.R.R. Tolkien, que cresceu rodeado pela natureza nos arredores de Birmingham, teve o primeiro contacto com a sociedade moderna e industrializada quando se mudou para a grande cidade com a família. Esse foi o primeiro choque, que o levou a começar a “a desenvolver estas ideias de que o progresso e o antigo modo de vida são opostos”. O segundo aconteceu quando foi para a guerra e “foi privado da sua experiência artística”. “O grupo literário de que ele fazia parte acabou e a carreira académica também foi suspensa. Além disso, deixou a mulher com quem tinha acabado de casar em Inglaterra enquanto marchava para França. Foi acumulando todas estas experiências ao ponto em que começou a opôr-se completamente a tudo o que estava a favor do progresso.”
“Foi acumulando todas estas experiências ao ponto em que começou a opôr-se completamente a tudo o que estava a favor do progresso.”
É por esta razão que, de acordo com o investigador, no Senhor dos Anéis e em outras das suas obras, as personagens más estão de alguma forma ligada à indústria, à “máquina”. “As personagens malvadas mais conhecidas — Melkor, Sauron ou Saruman — eram todas boas, mas procuraram alcançar o poder através da tecnologia. Foi por isso que se tornaram más e caíram. O uso da tecnologia para dominar leva à destruição da natureza e à maldade.” Por outro lado, as personagens boas de O Senhor dos Anéis — como os elfos ou os anões — estão ligadas à natureza. “Mas também há personagens ambivalentes, como em Morris. Apesar de serem elfos, Fëanor e Eöl são apresentados como maus”, esclareceu Jon Alkorta, acrescentando que “há razões para acreditar que as semelhanças” entre os dois autores “são muito maiores do que Tolkien admitiu naquela carta de que falei”. “Estas semelhanças não existem apenas na literatura, existem também filosoficamente.”
Mas, apesar de serem ambos “anti-progresso”, o “desenvolvimento desta posição aconteceu de maneira diferente”. “Em Morris, está mais relacionado com influências intelectuais, enquanto em Tolkien tem a ver com a sua experiência pessoal e a forma como respondeu aos eventos com os quais se deparou”, explicou o investigador da Universidade do País Basco. “Outra coisa interessante é que ambos perceberam que o progresso estava a destruir a arte. No caso de Tolkien, foi a guerra que destruiu a sua experiência artística”, concluiu.
O filho disse que o pai nunca leu Jung, mas é mentira
Foi há 30 anos que Maria do Rosário Monteiro, professora da Universidade Nova de Lisboa, ouviu falar pela primeira vez de Tolkien. “Estava num seminário de mestrado sobre simbologia alquímica e o professor fez um discurso em que referiu que, em Riverdele, a sala do trono tem uma lareira com quatro pilares, que havia uma simbologia alquímica. Nunca tinha ouvido falar em Tolkien”, contou a professora. O “bichinho” ficou na cabeça e Maria do Rosário Monteiro decidiu ir comprar os livros, que foram lidos, muitos anos depois, pelos filhos e que “já estão todos desfeitos”. Foi então que percebeu que seria interessante fazer uma tese que juntasse a psicologia jungiana e Tolkien. “Depois de ler aquilo, achei que aquilo fazia sentido. Depois de ler Tolkien, achei que era inconcebível que ele não tivesse lido Jung. Ainda por cima, ele era especialista em línguas e o alemão era uma das suas línguas de uso.”
Maria do Rosário Monteiro meteu na cabeça que “havia indícios de intertextualidade, mesmo que isso não fosse assumido”. E não tinha sido a única a pensar nisso: pouco depois, descobriu The Individuated Hobbit: Jung, Tolkien and the Archetypes of Middle-Earth, livro escrito em 1979 por uma personagem que nada tinha a ver com o mundo académico. Timothy O’Neill era um militar, que tinha ficado famoso nos Estados Unidos da América “não por ter escrito sobre Jung, Tolkien e hobbits, mas por ter desenhado os camuflados do exército norte-americano para as guerras no deserto porque chegou à conclusão que os camuflados verdes eram demasiado evidentes na areia”. “Pronto, estão a ver como a vida muda”, brincou a professora.
Convencido de que havia Jung em Tolkien, O’Neill decidiu tirar as dúvidas e perguntar a Christopher Tolkien se o pai tinha lido algum dos trabalhos escritos pelo psiquiatra suíço. Só que, ao contrário do que seria de esperar, o filho de Tolkien disse-lhe que não se lembrava de ver na biblioteca do pai algum livro de Jung. “Só que não precisamos de confirmar que ele leu Jung para sabermos que ele o leu porque as coisas estão lá. Basta procurar. Foi o que Timothy fez.”
Maria do Rosário Monteiro também. Durante a pesquisa que fez para a tese de mestrado, descobriu várias coisas em comum entre os dois autores — tantas que dariam para horas de conversa. Uma delas tem a ver com a função do conto. “Os contos têm, para Tolkien e Jung, uma função de compensação — de compensar a visão dominante —, que é claramente uma visão revolucionária. É dizer que existem mais coisas no mundo do que aquilo que vemos. Tolkien escreveu depois da enorme catástrofe que é a Primeira Guerra Mundial, que foi uma absoluta selvajaria. Para os dois, esta era a função dos contos”, referiu. “‘Coincidências!’, diria o Christopher Tolkien.”
Outra questão está relacionada com a “quaternidade”, um conceito fundamental para Jung. Para ele, tratava-se de um “arquétipo de ocorrência quase universal”, com “uma estrutura 3+1, em que um dos termos que a compõem ocupa uma posição excepcional”. “Mesmo quando Jung falava dos tipos psicológicos, falava em quatro. Isto está muito marcado no Senhor dos Anéis e também no Silmarillian: temos quatro hobbits, do qual Frodo é o elemento mais importante, que estão unidos por um anel. Temos um quadrado centrado — o quadrado tem a ver com a totalidade física do espaço e o círculo com a totalidade divina. O anel foi feito por um ser divino.”
E como se isto não bastasse, mais recentemente surgiram novos factos que provam definitivamente que Tolkien conhecia — e bem — a obra de Jung que, no período que vai dos primeiros escritos do autor inglês até ao início da construção de O Senhor dos Anéis, publicou seis livros. “Isto é uma folha de Tolkien sobre o texto On Fairy-Stories, com anotações de coisas sobre as quais devia falar”, disse a especialista, enquanto apontava para a imagem de uma folha manuscrita, projetada ao fundo do Anfiteatro I da Faculdade de Letras. “Ali está sublinhado ‘Jung’ — vejam lá que ele nunca o leu! —, e ali em baixo está Psychology of the Unconscious.” As notas foram escritas por Tolkien nas costas de “um memorando do Pembroke College”, em Oxford, marcando uma reunião com colegas, em 1938.
Apesar de nunca ter sido encontrado o texto definitivo de On Fairy-Stories — “ele tinha baús e baús de papéis e este deve estar lá no meio” —, que o escritor apresentou no ano seguinte na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e de apenas existirem “versões” do que ele leu (nomeadamente a que ofereceu a Charles Williams, um dos Inklings, que apresenta uma “reformulação profunda da comunicação” e que é considerada a “oficial”, tendo sido publicada numa colectânea organizada pelo filho Christopher), o memorando deixa claro que Tolkien não só conhecia a obra de Jung, como se inspirou nela, ao contrário do que sempre defendeu Christopher Tolkien.
O escritor que gostava de ler dicionários de gótico em voz alta
Antes de José Varandas encerrar o seminário com uma comunicação sobre as “Estruturas feudais em O Senhor dos Anéis”, Luísa Azuaga e Angélica Varandas falaram sobre o “vício secreto” de Tolkien. “Começo logo por desvendar o mistério”, disse Azuaga. “O Vício Secreto [A Secret Vice, no original] é o título de um texto que Tolkien escreveu” para uma palestra que deu na Samuel Johnson Society, em finais de 1931. A comunicação foi publicada pela primeira vez em 1983, postumamente, por Christopher Tolkien e reeditado no ano passado por Dimitra Fimi e Andrew Higgins com “algumas novidades”, como as notas do autor e “todos os rascunhos relacionados com este Secret Vice e que não estavam publicados”. Neste texto, J.R.R. Tolkien fala sobre um dos seus passatempos favoritos: a construção de novas línguas.
“Quando falei de Tolkien enquanto construtor de línguas”, num seminário anterior, “vimos como ele gostava de inventar línguas”, afirmou Luísa Azuaga. “Ele dizia que era extraordinário ler um livro numa língua que não conhecemos, ler um dicionário de gótico em voz alta. Este era o secret vice de Tolkien — criar línguas, não como um código, não como algo prático servindo de meio de comunicação, mas como uma forma de arte, como um jogo.” E confessou-o na comuncação da Samuel Johnson Society — “confessou que a ideia de usar a faculdade linguística como entretenimento, como distração, lhe parecia extremamente interessante” e deu alguns exemplos de criações linguísticas, como o “animalic”, “construído basicamente a partir de nomes de animais ingleses, pássaros e peixes” e o “nevbosh” ou “the new nonsense”, que “mistura palavras em inglês, francês e latim, como no fragmento”:
“dar fys ma vel gom co palt ‘hoc
there was an old man who said ‘how
pys go iskili far maino woc?
can I possibly carry my cow?
pro si go fys do roc de
for it I was to ask it
do cat ym maino bocte
to get in my pocket
de volt fac soc ma taimful gyróc!’
it would make such a fearful row!?”
O “animalic” e o “nevbosh” foram duas das primeiras incursões de Tolkien na criação linguística. Como explicou Luísa Azuaga, foi “numa fase tardia do ‘nevbosh’ que começaram a aparecer palavras desligadas de qualquer língua, criadas porque pareciam apropriadas para determinado significado”, características que é possível encontrar no élfico, a que Tolkien também se refere em A Secret Vice. “Na construção de línguas, interessava fundamentalmente a Tolkien a forma da palavra e a sua relação com o sentido.” Ou seja, “a união entre o som e o sentido” e a “ligação entre ambos”. Era disso que “advinha o prazer da criação de línguas”, que ele tanto frisa no texto que preparou para a comunicação na Samuel Johnson Society.
“Ele conhecia quase duas dezenas de línguas. E isto não significa conhecer uma palavra aqui e ali — ele era capaz de se expressar nessas línguas”, que incluem o finlandês, o grego, o holandês, o russo, o sérvio, mas também o inglês antigo e o gótico. “Ele não recorreu a estas línguas para criar as dos povos da Terra-Média porque ele sabia que, para as tornar credíveis, tinha de as criar de raiz”, explicou Angélica Varandas. “Se ele criou um universo novo, com raças novas, então também tinha de criar línguas que se adequassem a essas raças. E não podiam ser línguas humanas, que nós conhecemos.” Além disso, Tolkien não se limitou a criar novos idiomas — “ele criou uma história” das próprias línguas, com ligações entre si — porque ele acreditava que a criação de línguas implica a criação de uma mitologia.
“O que ele fez foi estabelecer relações gramaticais e lógicas entre as línguas para que as palavras possam ser pronunciadas, mas também o enquadramento histórico que as sustenta. Era por isso que ele achava que o Esperanto não vingou como língua franca, porque era preciso associar mitos às palavras.” E, nesse sentido, O Senhor dos Anéis não é apenas uma obra fundadora da literatura fantástica, “é um ensaio sobre a estética das línguas”, afirmou Angélica Varandas. “Tolkien queria criar uma mitologia para Inglaterra e a palavra era importante porque é pela palavra que tudo nasce. Deus criou o mundo — o mundo primário em que vivemos — pela palavra e o poeta, num gesto de imitação, também cria um mundo real igual ao primário, que é o mundo da fantasia. Tolkien revelou que as palavras são bastante mais importantes do que aquilo que nós pensamos”, contrariamente ao que pensavam alguns pensadores do seu tempo, como Max Müller, que defendia que a mitologia era “uma doença da linguagem”.
“Afastando-se de Müller, Tolkien disse que o seu vício secreto era uma forma de arte”, explicou ainda a especialista em literatura anglo-saxónica. “Disse que a criação de línguas é como a pintura, comparando a criação linguística a uma composição, a uma sinfonia. A música. Tolkien começou por aqui — pela construção, pela palavra. A verdade é que, a dada altura, não conseguimos separar mitologia da linguagem. Vamos encontrar esse elo em toda a obra de Tolkien. Formam um anel — não há princípio nem fim entre a criação linguística e a criação mitológica. Não é possível separá-las”, acrescentou a professora da Faculdade de Letras. “Podemos encarar a obra de Tolkien como tendo dois alicerces — a palavra e o mito.”
É por essa razão que quando perguntam a Angélica Varandas porque é que Tolkien “continua a ser tão importante, uma referência”, a professora não hesita em responder que isso se deve ao facto de o escritor inglês continuar “a ser único”. “Podemos ter muitos livros de fantasia, autores de fantasia, mas não houve nenhum até hoje que tenha pegado em palavras, que tenha pensado no som das palavras, que tenha criado línguas, história para as línguas, regras fonéticas, gramaticais, ligações entre os povos… É um mundo que se abre perante nós e que nenhum outro autor de fantasia conseguiu criar. Tolkien é único, é ímpar, é inigualável e é intemporal. E é por isso que gostávamos de acabar dizendo: ‘Elen síla lúmenn’ omentielvo. Namáriaë’.”
Uma estrela brilha na hora do nosso encontro. Até breve.