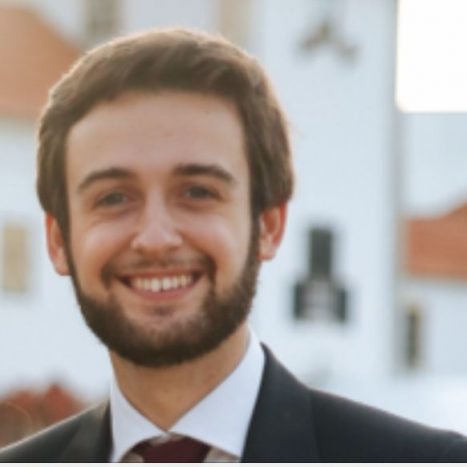Poucos escritores portugueses despertam tantos ódios como José Saramago. É certo que muitos não são literários – entre as polémicas religiosas de Caim ou do Evangelho Segundo Jesus Cristo, e a acção política nos Diários de Lisboa e Notícias, há um largo espectro de possíveis ressentimentos; no entanto, também é vulgar assistir ao franzir de sobrolhos diante da leitura de Saramago: ora por embirrações com a pontuação, ora pela cadência dos diálogos, o certo é que Saramago nunca foi tão consensual quanto outros escritores do seu tempo.
Seria interessante, então, purgada a sanha para-literária, perceber se há de facto, no Nobel português, fragilidades que justifiquem o menoscabo a que tantas vezes é sujeito. E, caso se verificassem essas fragilidades, notar que há virtudes a confirmar a opinião que dele fez a Academia Sueca.
Seria fácil, de facto, Saramago representar um tal papel nas confrarias de elogio mútuo que se tornasse melhor escritor na boca do meio literário do que no papel. Afinal, o seu trabalho como editor nos Estúdios Cor é assinalável – as últimas grandes edições de Nicolau Tolentino ou do Piolho Viajante são dele, por exemplo, para não falar das traduções de Colette –, foi militante comunista no tempo em que o cartão era quase um atestado de talento literário, e sempre dedicou bastante tempo à correspondência literária, às feiras e encontros de escritores.
No entanto, se isto poderia trazer uma gloríola de bairro entre os pares portugueses, não justificaria a admiração sueca. Isto porque há, de facto, qualquer coisa em Saramago que é maior do que grande parte dos seus contemporâneos. Saramago tem, de facto, um estilo muito vincado e com bastante interesse. A pontuação não funciona como um mero entretém para papalvos, a ausência de travessões e parágrafos dá uma cadência útil ao diálogo, emerge-o na página de tal forma que as frases de circunstância ou de caracterização de personagem – tantas num diálogo! – não têm aquela importância empolada que a quebra de linha traz; Saramago não tem um vocabulário riquíssimo, mas sabe usar aquele que tem com toda a mestria; o jargão popular brilha como um tesouro raro, não como um achado etnográfico que o escritor pespegou na página; sem a mínima simpatia pela Igreja ou pelos evos da Monarquia, Saramago resgata-lhes ainda assim grande parte do vocabulário e das expressões, que dão uma certa gravidade ao discurso, mas uma gravidade matreira, em que se pressente a ironia de quem usa um vocabulário próprio de um mundo em que não acredita.
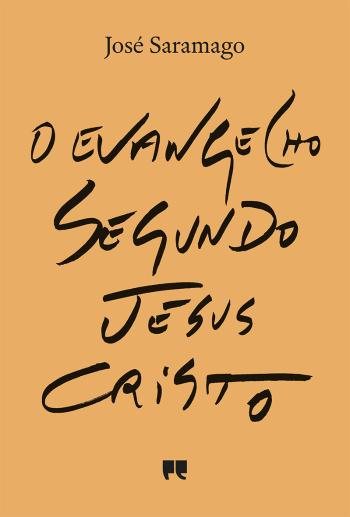
“O Evangelho Segundo Jesus Cristo”
Tudo isto faz de Saramago um escritor com interesse; no entanto, nada disto chega para o alcandorar até à glória. O estilo, de facto, é das menos universais virtudes de um escritor. As subtilezas linguísticas são um privilégio privado da glotologia de cada um. Saramago não é um Aquilino, cujo alcance só pode ir do Minho ao Algarve. O raio de Saramago é mais largo do que o dos seus conterrâneos, não pelo estilo – que, para nós, é a sua marca mais notória – mas pela ideia.
Em Saramago há dois tipos fundamentais de romance, e ambos demonstram certa mestria. De um lado, os romances que revisitam um acontecimento histórico – real ou irreal, pouco importa, o que interessa é a reescrita de um episódio já narrado – de outro, aqueles que ficcionam dilemas filosóficos. Do primeiro lado teríamos o Memorial do Convento, o Evangelho Segundo Jesus Cristo ou Caim, do segundo teríamos as Intermitências da Morte, a Caverna, ou o Ensaio sobre a Cegueira. Quem, nestes últimos, não se lembra da Carta sobre os Cegos para uso daqueles que vêem, de Diderot, das controvérsias Augustinianas sobre a Mortalidade, ou mesmo da Caverna de Platão, referida em epígrafe na de Saramago?
Há, de facto, matéria literária na ideia de uma morte que decide suspender o seu trabalho, ou numa diátese universal que cega toda a gente; Saramago, além da inventividade, consegue perceber o cerne dos problemas. Não sendo, nem perto disso, um filósofo, a verdade é que consegue que os problemas tenham uma clareza impressionante; a mortalidade, à luz das Intermitências, torna-se não só um problema teórico, mas um desejo vital: conseguimos, de facto, perceber porque é que a morte pode ser desejável, embora vivamos com o desejo contrário; há uma estranha contradição – como, aliás, na Caverna com o problema do conhecimento – que Saramago consegue captar como poucos. Sem fazer romances filosóficos, que normalmente estragam tanto a filosofia como o romance, Saramago dá aos problemas um alcance íntimo – percebemos a Natureza dos problemas – e aos romances um certo alcance filosófico – não são nugas de literato, estão de facto a tratar de alguma coisa importante.
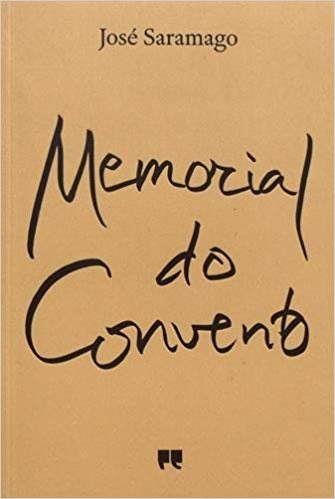
“Memorial do Convento”
E se isto é a sua grande virtude nos romances de teor filosófico, também é certo que Saramago tem outras nas suas reficções históricas. Em primeiro lugar, os seus não são romances contemporâneos que o autor mascarou com cabeleiras de juiz. As ficções históricas têm a inevitabilidade que pressentimos em toda a boa literatura. Não há nada de opcional no Evangelho; isto é, não se trata de um amor entre dois jovens que tanto se podia dar nos bosques do Éden como nos salões oitocentistas; os romances de Saramago são aqueles porque têm de ser aqueles, porque é de facto a construção de Mafra que está a ser ficcionada, ou a vida de Cristo. O cenário não é pano de fundo, não é dispensável, e isso dá-lhe uma certa importância.
O caso do Evangelho é o mais óbvio. Saramago decide reescrever a vida de Cristo a uma luz que, à partida, iria a literatura. Como explica Auerbach, a literatura universal deve muito mais à Bíblia, em que tantas vezes a acção surge abruptamente, do que a Homero, em que a acção pára para dar o quadro completo, quer temporal como espacial.
Ora, o interesse primordial do Evangelho está precisamente no quadro. Não há novidade especial em imaginar as orações de José, iguais às de tantos outros Judeus, ou os desconfortos de Maria. O que torna a narrativa de Saramago literária, porém, é exactamente isto. Não causam especial desconforto as heresias mais declaradas ou as insinuações já conhecidas desde Renan ou Loisy; o que dessacraliza verdadeiramente a imagem é aquilo que é comum: é ao mostrar como é literária e não existencial a nossa imagem de Cristo que Saramago cria melhor literatura.
Claro que, com isto, também vêm alguns defeitos óbvios. Para não sair do Evangelho ou do Memorial do Convento, vemos que a grande congruência entre o cenário e o enredo, que já exalçámos como uma virtude típica de Saramago, gripa noutros pontos. Destes, o mais óbvio está na coerência entre o estilo e os acontecimentos. Em primeiro lugar, há uma certa hipocrisia na sua denúncia da hipocrisia. A corte, no Memorial, é apresentada como o supino lugar da hipocrisia, em que as palavras não correspondem aos actos. No entanto, esta é parte da essência do estilo de Saramago. As orações dos Judeus, meio ridicularizadas pela misoginia ou pela frequência, são dos trechos mais excitantes do ponto de vista literário, e Saramago sabe-o. Saramago tem sido descrito como um admirador do barroco, e nisto herda as suas piores características. O estilo de Saramago é muitas vezes vazio, não porque se entretenha sem dizer nada, mas porque se entretém com formulações em que não acredita.

“Ensaio Sobre a Cegueira”
Há um certo lado de crítica social nesta opção, é certo. Pela formulação do latim eclesiástico ou das orações judaicas, Saramago quer mostrar como elas são vãs. Isto é, da mesma forma que os Homens podem ter o breviário debaixo da língua mas bem longe do coração, Saramago também o pode usar como inspiração sem professar uma conta dos seus vários terços; no entanto, aquilo que faz acaba por ser fraco como crítica. Saramago nunca discute, Saramago limita-se a realçar a hipocrisia dos seus vilões. Ora, a hipocrisia diz muito do vício, mas diz pouco da virtude. Se um libertino desfila mil actos de contrição a pensar nas manigâncias que fará com as suas mulheres, isto de facto diz qualquer coisa dele, mas nada diz sobre a importância ou não do perdão. Criticar a Igreja ou o Trono por aqueles que não cumprem os seus mandamentos é igual a não criticar: o facto de os terem na boca é irrelevante. Ora, todo o alcance social de Saramago se baseia nisto: nada ultrapassa a crítica à hipocrisia, que é a crítica mais fácil. Afinal, basta pôr alguém a não cumprir aquilo que queremos criticar.
E se isto podia ser um pormenor na sua literatura – afinal, não é preciso crítica social para termos grande literatura – deixa de o ser quando toda a mundividência de Saramago se escora nisto. Com mais brilho e mais sofisticação, o mundo de Saramago é um mundo de Vilões que professam a virtude e de humilhados que a praticam sem acreditarem nela. Como dizia Antero de Quental sobre Eça, também Saramago parece que detesta as suas personagens; o único recurso que Saramago usa para as humanizar passa por humilhá-las; os maus são banalíssimos, sempre hipócritas cheios de vícios; mas mesmo os bons, acabam por ser sempre iguais. Basta atentar nas primeiras páginas do Memorial e do Evangelho. Num, enquanto se fala da dificuldade do rei em ter um filho, ironiza-se sobre o papel da mulher – “que caiba a culpa ao rei, nem pensar, primeiro porque a esterilidade não é mal dos homens”, depois porque abundam bastardos reais pelo reino (o que torna a primeira razão desnecessária, não fosse a necessidade de Saramago humanizar a mulher apresentando-a, só pelo discurso, sem que nada mais o justifique, como oprimida; noutro, as orações de Maria são iguais: espera que o filho que carrega seja “varão”, não porque o quer, mas porque o quer o marido, e cabe às mulheres submeterem a sua vontade.
Nada na acção o justifica, mas Saramago, nestes apartes constantes, dá o tom da sua mundividência. E esta, mais do que qualquer outra coisa, é demasiado banal e binária para as grandes virtudes que como escritor também tem.