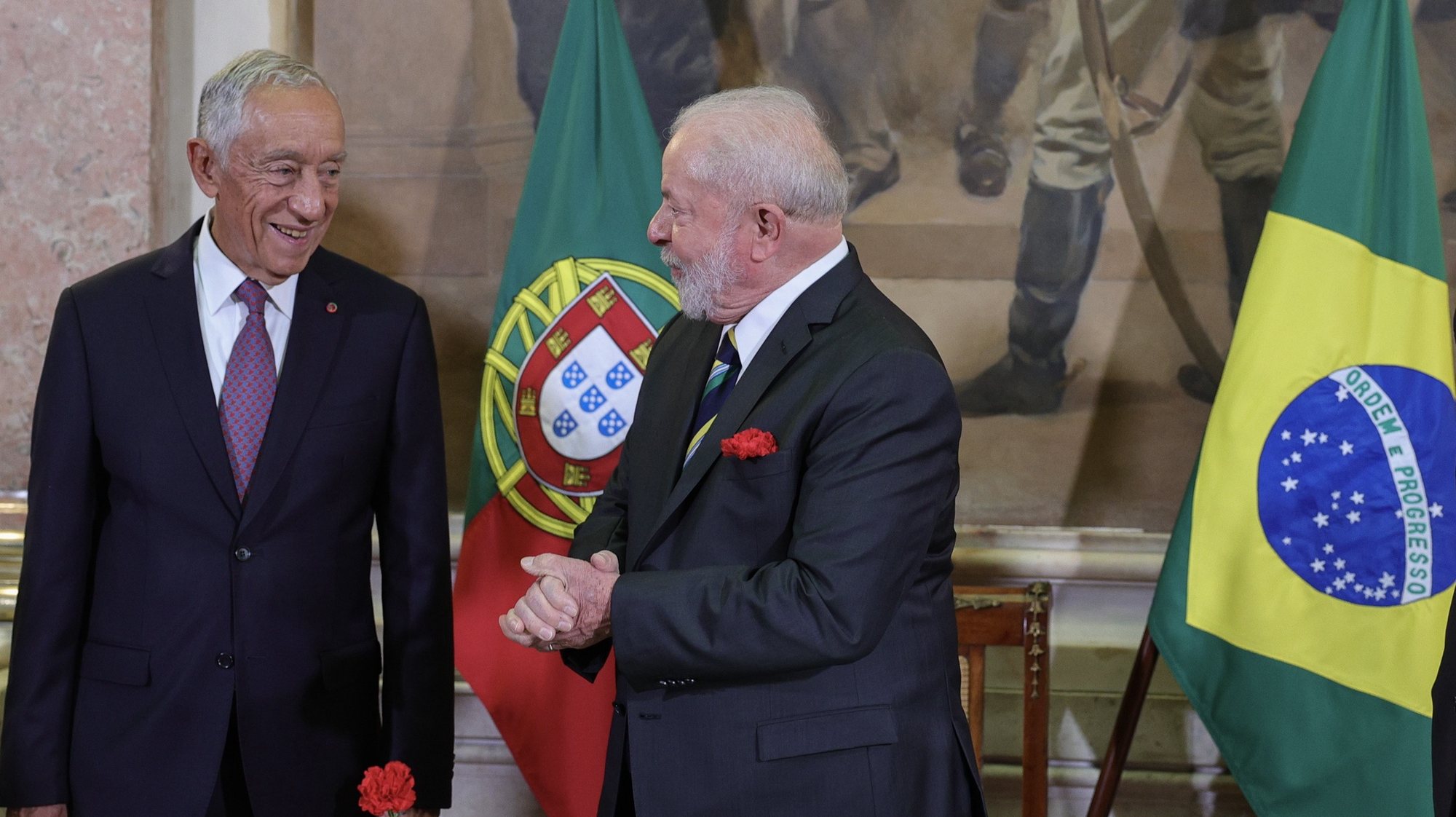Há já muitos dias — demasiados dias — que todos os problemas vão dar à pandemia. “Até que a Vida nos Separe”, a nova série da RTP1, escrita por Tiago R. Santos, João Tordo e Hugo Gonçalves, produzida pela Coyote Vadio em parceria com a Caos Calmo Filmes, quer puxar a cassete para tempos pré-Covid para falar de todas as outras preocupações. Para falar, sobretudo, de amor. A história segue uma família com avós, dois netos e, pelo meio, um casal, Vanessa (Rita Loureiro) e Daniel (Dinarte Branco), que vai tentar salvar o seu negócio de casamentos, mas que deixou de ter tempo para salvar a relação. Cada episódio — ao todo são oito, com estreia marcada para esta quarta-feira, 3 de fevereiro, às 21h — começa com um casamento. O resto, é a vida a acontecer.
Em conversa com o Observador, o realizador Manuel Pureza, de 36 anos, conta, com muito orgulho, que este é o trabalho que guarda com mais carinho. A rodagem durou cinco semanas em Azeitão, entre todas as medidas sanitárias, muito cansaço, horas mal dormidas e um objetivo: “Tornar tudo mais suportável, olhar para esta família, para o seu negócio, enganar o desespero, olhando para boas histórias”. Durante essas semanas, a equipa viveu a ideia de que havia tempo para tudo, até para filmar. E para ir buscar inspiração a séries norte-americanas, como “High Maintenance” ou “Rami”. Tentar diferente, fugir à norma e apostar numa linguagem menos habitual na televisão portuguesa.
[o trailer de “Até que a Vida nos Separe”:]
O realizador, filho do deputado bloquista José Manuel Pureza, mesmo sendo novo, já leva na sua bagagem muitos trabalhos, sobretudo na ficção, entre novelas a séries: “Linhas de Sangue”, “Desliga a Televisão” ou “Teorias da Conspiração”, bem como algumas peças de teatro para públicos adultos e infantis. Sabe que vai sempre haver alguém a dizer mal do que se faz em Portugal, mas isso não o impede de ter esperança no futuro. Especialmente agora que o mercado português está a entrar no internacional, com a série “Glória” (de Tiago Guedes, de quem foi assistente de realização), à espera de se revelar através da Netflix. “Se uns abrirem as portas, se todos atacarmos o internacional, há uma hipótese de haver um oásis criativo europeu”, diz.
Gostava de ter sido ator, mas cedo descobriu que gostava “era de mandar”. Foi graças a uma professora de oficina de expressão dramática que foi parar à realização, ainda que a “senhora Adelaide” quisesse mesmo era que o seu aluno representasse. Nascido em Coimbra, foi batendo de porta em porta mal pôs os pés na capital, até que Luís Galvão Telles o fez seu assistente na Fado Filmes. Depois veio José Fonseca e Costa, publicidade e as novelas, com o empurrão de Sérgio Graciano. E agora? Agora é até que a vida separe Manuel Pureza deste projeto e que surjam outros que o façam sentir da mesma forma.

▲ Manuel Pureza, o realizador dos oito episódios de "Até que a Vida nos Separe"
Mal comparado, esta série faz lembrar o “Sete Palmos de Terra”, mas ao contrário: cada episódio começa com a celebração da vida, o casamento.
Estive a revê-la toda para fazer isto…
Vamos então perceber como é que foi fazer este projeto em condições pandémicas, uma história que explora o amor nos seus detalhes. Trabalhar com três guionistas, num ambiente controlado pela pandemia, foi um desafio maior do que em condições normais?
Foi um trabalho fácil porque os três funcionam muito bem. São diferentes, até na escrita, mas complementam-se muito bem. Já tinha sentido isso na produção do “País Irmão”, onde cheguei a fazer uma pequena participação como ator, por ser muito amigo do Sérgio Graciano. Sendo autores de muito bom gosto, fez toda a diferença. Por exemplo, se um ator é bom espectador, consigo ter uma conversa inteligente com ele. Quando se juntam espectadores com afinidade há facilidade de diálogo. Como realizador, prezo muito isso: criação conjunta e trabalho de equipa. Agora, fazer uma série sobre o amor num tempo tão sombrio, é um antídoto. Às vezes a vida não corre bem, não só por causa da pandemia, mas colocou-nos a todos a questionar as nossas prioridades. Por vezes a ficção leva-nos para essa transformação do real, para uma coisa diametralmente oposta à nossa ou para uma possível leitura da nossa realidade. Foi muito bom realizar esta série, independentemente do tempo em que foi feita. Ninguém morre, ninguém descobre que é filho da empregada.
“Não há vilões”.
Exato. O casal principal, o Daniel [Dinarte Branco] e a Vanessa (Rita Loureiro), têm 50 anos. Ela está a entrar na menopausa. Não tenho bem a certeza se alguma vez este tema foi dramatizado nas nossas narrativas televisivas. Ele está a ver que está a perder o casamento, mas por nada de mais. Não há traição. Apesar de isso ser sugerido, não há sequer um triângulo, porque o Daniel confia na mulher. É um pouco como diz o Gabriel García Marquez: “Quando um homem cobiça a minha mulher, temos algo em comum”. Aqui podemos falar de coisas tão pequenas, do dia-a-dia de uma família que pode ser a nossa. Isso foi o que me provocou mais paixão. Claro que isto é elevado ao quadrado quando pensamos que, lá fora, o mundo está todo a arder. O desafio foi fazer algo easy going, num tempo em que nada é assim. Vivemos atrás da estatística e isso é horrível.
Somos um país de novelas, ainda. Uma série familiar pode levar o público a fazer comparações. Enquanto realizador, isso pesou na forma de filmar?
Foi pedra de toque. Por exemplo, se pensarmos na “Casa de Papel”, que foi vista por milhares de pessoas em todo o mundo, aquilo é uma novela bem filmada. O que quisemos foi partir do pressuposto básico, que deve ser o basilar para qualquer série, de que o público não é estúpido. A malta que vê novelas representa, de grosso modo, dois milhões de pessoas. O país tem onze milhões. Isso quer dizer que nove milhões não estão a ver novelas. Em relação à linguagem da câmara, queríamos não estar reféns da linguagem televisiva que passa por plano geral, fechado, geral, fechado. Aquele ping-pong habitual na planificação de câmara de uma novela, que não é forçosamente mau, porque é visto por muitas pessoas. Esta narrativa mais curta de oito episódios, facilita imensa coisas. É uma história fechada, sabemos como acaba.
E referências internacionais?
Houve duas, para mim e para o Vasco Viana, diretor de fotografia. A câmara tinha de estar ao lado das personagens, pertencer à família. Foi tudo feito com câmara à mão, ver a respiração, sentir que estamos com lentes mais abertas, criando proximidade. Sentir que a quinta faz parte da história. Usámos duas referências da HBO: o “High Maintenance”, meio documental, meio de antologia do que é ser americano neste século, e o “Rami”. Quisemos não cair no facilitismo de matar tudo com uma planificação simples de “vai ou não vai com um plano geral, depois outro fechado”. A câmara torna-se narradora. E também queríamos uma cinematografia meio indie-americana. Isso diferencia absolutamente esta linguagem de outra ligada às novelas. Mas também já se começa a fazer alguma coisa nesses formatos. Mas, por mais que nos digam que o público da RTP1 está habituado a séries como a “Crónicas dos Bons Malandros”…
… ou a “Conta-me Como Foi”.
Sim, posso partir disso, mas depois não ponho cunho pessoal nenhum no meu trabalho. O espectador que está em casa não está à espera de ver o novo Tarantino, que até na Índia existe. Já viram muita coisa, as pessoas não são burras. Era como se pedissem aos tipos da “Casa de Papel” para fazerem algo seguríssimo, que resulta mesmo. Eles não arriscariam usar todas as referências do género. Quem olha para a série e gosta de cinema sabe que aquilo já foi tudo feito: “Inside Man”, ou o “Dog Day Afternoon”, esses filmes todos dos anos 70 para cá, que foram fazendo este tipo de histórias. Mas são noveleiros ao máximo.




▲ Cada episódio de "Até que a Vida nos Separe" começa com um casamento. Ao longo da história vamos acompanhando a bonança e a desventura da família que organiza cada uma dessas cerimónias
Mas “Até que a Vida nos Separe” é bastante diferente. Há aqui a ideia de baixar a temperatura, procurar conteúdos de proximidade, por causa da Covid-19.
Sim. Vendemos esta série como sendo sobre o amor, sabemos que é vago, mas também muito específico ao mesmo tempo. No nosso dia a dia tudo parece mais ligado à desconfiança, mais medo, mais pedidos de socorro, muito mais do que olharmos para o lado e vermos amor. A preocupação com esta série foi olhar para a forma como as pessoas se relacionam, independentemente de haver pandemia. E quem vir, pensará que, quando tudo isto passar, vai querer vingar-se de tudo e abraçar os amigos, estar presente e, eventualmente, casar, quem sabe.
O facto de termos uma família com pais, avós e um casal de filhos, é o extrapolar máximo da situação que vivemos agora. Seis pessoas numa casa. O que propomos é que o público veja estas relações, o seu negócio, para que tudo isto se torne mais suportável. Podemos tentar enganar o desespero olhando para boas histórias. É como ler um bom livro agora, que é um privilégio de classe absoluto, porque há muita gente a sofrer horrores. Aqui ninguém sofre, o que é ótimo. Precisamos que ninguém sofra no nosso escape. Olhamos para as novelas e alguém descobre que foi raptado, assaltado, assassinado. Esta série é a antítese disso. O amor acaba, mas é muito fixe a forma como lidam com isso.
Se na série tentam enganar o desespero dos dias, como é que foi enganar as restrições todas provocadas pela pandemia?
Fui realizador e produtor, com a minha mulher, Andreia Esteves, com a Coyote Vadio, em parceria com a Caos Calmo Filmes do Sérgio Graciano. Este foi o nosso primeiro projeto em nome próprio para a RTP1. Tínhamos 75 atores. Em setembro, estávamos na curva mais baixa da pandemia, mas havia regras. Todos os atores que tinham proximidade física foram testados com alguma regularidade. Fizemos tudo em cinco semanas de trabalho, de seis dias cada, em Azeitão. Fora dos 75 atores, houve sempre um controlo de sintomas, tal como a equipa. Era um processo de arranque um bocadinho mais demorado. Mas sabemos que as equipas de filmagem em Portugal são a prova de que o ser humano se adapta a qualquer circunstância. Fazemos ficção, por vezes, em condições muito parcas, tem de ser para ontem e com pouco dinheiro. Temos a sorte de trabalhar com as mesmas pessoas há já alguns anos. Por isso, quando pedimos para correrem mais 500 quilómetros, regra geral, temos uma resposta inacreditável. Claro que, em relação aos atores, mete um pouco de medo. Mas o espírito de família que se montou neste projeto fez com que todos os riscos fossem corridos em grupo. Foi uma loucura, porque não quisemos simplificar nada. Devo ter dormido três horas por dia, porque revia o material, via referências para o dia seguinte. Sou um pouco obsessivo compulsivo, planifico tudo.
Quando fala dos 500 quilómetros, isso traduz-se em quê?
Os nossos planos diários não eram carregados como os de uma novela. Precisava de tempo para explorar as cenas com os atores. Tenho um sentimento de posse com os atores, porque a RTP1 me deu uma liberdade total para escolher. Foram os que sonhei desde o início. Falo em 500 quilómetros com o imagem daquilo que procuro, que a cena seja verdadeira. Como dou aulas de representação para câmara, devo dizer que não acredito no conceito de improviso. Não existe. Os atores ou vivem ou não vivem a cena. A verdade que se quer é que a cena esteja a ser vivida. Nesta série, os atores tiveram isso em tudo o que fizeram. Apesar dos dias complicados, as cenas foram simples de fazer porque toda a gente estava a dar tudo. Há uma coisa que não podem retirar à série: há amor nas palavras nos atores e na câmara. Sou realizador há muitos anos…
… e ainda muito novo.
Tenho 36 anos, sim. Comecei a realizar com 24. De todos os trabalhos que fiz, este é aquele onde se nota mais. Parece que tivemos tempo.
E num tempo onde não há tempo.
Exatamente. Às vezes dizemos que as nossas produções não têm tempo, e isso vê-se na falta de dinheiro. Mas o brio com que a direção de arte prepara os atores, como os guarda-roupa são preparados, como os atores estão, não se coaduna com a falta de tempo para cumprir orçamentos. Mas nesta série parece que houve tempo. Nunca houve desespero, foi muito cansativo, mas deu muito prazer. Há uma boa vibe à volta deste projeto desde o início. Estamos muito seguros do que fizemos. Por vezes, os atores são chamados a fazer publicidade e falam da mesma forma, é um pró-forma. Neste caso, sabem exatamente o que foram fazer, há um orgulho enorme da equipa toda.

▲ Dinarte Branco, Diogo Martins, Rita Loureiro, José Peixoto, Henriqueta Maya e Madalena Almeida compõem o elenco principal de "Até que a Vida nos Separe"
Saltemos lá para fora. Portugal procura entrar no mercado das plataformas de streaming. O que é que falta para darmos um salto maior?
Acho que nos falta escala. Espanha tem sete vezes a nossa população, praticamente. A produção cinematográfica é, historicamente, muito maior do que a nossa. Andámos à procura da nossa cinematografia. O Luís Filipe Rocha ensinou-me isto: achávamos que o grande cinema clássico português é que levava as pessoas ao cinema, mas não. Quem o definiu terá sido o Manoel de Oliveira. Há uma coisa terrível que se fixou como preconceito: que o nosso cinema é parado. Espero que o “Vitalina Varela” ganhe o Óscar [para Melhor Filme Internacional, categoria para a qual está, por enquanto, na corrida das nomeações] para que se percam alguns preconceitos sobre a nossa cinematografia. Já se provou que temos atores de enorme calibre, por vezes tem a ver com a atitude perante alguns elencos. Aqui a indústria faz-se pelas novelas. Temos de apontar para os tais 9 milhões de pessoas. Os miúdos da “Casa do Cais” têm um rasgo criativo incrível, aquilo é internacional. Vemos a Tota Alves a fazer “O Meu Sangue” ou a Vera Casaca, muita gente a filmar de maneira irrepreensível. Falta é a tal escala. Por exemplo, a RTP é o canal que dá maior liberdade de escolha, porque não depende inteiramente das audiências. Têm apostado em séries variadas e os resultados demoram tempo. Se de hoje para amanhã uma série for vendida lá para fora, cá vai ser um sucesso. É a prova da nossa pequenez. Devia ser ao contrário.
Então onde está o problema, para lá da escala?
O problema é que há muita gente nas televisões, nos lugares de decisões, que tem muitas certezas sobre o que resulta ou não. Há quem se adapte, outros abrem-se menos. Mas estamos todos a caminhar para uma internacionalização. Para o projeto português da Netflix, o “Glória”, não poderia ter havido melhor equipa. Fui assistente de realização do Tiago Guedes, que é incrível, têm o André Szankowski, que é um diretor de fotografia brilhante. E se uns abrirem as portas a outros, se todos atacarmos o internacional, há uma hipótese de haver um oásis criativo europeu.
Mas o setor ainda está dividido para essa união, não?
Essa ideia é certa, mas é um sintoma, mais do que uma consequência. Nesta altura, as políticas culturais continuam a ser francamente diminutas, quase invisíveis. Num país pequeno, em que o dinheiro que é dado à cultura são migalhas, acaba por ser um circo romano. A política atira e nós batemo-nos por essas migalhas. O erro está em atirá-las para o chão, fazendo um espectáculo. A Netflix anunciou uma medida francamente má a todos os níveis na sua aplicação. As obrigações de investimento são muito curtas. Se quiserem transformar isso numa dobragem ou legendagem de um filme português para inglês, ou vice-versa, justificam como sendo produção nacional. De repente, os pequenos produtores como nós ficam engolidos por outros maiores, que já de si levavam o dinheiro do ICA. Não assinei nenhuma das cartas, só assinava a que travasse o processo, ponto final. Se formos a França, as taxas mudaram.
Sim, mudaram o jogo por completo.
É que nós não podemos achar que é uma grande oportunidade. A Netflix não nos vai perguntar que ideias é que temos. Não vai acontecer de repente. A Coyote fez uma proposta para uma grande multinacional e o que era exigido era um seguro, válido por três anos, com cobertura de 2 milhões de euros. Não existe. Não consigo assegurar isso se não for uma grande produtora. E não há mal nenhum. O senhor Paulo Branco, que foi incrivelmente mal educado quando houve a questão das cartas, disse uma coisa muito certa: “Seja comercial ou de autor, se são imagens numa tela, é cinema”. Isto é verdade. Enquanto não olharmos uns para os outros, para que haja toda uma ficção que trabalhe para o mesmo final, nunca vamos evoluir. Vamos sempre ser pequenos, que é uma condição. Podia ser a nossa vantagem.
Podia não ser uma sina.
Sim. Agora, que nós dizemos “na rua pela cultura”, é a altura. Quando houve as lutas laborais na Plural, estava lá a fazer novelas. Há pessoas que trabalham no ramo das novelas a ganhar 700 euros há 15 anos. Nessa altura não havia movimentos na rua. Temos de estar mais atentos uns aos outros. Apoio completamente esses movimentos. Temos de dizer aos políticos que sem cultura, não há país. Se tirássemos a ficha da Netflix, como ficavam as pessoas? Ou se os canais parassem, como era?
Portanto, a nossa ficção é boa e feita com pouco. Um dia Portugal apanha-se com muito dinheiro e descaracteriza-se completamente ou não?
Quando ouvi as condições do “Glória” cheguei a dizer que vendia a minha família toda para ter aquelas condições para filmar. Mas se calhar não. Isso é o medo próprio de quem compra um carro novo, não queremos riscar, sujar, etc. Acho que sim, corremos esse risco, mas nós é que estamos errados. Continuaremos a ter essa característica do desenrasca, mas há condições basilares para trabalhar: em vez de ter de fazer 15 minutos de ficção por dia, posso fazer 3 bem feitos. Ou que os produtores tenham tempo para acompanhar o processo.
As últimas três séries que fiz foram praticamente todas iguais. É o paradoxo do catering, há sempre um gajo a dizer mal, mesmo que se gastem milhões de euros. Mesmo em circunstâncias melhores, vai haver sempre alguém a dizer que não gosta das séries portuguesas. Será que teríamos mais tempo? A “Esperança” (série da SIC, que pode ser vista através da plataforma OPTO), por exemplo, filmou depois de nós, montou em tempo recorde, e estreou muito antes, apesar de nós já termos episódios prontos. Na Netflix estão um ano a escrever. Os meus autores dizem agora, e com razão, que se tivessem tido tempo, se calhar tinham revisto o primeiro episódio. Não temos esse tempo.


▲ Além do elenco principal, Lourenço Ortigão, Albano Jerónimo (nas fotos), Teresa Tavares, Catarina Gouveia, José Condessa, Isabela Valadeiro, Mafalda Vilhena e Sara Barradas também participam na série
Deduzo então que não seja um realizador com muitos preconceitos. O que é que lhe falta fazer?
Até 2018 estive a fazer novelas. Também fiz o “Desliga a Televisão” e o “Teorias da Conspiração”. Deixei de fazer novelas porque não sentia que estava a aprender mais. Entretanto, encenei uma peça no Teatro Trindade, escrevi outras. Interessa-me sempre comunicar, apesar de ser muito lírico dizê-lo. Agora estou na fase de apostar muito na minha produtora, tentar trilhar caminho por nós, de convencer os canais a apostar em narrativas que até há bem pouco tempo eram meio aliens. Tenho projetos que vão arrancar agora, depois outros no verão. Há a hipótese de fazer um ou outro filme. Já produzimos dois ou três filmes que ainda não estrearam por causa da pandemia.
O que me faz falta é sentir o que senti com esta série. Nunca me tinha acontecido. Tenho ainda um filme a ser escrito por mim e outros dois atores, muito experimental e independente. Hoje em dia, estou tentado a assumir-me mais como realizador de séries do que de cinema, apesar de ser um fã. A pandemia trouxe uma revolução na maneira como lidamos com as histórias. Gostava imenso que na próxima quarta-feira tivéssemos um elemento transformador, que as pessoas dessem uma hipótese de seguir a série até ao fim.
Sendo filho de um político [José Manuel Pureza] nunca quis seguir-lhe os passosem vez de trabalhar nesta área em que trabalha?
Sim, tenho um pai babado e sou um filho babado por ele. Uma vez fui parado por um polícia que se começou a rir. Disse que gostava muito do meu irmão, que era o meu pai. Nunca me deu para a política, mas tive uma educação virada para a causa pública e cívica. Vivi até aos 18 em casa dos meus pais, que têm uma consciência política muito forte. Mas devem ter falhado em alguma coisa, a minha irmã é psicóloga e faz design thinking, eu vim para realização. Na verdade, gostava de ter sido ator.
Porque não aconteceu?
Tive uma experiência recente e percebi que gosto mais de mandar do que de ser mandado. É o lado mais déspota. Olhando para trás, até para a maneira como sou pai de uma criança de nove anos, não me vejo a fazer mais nada com este sentido de realização pessoal. O trabalho de equipa para mim é das coisas mais gratificantes. Não posso ser treinador, não aguentava uma época. É olhar para a história e ver como a contaria, exercita muito o físico e a mente. A vantagem é que olho para a televisão e vejo o que está por detrás de cada cena.
E tem esperança na televisão…
Na televisão como ela existe não tenho esperança nenhuma, mas no formato sim. As pessoas têm o cinema em casa, apesar da experiência de ir às salas ser insubstituível, comer pipocas a ver o James Bond ou o Frank Capra. A televisão está a mudar, as pessoas podem fazer as suas opções. Aqui há trinta anos isto era impensável. Com quatro anos carreguei num comando à distância e fiquei a achar que tinha estragado a televisão. Foi uma mudança no nosso tempo, deixámos que passasse. Há quem esteja já a pensar na terceira temporada da “Casa do Cais”, é incrível. 10 mil euros para fazer aquilo… é brutal.
Então não acha que o cinema, o teatro, as séries, são uma arma política?
O João Salaviza, que foi meu colega de turma no Conservatório, disse sobre um dos seus filmes: “Não espero que o meu filme mude nada, pode é contribuir para uma discussão”. Sou fã disso. Um dos meus realizadores de eleição, o Fellini, é o realizador da memória e dos sonhos. O cinema é político dessa forma, da qual as pessoas já se esqueceram. Há muita gente que diz que não gosta de falar de política. Aí estamos a engrossar a quantidade de empreiteiros que mandam neste país de maneira um pouco estranha. O cinema, se puder contribuir para a ideia de que tudo é política, melhor. Recuso-me a fazer uma história sobre o 25 de Abril ter sido uma coisa errada. Aceitarei sempre fazer filmes de denúncia, de injustiça, de condicionamento de liberdade. Posso contar uma história muito curta?
Claro.
Em Angola fiz uma novela, estive lá a viver um ano e meio. Foi a melhor que fiz na vida. Calhou-me uma cena em que dois homens se beijavam. Estávamos num país em que sabemos que há uma população homossexual alta, mas muito escondida por preconceito. Precisava de um hotel com um elevador panorâmico, a grua ia acompanhando a ascensão, como se fosse uma subida para a liberdade. Fizemos isso. Quando a cena passou na televisão, no dia seguinte, o pivô da TPA anunciava que tinha havido um problema técnico com a novela. Depois, veio um comunicado lido a dizer que a novela tinha desrespeitado os valores e as tradições angolanas. Ao terceiro dia, não passou por outra coisa qualquer. Nesses 3 dias a única audiometria era o Facebook, onde se gerou uma discussão incrível sobre o direito a amar. Pensei: do suposto escândalo à discussão foi um tiro. E ainda bem.
Chegou a passar em Portugal, mas foi chutada para as noites da RTP2. De repente, aquela cena inocente para nós, ali, funcionou como um catalisador de discussão. É aí que o cinema se manifesta como transformador. Vendo os filmes do Rossellini, sobre os rescaldos da guerra, faz-nos pensar que Europa teríamos depois. Experimentei fazer documentários, mas não passo bem. Fico ansioso, não sei, talvez seja por causa da realidade na cara. Fiz um sobre armas ligeiras em Portugal e jurei para nunca mais. Talvez a ficção seja mais fácil de lidar.

▲ Manuel Pureza (à direita), com parte do elenco, durante a rodagem de "Até que a Vida nos Sperae"
PEDRO PINA
Uma última pergunta: quando é que teve a certeza que queria realizar?
Tive uma professora no 12.º ano em Coimbra, onde nasci e fiz o secundário, antes de vir para Lisboa. Tive uma cadeira de oficina de expressão dramática. Essa professora era extraordinariamente culta, ensinou-nos a teoria de teatro. Fiquei maravilhado. Regra geral, estas oficinas serviam para não se fazer nada. Mas esta senhora Adelaide não era assim, era apaixonada pelo teatro. Vim fazer as provas para o Conservatório e fiquei na área de cinema. Cheguei à sala de aula com os resultados. Primeiro, deu-me um abraço, depois um estalo, porque tinha entrado em cinema. Achava que era ator. A partir daí, nunca mais a vi. Nem sei se ainda é professora. Mas transformou-me por completo. Um dia estava em Guimarães para ver o “Mulholland Drive” do [David] Lynch, também ajudou.
Depois vim para a capital, no fim do primeiro ano do conservatório, percebi que não ia aprender exatamente o que queria. Tinha professores que já não estavam a exercer a profissão. Fui bater à porta da Fado Filmes, do Luís Galvão Telles, que me fez seu assistente de realização na hora. A seguir, conheci o José Fonseca e Costa, também fui assistente dele durante oito anos. Fiz publicidade, fui assistente de realização do Tiago Guedes. Aos 20 anos, estava a fazer publicidade para Espanha. Tinha 500 figurantes na Praça do Município, que tinham de saltar ao mesmo tempo. A luz estava a desaparecer, mandaram entrar um gerador. Percebi que se não fizesse isto para o resto da vida, não seria feliz. Agora estou na Coyote, depois do Sérgio Graciano me levar para a televisão. Foi um tiro. Já passaram 18 anos.