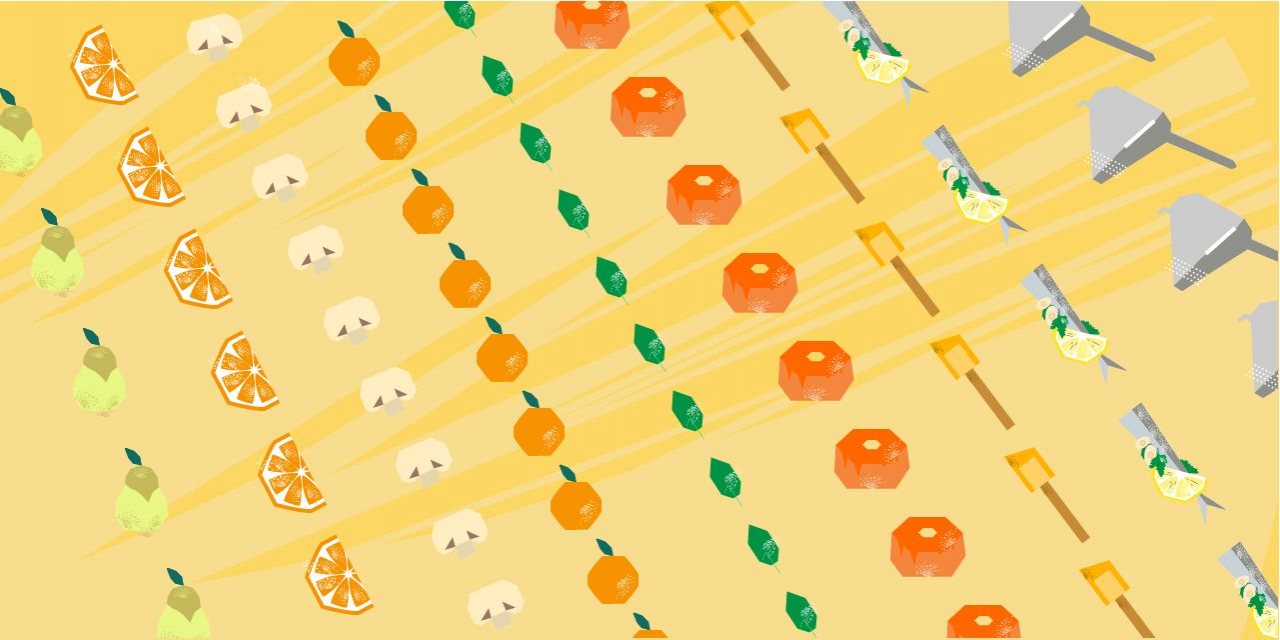Índice
Índice
Se por um lado já todos sabemos que a língua portuguesa pode ser traiçoeira, também é certo que existe sempre alguma justificação para as expressões idiomáticas ou nomes que vezes e vezes sem conta nos saem da boca sem que nós saibamos aquilo que na verdade querem dizer. Quantas vezes já não acusámos alguém de ter uma ideia peregrina, avisámos dos riscos de pôr o carro à frente dos bois, falámos do chato que é passar de cavalo para burro, jurámos saber algo na ponta da língua ou comemos à tripa forra?
Dava para continuar esta lenga-lenga ao longo de muitos, muitos parágrafos, mas não, o rumo que se vai seguir é ligeiramente diferente. Este género de expressões é universal dentro da língua portuguesa, toca em todas as áreas do léxico e é com os olhos posto num em específico que se desdobrará este artigo. Na listagem que se segue, então, vamos conhecer algumas das expressões e referências mais particulares da língua portuguesa que, de uma forma ou outra, estão relacionadas com o mundo da comida. Tome nota dos exemplos que se seguem e devore as histórias por trás dos nomes.
Bacalhau Espiritual

Poucas coisas conseguem ser mais portuguesas que um prato de bacalhau e é por isso mesmo que esta forma de o confecionar pareceu um bom ponto de partida para este trabalho. Muitos especialistas dizem que esta é provavelmente uma das iguarias mais transformadas e adulteradas do receituário nacional, não sendo poucas a vezes em que lhe adicionam (erradamente) batata, por exemplo. Qual é então a história deste prato que tantos portugueses seguramente enumeram como sendo dos seus favoritos?
De acordo com o gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes, este prato nasce nos arredores de Lisboa há menos tempo do seria expectável. Corria o ano de 1947 quando na zona de Queluz, no concelho de Sintra, a Condessa Almeida Araújo preparava-se para lançar um restaurante de luxo nas instalações do Palácio Nacional que nesta zona mora e que se chamaria Cozinha Velha. De acordo com Virgílio, que diz ter tomado conhecimento desta história através da própria Condessa, este espaço pretendia ter uma sólida oferta de grandes pratos tradicionais mas também uma ou outra referência mais sofisticada, algo que piscasse o olho à já respeitada cozinha francesa, por exemplo. Como gourmand que era, a primeira concessionária deste espaço que ainda hoje existe exatamente no mesmo sítio decide rumar a França e fazer um périplo pelos templos gastronómicos do país. Foi num desses espaços que se cruzou com um prato que lhe ficou na memória, a “Brandade Chaude de Morue”, especialidade nascida no sul de França pelas mãos do cozinheiro Charles Durand. A leveza e textura sedosa do prato chamou logo à atenção e a utilização do bacalhau, já na altura símbolo pleno de portugalidade, convenceu a Condessa de que este era um dos pratos que queria na sua ementa.
Nesta época a abertura entre cozinheiros era praticamente uma fantasia e não existia qualquer hábito (ou vontade) de partilhar receitas. O segredo era a alma do negócio, fosse ele aplicado perto ou longe do ponto de origem. O que fez a a Condessa Almeida Araújo? Comprou a receita e trouxe-a consigo. Desde então o prato tornou-se numa especialidade nacional. O nome “Espiritual” não tem uma justificação 100% à prova de bala mas o mesmo Virgílio Gomes explicou que essa tal primeira proprietária da Cozinha Velha era uma pessoa muito religiosa e isso (juntamente com a leveza do prato) touxe-lhe à cabeça o nome que até hoje permanece inalterado.
Pêra Rocha

Sabia que existem 27 variedades de pêra só em Portugal? Muitas vezes não dá para perceber bem a totalidade da oferta que se pode encontrar em ramos como o frutícola ou hortícola mas todos os portugueses seguramente conhecem a famosa pera Rocha, tão típica da zona do oeste lisboeta. E de onde vem este nome? É para explicá-lo que aqui estamos.
Segundo o livro “Alimentos ao Sabor da História – Receitas e Curiosidades”, assinado pelo jornalista e investigador gastronómico Fortunato da Câmara, o primeiro nome deste ícone das fruteiras portuguesas deriva de uma forma geométrica, da pirâmide, mais precisamente (a palavra pȳramis, em latin, transformou-se em pêra). No caso da variedade Rocha (existem outras como a Bojarda, Bela Feia, Lambe os Dedos ou até a Rabiça) temos de viajar até 1836 para conhecer a quinta do senhor Pedro Rocha, em Madre Deus, na zona da Ribeira de Sintra. Este senhor Rocha, reza a lenda, sempre foi especialista na compra e venda de animais de carga, apesar de ter umas quantas árvores de fruto na sua propriedade. Entre essas havia uma pereira que sempre morou num certo valado da propriedade e que se foi tornando muito popular entre os amigos ( e animais) de Pedro Rocha. O fazendeiro, que era conhecido pela sua generosidade, decidiu começar a oferecer sementes dessa pereira a amigos agricultores de de zonas como Galamares ou Colares e de repente a esta pera espalhou-se de tal forma que que quando chegou e assentou no oeste já era conhecida como pêra Rocha.
Atualmente já é considerada um produto com Denominação de Origem Protegida (DOP), sendo o seu nome completo Pêra Rocha do Oeste. Na sua lista de características base temos a cor amarelo-clara, a polpa branca e um sabor adocicado — se encontrar alguma que aparente ter manchas rosadas em parte da casca saiba que isso é sinal de que foi essa face que teve maior exposição solar durante o processo de crescimento.
Carapaus Alimados

Há mistérios que por muito que se procure pela sua explicação é sempre difícil — ou quase impossível — de os resolver. Mesmo assim, porém, há sempre alguma boia de salvamento à qual nos podemos agarrar para tentar trazer algum sentido ao que parece inexplicável. Os carapaus alimados são um bom exemplo destes casos.
Tal como o xerém ou o peixe grelhado, esta especialidade está fortemente ligada ao receituário típico do Algarve, apesar de hoje em dia ser possível encontrá-los um pouco por todo o país. Não existem grandes escritos sobre a sua origem mas a senhora Maria Rosa, anciã da aldeia de Barão de São João, nos arredores de Lagos, que desde sempre se habituou a preparar este prato, consegue dar umas luzes sobre aquilo que aqui está em questão. Ao projeto de divulgação cultural e gastronómico Mar d’Estórias, que é sediado precisamente em Lagos, contou que esta especialidade tem origem no método de preservar alimentos conhecido como salga. Ou seja, quando os mares eram generosos e davam carapau a mais do que aquele que dava para consumir na hora, limpavam-se as tripas e tirava-se a cabeça dos mesmos, antes de serem passados por água corrente. Logo a seguir iam sendo colocados em camadas, num alguidar perfurado, e cobertos com doses generosas de sal marinho durante um mínimo de quatro horas. Daí seguiam para um tacho de água a ferver e por lá ficavam uns cinco minutos ou o tempo suficiente para o rabo sair com facilidade, momento a partir do qual se tirava o recipiente do lume, juntava-se água fria e deixava-se o peixe arrefecer.
O que é que isto tudo tem a ver com “alimar”? A pergunta pertinente vê-se respondida na etapa que se segue: no dia seguinte à “confeção” dos carapaus tirava-se a pele, serrilha e barbatanas de forma a existir apenas uma carcaça branca de peixe saboroso. “Alimava-se” o carapau da mesma forma que com uma lixa, por exemplo, se aparam pedaços de madeira ou metal. Apesar de não haver nenhuma prova científica e exata sobre a origem do nome é esta teoria que tem mais probabilidade de ser a correta. Ah! Não esquecer também que depois do processo de alimar — já agora termina-se a apresentação da receita — deve-se temperar tudo com doses generosas de azeite, vinagre ou limão, alho, cebola e a inevitável mão cheia de salsa. Bom apetite.
Canja

“Isso é canja!”, disse toda a gente de Portugal, pelo menos uma vez na vida, para descrever uma situação de resolução simples. A analogia envolve esta célebre sopa por causa da ideia de que ela é fácil de fazer: é só juntar ossos de galinha, por exemplo, a um tacho de água, aquecer, juntar massa, frango desfiado e já está. Apesar de haver alguma verdade neste argumento a ciência de fazer um bom caldo é bastante mais complexa do que parece, daí haver algumas dúvidas sobre se é tudo assim tão rápido e básico de fazer. Dúvidas não existem, porém, quando o assunto é a origem deste prato que tantas constipações já ajudou a curar.
Recorrendo de novo à sabedoria do gastrónomo Virgílio Nogueiro Gomes percebemos que a “nossa” tradicional canja tem origem indiana e muito provavelmente terá nascido a partir de uma especialidade chamada “canje” e que consistia num caldo dado a doentes em convalescença, isto porque era feita, segundo o Museu do Virtual da Lusofonia, com base de arroz, caldo e umas quantas ervas aromáticas. Na zona de Goa, por exemplo, existe uma variante desta receita que inclui galinha e no estado do Malabar, também em solo indiano, há registos de uma especialidade chamada “kanji”, que é igualmente semelhante a esta formula simples de caldo, hidratos, aromáticas e proteína.
Estima-se que a passagem para território luso esteja ligada aos Colóquios de Garcia da Orta, o livro que este pioneiro da medicina tropical lançou em 1563 relata o tempo em que viveu (e estudou) em território indiano. Este médico e naturalista viveu sempre na companhia da sua serviçal e cozinheira, a Antónia, e terá sido a própria a preprara-lhe esta especialidade pela primeira vez. Garcia da Horta gostou, fez-lhe referência no seu livro e desde então, presume-se, imiscuiu-se no tecido gastronómico nacional — até chegou ao Brasil, país onde existe uma versão bem mais consistente e reforçada que de leve não tem nada.
A sua associação à ideia de melhoramento ou equilíbrio da saúde existiu desde sempre e há registos interessantes no Palácio Nacional da Ajuda, por exemplo, que dão conta que a Rainha Dona Maria Pia exigia que houvesse sempre canja nas suas cozinhas, já que acreditava que ela era fundamental para se manter saudável. D. Pedro II, o Imperador do Brasil, também era fã desta sopa, de tal fora que existem relatos de que sempre que assistia a espetáculos comia uma canja entre o segundo e o terceiro ato.
Clementina

É a “prima” da famosa tangerina que Eça de Queirós, como diz Fortunato da Câmara no livro “Alimentos ao Sabor da História – Receitas e Curiosidades”, classificava como sendo um símbolo de sofisticação na sua “A Cidade e as Serras”. O origem desta clementina não aparece explicada neste clássico da literatura portuguesa mas sim mais a sul, na Argélia.
Corria o ano de 1892 quando o monge Vital Rodier foi enviado para esta zona do Norte de África e passa a ser responsável pelo orfanato Péres du Saint-Esprit, em Misserghin, uma pequena localidade perto da cidade de Oran. Ao que parece num certo dia o frade reparou que nos pomares do orfanato existia uma árvore que dava uma espécie de laranjas extremamente amargas e isso intrigou-o. A partir desse momento aplicou-se a quase a 100% no estudo desse espécimen e acabou por experimentar vários tipos de enxertos com outras variedades, entre elas a tangerineira, para ver o que acontecia. Foi precisamente a combinação com esta tal árvore da tangerina que deu origem a um fruto doce, agradável e sem sementes que foi logo batizado como a “tangerina do Irmão Clément”, já que era este o primeiro nome do frade hortícola.
Vários anos mais tarde, por pedido expresso do médico e botânico gaulês Louis Charles Trabut (o primeiro a fazer a descrição científica desta árvore de fruto), a Sociedade Argelina de Horticultura atribuiu ao citrino o nome que até hoje permanece inalterado. Clementina.
Salazar
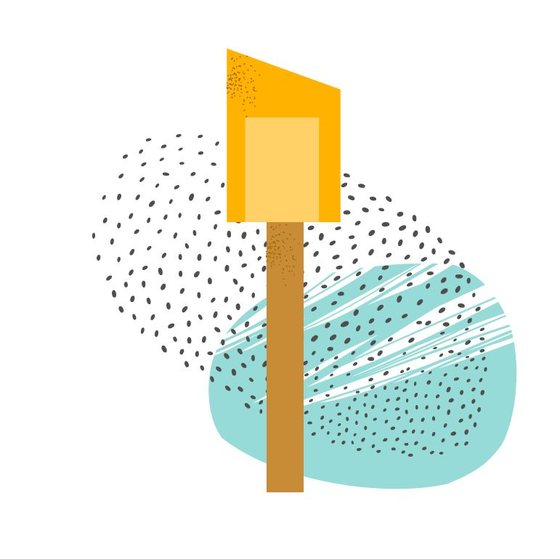
As probabilidades de existir um instrumento destes em grande parte das casas do mundo é bastante elevada, contudo, e no caso específico de Portugal, quantos de nós sabemos o porquê do nome que a grande maioria das pessoas lhe dá? Pode ser uma espátula, certo, ou até mesmo um raspador, contudo, aquele utensílio com cabo de madeira e topo achatado em borracha que tanto jeito dá para envolver massa de bolos, por exemplo, tem o nome de Salazar.
Olhando para o “Dicionário de Gastronomia” de Maria Antónia Goes (Colares Editora) vemos a seguinte definição: “Utensílio de cozinha, em borracha, que serve para raspar, aproveitando os restos , em alusão à economia draconiana apregoada pelo Dr. António Oliveira Salazar.” A explicação não podia ser mais simples mas Virgílio Nogueiro Gomes fez questão de complementar a história junto do Observador.
Ao que tudo indica esta brincadeira com o nome surge já em meados dos anos 60, altura em que o regime já começava a vacilar e a margem para trocadilhos que potencialmente podiam levar alguém para a cadeia tornava-se maior. O motivo da associação prende-se com a necessidade de evitar o desperdício, claro, mas também com a ideia de que o ditador “rapava” tudo o que fossem direitos ou liberdades do povo.
Banho-Maria

Mais uma termo gastronómico que virou expressão corriqueira. “Banho-Maria” é uma técnica de confeção pouco agressiva em que se coloca um recipiente dentro de outro maior, cheio de água, que vai aquecendo lentamente e longe do calor intenso da chama aberta. “Banho-Maria” também é quase que um adjetivo de quem quer caracterizar alguém mais dado à procrastinação. Certo. Mas quem é esta Maria e porque é que o seu banho ficou tão conhecido?
A resposta para esta questão mora lá longe, algures entre o I e o III século antes de Cristo, na antiga Judeia. É algures neste intervalo de tempo que viveu “Maria a Profetisa” ou “Maria a judia”, como era conhecida na altura. Falamos de uma das primeiras alquimistas da história do mundo e, de acordo com registos escritos indiretos (nenhum da sua autoria sobreviveu ao passar dos anos mas é referenciada noutros documentos), a inventora desta técnica que até aos dias de hoje continua a ser utilizada no mundo inteiro e foi batizada e sua homenagem.
Maria concebeu um artefacto/processo que a permitia “cozinhar” qualquer coisa sem ter de o fazer perante lume direto que inicialmente era usado apenas por estes protótipos de médico/cientista mas com o tempo fez a transição para o mundo da comida (hoje até na indústria marca presença). Os franceses, muito mais tarde, popularizaram o “bain-marie” que continua a ser o elo de ligação entre coisas como mousse de chocolate, cheesecake, custard, ou molho holandês, tudo coisas que não existiriam se Maria não tivesse inventado o seu banho.
Cogumelos de Paris

Viajamos de novo ao livro “Alimentos ao Sabor da História – Receitas e Curiosidades” para dar de caras com um dos poucos alimentos que fazem parte do clube de “ingredientes cujo nome já revela a sua origem” — à semelhança das couves de Bruxellas, as alcachofras de Jerusalém, a laranja do Algarve, banana da Madeira, etc., etc. Quando se fala em cogumelos e o processo de os apanhar dificilmente se consegue imaginar um sítio que não seja um bosque enevoado ou uma zona pantanosa e húmida, daí soar estranho ver que estes estão ligados a uma das maiores e mais cosmopolitas cidades do mundo. Antes de se perceber o porquê desta associação convém esclarecer um erro que muitas vezes é associado a este fungo em específico: os cogumelos de Paris são popularmente referenciados apenas como champignons e é errado referi-los desta forma porque “champignons” é simplesmente a tradução direta da palavra “cogumelos”, e pode ser aplicada a todas as quase infinitas variedades deste fungo.
A associação a Paris tem um protagonista peculiar: Napoleão Bonaparte. Durante o século XIX um agricultor dos arredores de Paris tentou criar uma cultura de cogumelos na sua propriedade mas ao ver que nada acontecia desiste da ideia e deposita o estrume onde tinha tentado “plantar” os fungos numas pedreiras abandonadas também na periferia da capital francesa. Ora a escuridão e humidade da pedra foram condição perfeita para estes ingredientes florescerem e assim que as notícias desta grande produção fúngica chegaram aos ouvidos do Imperador francês ele não foi de meias medidas: para colmatar a fome que ocasionalmente surgia em Paris Napoleão mandou “plantar” cogumelos nas galerias subterrâneas e catacumbas da cidade, nomeadamente na zona dos bairros XII, XIV e XV.
A técnica foi tão bem sucedida que em pouco tempo passou a haver uma abundância tal deste tipo de cogumelos que passaram a ser conhecidos como sendo de Paris.
Pudim Abade de Priscos
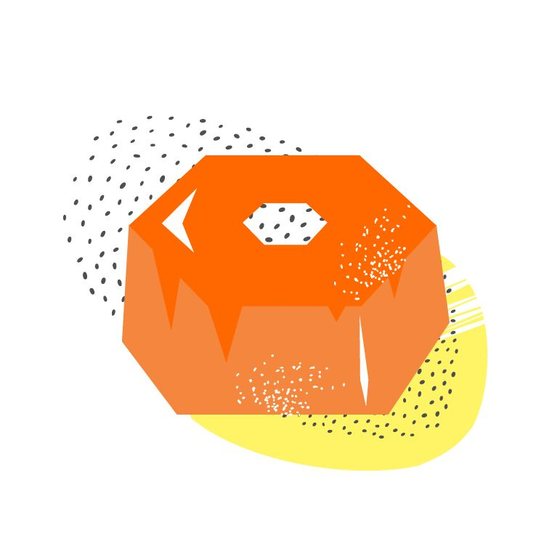
Será o Pudim Abade de Priscos uma das melhores sobremesas do país? Muitos dirão que sim, outros tantos (que provavelmente presam mais a sua saúde cardiovascular) talvez não, mas independentemente disso é inegável que esta especialidade bracarense é um verdadeiro símbolo da gastronomia portuguesa.
Para quem nunca o tiver provado este doce é um pudim de ovos que tem a particularidade de contar com banha de porco no processo de confeção. A história conta-nos que esta guloseima nasceu algures no séc. XIX através do Abade Manuel Joaquim Rebelo, o pároco que durante 47 anos foi figura importante na freguesia bracarense de Priscos. Religiosidade à parte, este Abade sempre se destacou pelo jeito que tinha para a cozinha são várias as lendas de que, por exemplo, nunca apontava receita nenhuma, sabia tudo de cor, e que trazia sempre consigo uma espécie de pasta cheio de temperos especiais que usava para refinar as suas aventuras culinárias.
De entre o seu arsenal de receitas a deste pudim sempre se destacou e era tão grande o seu sucesso que chegou a dar origem a uma confraria que, até hoje, continua a existir. A sua receita base envolve meio quilo de açúcar, vinho do Porto, quinze gemas de ovo, meio litro de água, um pau de canela, ma casca de limão e, claro, 40 a 50 gramas de toucinho.
A fama deste Abade Manuel Joaquim Rebelo era tão grande que há o relato de um episódio em que o rei D. Luís I visitava a Póvoa de Varzim e convidou-o para tratar de parte da comida. A comezaina correu de tal forma bem que no final o monarca fez questão de falar com Manuel Rebelo, para o felicitar e perceber que maravilha tinha sido aquela que o Abade lhe tinha preparado. “É palha, senhor!”, respondeu. D. Luís I ruboresceu e gritou: “Palha?! Como ousas dar palha ao teu rei?” Sorrindo, Rebelo respondeu da seguinte forma: “Perdoai-me, Senhor, mas toda a gente come palha – a questão é saber cozinhá-la.”
Chinês

Sim, este “chinês” é um coador, na prática. Mas há diferenças, atenção: aqueles que normalmente temos em casa são mais arredondados, uma espécie de meia-esfera. Estes de que aqui se vai falar são mais comuns no meio da restauração profissional e teoricamente são mais eficientes e precisos. Contudo, não é nenhuma destas características que lhe lhe dá nome — a justificação é bem mais particular.
Estima-se que este utensílio tenha sido criado em França e que o seu nome original era “chinois”, a tradução direta da palavra chinês. A presença gaulesa na Ásia é uma realidade enraizada há muito tempo, nasce fruto da colonização de países como o Vietname, por exemplo, é também o motivo por trás do nome deste instrumento muito utilizado para fazer cremes ou purés — até na coquetelaria chega a ser utilizado , por vezes. Ora se recordarmos os chapéus tradicionais de certos países asiáticos é fácil perceber a ideia por trás deste nome: os acessórios em forma de cone e feitos de palha seca, virados ao contrário, são este instrumento. Às vezes as coisas são mais simples do que parecem.
Cabrito Estonado

Um bom cabrito assado parece ser uma ciência simples e bastante óbvia, o problema é quando ao cabrito lhe adicionam a palavra “estonado”. A etimologia da palavra é tramada, não nos remete a nada de imediato, daí ser imperativo ver aquilo que os antigos diziam sobre este especialidade beirã que tem como Meca a zona de Oleiros e o restaurante Adega dos Apalaches, mais concretamente, como latitude imperdível. É no livro Confrarias de Portugal (2019), da autoria da fotógrafa Marisa Cardoso e a jornalista Ana Catarina André que se fica a perceber melhor aquilo que podemos esperar ao pedir um cabrito estonado.
Ao que tudo indica, e de acordo com um documento de 1624 citado pela Confraria Gastronómica do Cabrito Estonado, o jesuíta António de Andrade, natural de Oleiros, mencionava que em jeito de diário um dia em que estava no Tibete e comeu “cabra com pele”, explicando que esse povo não esfolava o dito animal antes de o comer, preferiam chamuscar-lhe o pelo comer da mesma forma que faziam na sua terra natal. Ora o que se retira daqui é que o o “estonado”, neste caso, significa unicamente que o cabrito é cozinhado com pele, à semelhança do leitão, por exemplo, sendo todos os outros processos e técnicas associados à sua confeção iguais aos pratos de cabrito mais comuns em que o animal é esfolado.
A confrade Cristina Garcia, esclarece que este prato, em Portugal, era servido apenas em dias festivos e limitado às famílias mais abastadas por ser um prato caro. Talvez seja por isso que não se encontrem muitas receitas de antes dos anos 70, altura a partir do qual aparecem duas referências que até hoje continuam pertinentes: a primeira em 1973, no livro “Cozinha Regional Portuguesa”, de Maria Odete Cortes Valente; e a segunda em 1982, no icónico “Cozinha Tradicional Portuguesa” de Maria de Lourdes Modesto. Em ambos os casos a referência comum é a da remoção do pelo do animal coma ajuda de água quente — a carcaça é mergulhada, fica submersa durante um tempo e depois com a ajuda de uma serapilheira ou uma escova tira-se qualquer pilosidade do animal.
Sobre a receita em si, no “Dicionário Prático da Cozinha Portuguesa” de Virgílio Nogueiro Gomes lê-se que nela o cabrito é recheado com as suas miudezas, barrado com banha de porco e assado dos dois lados. O “Dicionário de Gastronomia” de Maria Antónia Goes não entra em mais pormenores mas deixa uma referência interessante — sugere que o animal seja assado sobre paus de loureiro.