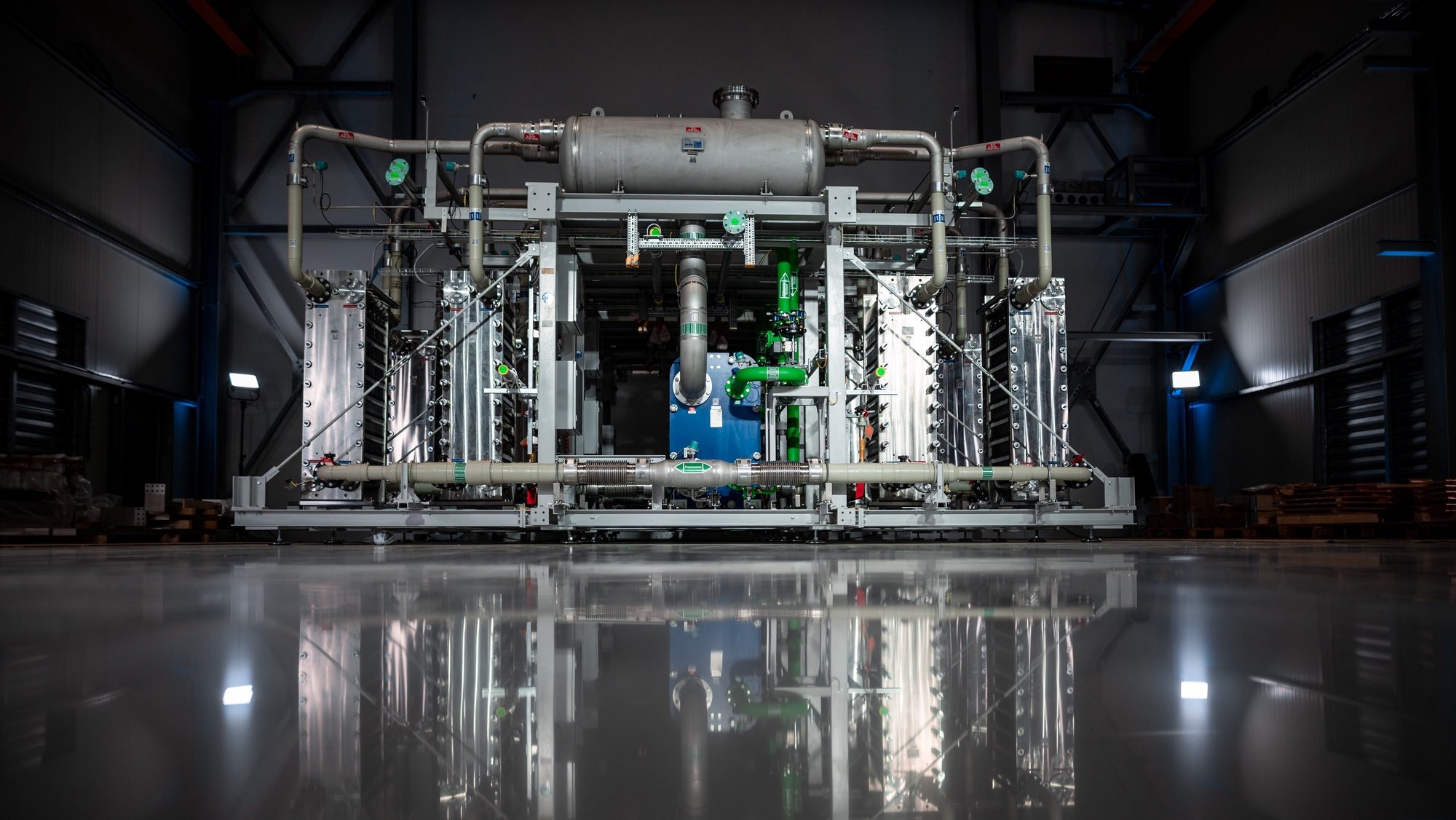Houve um tempo, que parece agora muito distante, em que o nosso país era influenciado pela cultura, pela língua e pelo pensamento franceses. E nesse tempo de francofilia, alguns autores e filósofos conseguiam ter praticamente toda a sua obra traduzida em português, mesmo que não fossem especialmente estudados entre nós. É o caso de Roland Barthes, que nos legou múltiplas ferramentas de análise e interpretação tão interessantes quanto úteis, mas cujo trabalho valeria a pena só pela seguinte frase: “tenho uma doença: vejo a linguagem”.
Para quem, como Barthes, sofre desta doença, não lhe escapará o uso contínuo de termos em língua inglesa sem razão aparente. Porquê meeting em vez de reunião? Players em vez de intervenientes? Spot em vez de lugar? É possível que, em tempos longínquos, tivéssemos feito o mesmo com palavras francesas, entretanto incorporadas no nosso vocabulário de tal forma que esquecemos a sua origem. É, por isso, possível que, daqui a algumas décadas, escrevamos mitingues e pleieres (como Mário Zambujal brinca nos seus livros), e as novas gerações ignorem como surgiram.
Mas depois há os casos compreensíveis. Podemos querer utilizar uma expressão ou uma palavra em língua inglesa precisamente para expressar a sua origem externa e estranha: é o caso de “hate speech”, que embora tenha uma tradução consagrada em português (“discurso de ódio”), ainda assim deve ser dita no original para que não nos esqueçamos de que há uma teoria por detrás dela, um conjunto de ideias que se quer afirmar – e ao denunciar essa origem e esse reconhecimento, podemos recusar a moldura mental que ela pretende convocar.
Mas também podemos utilizar expressões ou palavras em outra língua por querermos prestar homenagem à bagagem cultural e histórica que carregam e que não é passível de ser traduzida. É o que se passa muitas vezes com a língua alemã, e por isso dizemos Heimat, Weltanschauung ou Zeitgeist. No inglês americano isto também acontece, embora as palavras tendam a carregar sentidos menos… metafísicos.
Pensemos em “fast food”. Provavelmente esperavam algo mais filosófico – mas a questão é exatamente essa. A expressão fast food transporta consigo toda a cultura norte-americana, onde a palavra floresceu no início da década de 1950: é a comida pronta-a-comer, preparada rapidamente ou pré-cozinhada de modo que possa ser consumida sem perda de tempo. E embora a comida pronta-a-comer possa ser encontrada na antiguidade, a expressão só poderia ter sido cunhada numa cultura em que tudo acontece rapidamente. Mais do que isso: tudo tem de acontecer rapidamente porque tempo é dinheiro e não há tempo a perder.
Há um preço a pagar pela rapidez e esse preço é também retratado pela ideia de fast food: é uma comida que nos tira a fome, mas é nutricionalmente pior, por isso é muitas vezes designada como junk food. Há correlação entre rapidez e qualidade?
Curiosamente, o termo equivalente em português faz esquecer a dimensão temporal, mas guarda a questão qualitativa: falamos em comida de plástico, remetendo para a aparência. É uma comida atraente, e é verdade que comemos tantas vezes com os olhos, mas como acontece com os objetos de plástico, não é verdadeiramente comida.
Há, no entanto, algo que se perde com a tradução para comida de plástico e que nos faz esquecer a cultura do tempo rápido e o facto de a fast food simbolizar tão bem a transformação das nossas sociedades nas últimas décadas. O tempo acelerou e os dias são definitivamente mais curtos, mesmo que nos tentem convencer de que têm o mesmo número de horas. Nesse ritmo rápido, desde que nos levantamos da cama até nos voltarmos a deitar, parecemos não ter tempo para nada.
E se o tempo é escasso, ideias como esforço e sacrifício perdem valor. Queremos tudo rapidamente e com pouco esforço: encomendamos online para não perder tempo nas lojas e pedimos refeições entregues por motorizadas barulhentas que nos poupam o tempo de ir ao restaurante (coisa que antes fazíamos com tanto prazer); queremos debates políticos na televisão que durem meia hora e explicações sobre os todos males do mundo em podcasts de vinte minutos; também queremos livros pequenos, que não provoquem um aperto no coração e uma tendinite no braço quando pegamos neles; e, já agora, artigos de opinião que sejam curtos e diretos ao assunto. Nos Estados Unidos, são hoje banais as apps que resumem livros, tanto em formato escrito como áudio, e a verdade é que se lermos apenas os resumos temos tempo para conhecer Tolstoi, Mann, Shakespeare e toda a restante tradição ocidental. No mundo académico, pedem-se agora artigos de 3000 palavras e comunicações de tipo speed dating (outra boa palavra anglófona) com breves minutos de discussão final.
É o tempo do fast thinking ou do pensamento rápido, enquanto somos colonizados pela cultura norte-americana do tempo e acostumados à lógica da internet: tudo deve estar à distância, o mesmo é dizer, ao tempo de um clique. Estamos a tornar-nos superficiais?, pergunta Nicholas Carr, a propósito da crescente incapacidade de concentração e profundidade de pensamento. Ou estamos a embrutecer?, como parece sugerir Michel Desmurget, a propósito do impacto dos ecrãs nos mais novos. Ou, como Jonathan Haidt sugere no livro, publicado há dias, The Anxious Generation (voltaremos a ele muito em breve): será que vidas assentes no uso de telemóveis-espertos conduzem a uma degradação espiritual? Afinal, todas as tradições antigas, quer filosóficas quer religiosas, nos ensinam a ser lentos a julgar e rápidos a perdoar, e a abrandar para recuperarmos o controlo mental – ou seja, exatamente o contrário do que fazemos na internet e, em particular, nas redes sociais.
Mas suspendamos o pessimismo: afinal, as coisas podiam ser muito piores. Ainda há público para podcasts longos, ainda há livros grandes nas livrarias e até há leitores com paciência para lerem textos longos e que apelam a um pensamento lento: resistamos.
PS: Em março de 2019, publiquei o meu primeiro texto no Observador e nos últimos cinco anos tenho escrito textos tantas vezes longos demais, mas que tantas pessoas têm tido a paciência de ler. Agradeço muito a esses leitores, e os comentários que me fazem chegar.