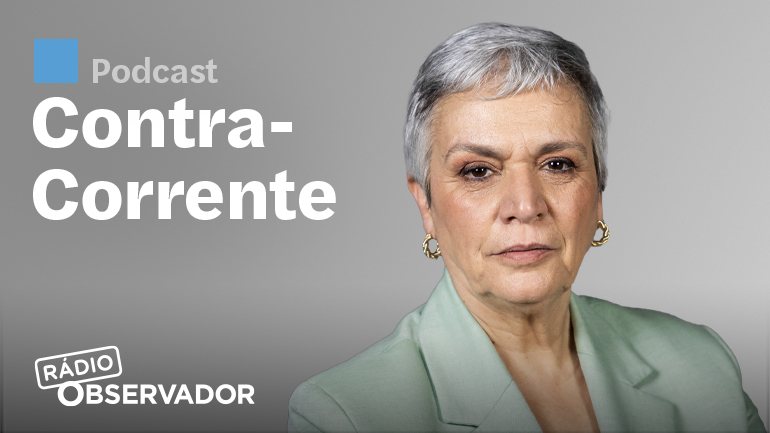É verdade que o racismo é um problema mundial, nomeadamente nos Estados Unidos da América, onde a convivência entre as diversas etnias nem sempre foi, nem é, pacífica. Não é preciso recuar muitos anos para recordar a política de extermínio dos índios, ou para encontrar legislação racista, sobretudo nos Estados do sul. Ultrapassada a segregação legal, a discriminação social não é tão fácil de superar, muito embora a eleição de Obama possa ter contribuído para uma maior aceitação social das pessoas de cor.
Na sociedade portuguesa, também nem sempre houve um bom entendimento com outras raças e religiões. Recorde-se que o Estado, por entender que judeus e muçulmanos punham em causa a independência e coesão nacional, obrigou-os à conversão à religião cristã, sob pena de expulsão do território nacional.
No nosso país, para se pertencer a uma ordem de cavalaria, era necessário não ter ascendência judaica ou mourisca. Se esta era a lei, a realidade social era diferente. Não só ao nível do povo se deram uniões entre portugueses de diferentes etnias e religiões, como também entre as principais linhagens do reino, a começar pela própria família real.
Com efeito, pelo casamento de D. Dinis com a Infanta Isabel de Aragão, a Rainha Santa, a Casa Real portuguesa passou a ter, entre os seus mais remotos antepassados, o próprio Maomé. Assim sendo, descendem do ‘profeta’ todos os reis portugueses posteriores ao Lavrador. Não foi um caso único: D. Luís de Lancastre, filho do 2º Duque de Coimbra e neto paterno de D. João II, casou com Madalena de Granada, que era neta paterna de Muley Hassam, Rei de Granada. Deles descende a mais ilustre fidalguia portuguesa que, pelo menos por esta via, tem sangue mouro.
Outro tanto se pode dizer em relação aos judeus: é difícil encontrar alguma família portuguesa que não tenha alguma ascendência judaica. Tal parentesco deveria ser, para um cristão, motivo de orgulho, na medida em que o faz primo de Jesus Cristo.
E em relação aos negros? O Padre António Lourenço Farinha conta, na sua monografia sobre D. Afonso I, Rei do Congo, uma interessante história. Portugal era então a principal superpotência marítima, e aquele monarca africano um mero chefe tribal. Não obstante, “D. Afonso considerava-se no mesmo nível de D. Manuel I, a quem se dirigia como ‘Rei para Rei’ (carta de 31 de Maio de 1515), ao que não se opunha o soberano de Portugal.”
Foi em 1483, quando reinava D. João II, que Diogo Cão chegou à foz do rio Zaire, também chamado rio Poderoso, onde ergueu um padrão. “Se julgou logo necessário trazer para Portugal alguém que pudesse aprender o português e servir mais tarde de [intérprete da] língua” nativa. Foi assim que Diogo Cão “resolveu trazer consigo quatro pretos [sic] dos que afoitamente foram a bordo”. Restam algumas dúvidas quanto ao modo como foram requisitados para esta missão: se foram a bordo “afoitamente”, podem ter aceite livremente esse desempenho, mas também pode ser que, para tal, tenham sido induzidos, senão mesmo forçados.
“Correu feliz o regresso dos navios a Portugal. A chegada dos congueses [sic] causou viva e grata sensação em Lisboa, sem exceptuar a corte, então em Beja. Baptizaram-nos em breve, servindo de padrinhos de Cassuta, jovem da nobreza indígena, D. João II e Aires da Silva, seu camareiro, que lhe deram o nome de D. João da Silva; os restantes foram apadrinhados por alguns fidalgos portugueses”. Portanto, não só foram de imediato reconhecidos iguais, em natureza e condição, aos outros cidadãos, como foram até equiparados à principal nobreza do reino.
“No Congo, porém, não havia regozijo neste tempo, sucedia [até] exactamente o contrário: o Manicongo (ou melhor, Muéni-Congo, o Senhor do Congo), descontente com o embarque forçado dos referidos pretos [sic], substituiu os festejos e atenções com os brancos por insultos e desprezo”.
Felizmente, o mal-entendido não durou muito: “as quinze luas marcadas e os navios de Diogo Cão fundeiam de novo no rio Poderoso, cumprindo religiosamente a promessa feita. Os quatro pretos [sic] desembarcaram e apareceram na terra natal, bem anafados e elegantemente vestidos, como se fossem brancos [sic] de alta categoria. Ao vê-los assim, enroupados e falando português, o contentamento dos seus parentes e amigos atinge o delírio e a simpatia pelos brancos [sic] não tarda em renascer e aumentar entre os indígenas”.
Apesar da condenável violência, ou engano, a que alegadamente se ficou a dever o embarque forçoso destes nativos, não houve, contudo, nenhuma discriminação racial. Recorde-se que se está a mencionar um acontecimento de há mais de quinhentos anos: ainda não tinham chegado à América do Norte os primeiros negros – por sinal, em condições verdadeiramente deploráveis – e Portugal já dava ao mundo um exemplo de respeito pela comum dignidade de todos os seres humanos, qualquer que seja a sua raça.
Neste caso, não consta que os portugueses tenham imposto, pela força, a fé cristã. O Rei Manicongo foi baptizado, recebendo o nome de D. João, por ser o do então monarca lusitano, e sua mulher, a Rainha Mani-Mombada, também foi recebida na Igreja, com o nome da então Rainha de Portugal, D. Leonor. Que o rei congolês o tenha feito com toda a liberdade prova-se pela sua posterior apostasia, “seguindo-lhe o exemplo fidalgos e plebeus recém-batizados”, por não aceitarem o preceito evangélico da monogamia. Dos seus filhos, se o herdeiro ao trono, Mbemba-a-Nazinga, ou D. Afonso I, se baptizou e manteve cristão, Mpanzu-a-Quitima nunca o quis ser, mesmo antes da apostasia paterna.
Infelizmente, esta gloriosa página da nossa História não permite esquecer episódios infelizes da expansão, nem branquear a conivência portuguesa com o tráfico de escravos. Mas, embora não sirva de desculpa, muito antes de Portugal permitir a escravatura, já a exerciam, em larga escala, árabes e africanos, bem como, na América, os impérios anteriores à colonização castelhana.
É bom saber que, nos Estados Unidos da América, se combate o racismo e, finalmente, se reconhece que “Black lives matter”. Mas, há mais de quinhentos anos, o Rei de Portugal já conhecia e aplicava esse princípio, dando ao mundo uma extraordinária lição de não discriminação.
Recentemente, o actual Rei Philippe da Bélgica, sentiu-se na obrigação de deplorar, em carta a Félix Tshiesekedi, Presidente da República Democrática do Congo, por ocasião do 60º aniversário da independência deste país, os excessos havidos quando era uma colónia belga. Pelo contrário, o Chefe da Casa Real portuguesa, D. Duarte, Duque de Bragança, não só não precisa de imitar o gesto do seu primo, o Rei dos belgas, como se pode gabar de que os seus antepassados, os Reis D. João II e D. Manuel I, embora não imaculados, não podem ser acusados de racistas. Com efeito, há quinhentos anos, já se dirigiam aos monarcas congoleses com a mesma deferência com que tratavam os soberanos europeus, ou seja, de ‘Rei para Rei’, como irmãos e chefes de dois povos iguais em dignidade.
Em vez de destruir estátuas, porque não levantar um monumento à memória de D. João II, o ‘príncipe perfeito’, que os Reis Católicos cognominaram, com admiração e talvez alguma inveja, ‘o homem’?! E, já agora, também ao Rei D. Afonso I do Congo, extraordinário monarca africano e grande amigo de Portugal.