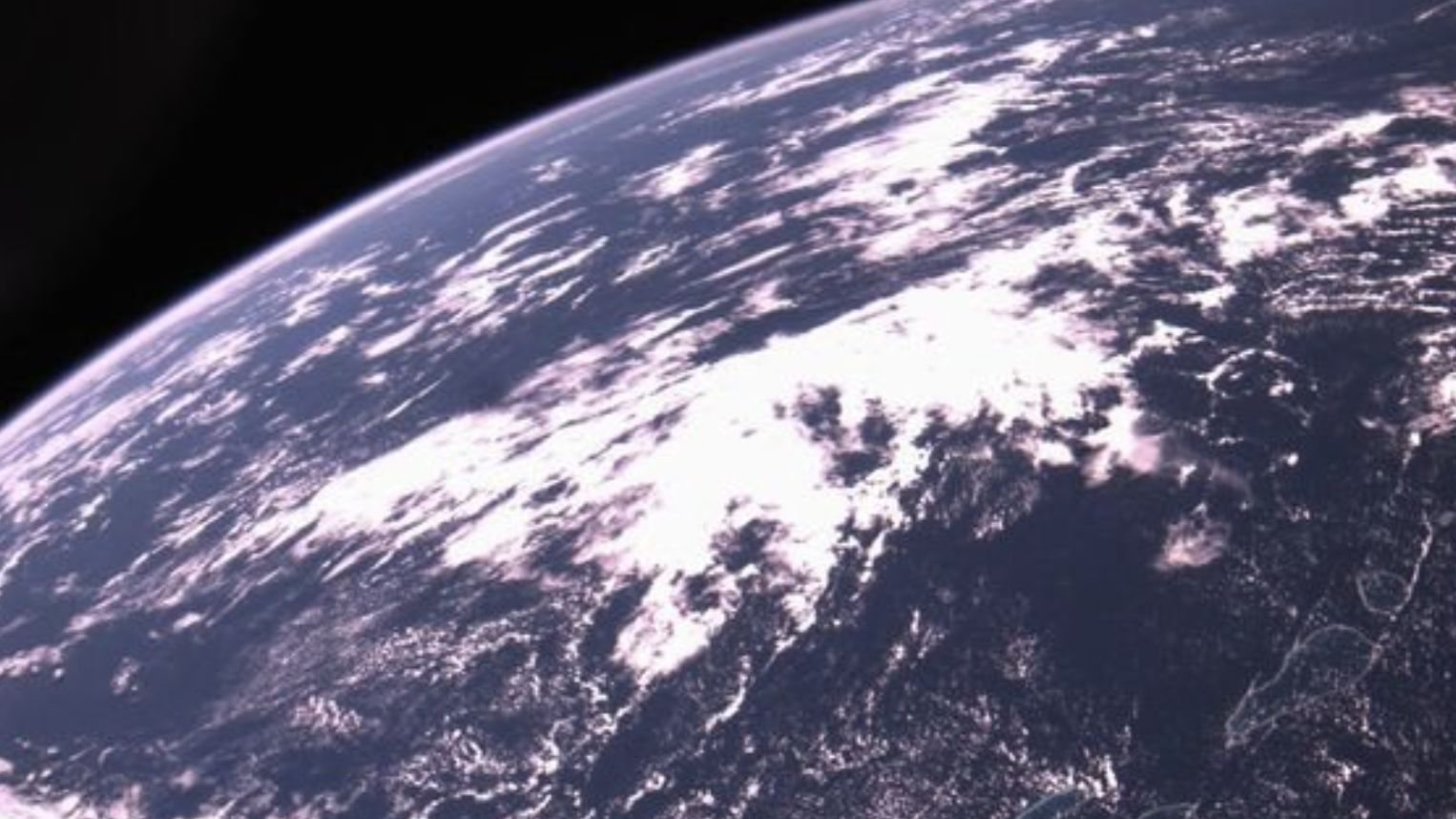“O valor (certamente muito alto) da Quinta foi-lhe fornecido pelo próprio Estado, quando este decidiu que na Quinta seria permitido construir com uma determinada densidade. Ou seja, os proprietários da Quinta enriqueceram, não por seu próprio mérito e trabalho, mas tão-somente por uma decisão do Estado – que naquela quinta específica seria permitido construir muito. Portanto, em rigor, não se trataria de expropriar nada, mas somente de o Estado retirar a um proprietário algo (a capacidade construtiva) que anteriormente lhe tinha oferecido… não concebo que seja concedida ao proprietário da quinta autorização para construir, sem que primeiro esse proprietário adquira ao Estado o valor do direito de construção, ou seja, a diferença entre o valor do terreno com direito de construção e o valor do terreno rústico. Caso contrário, o que se passará será o Estado estar, efetivamente, a oferecer dinheiro aos proprietários da Quinta… Num país civilizado, o Estado não fabricaria dinheiro desta forma, nem o ofereceria desta forma a quem bem lhe apetece. Num país civilizado, o Estado, se quisesse urbanizar a Quinta dos Ingleses, expropriá-la-ia a preço de terreno florestal, faria um plano de pormenor, e depois venderia o terreno a preço de urbano a quem se oferecesse para levar a cabo esse plano de pormenor. Foi assim, aliás, que o Estado salazarista procedeu para construir muitos bairros de Lisboa: expropriou a preço rústico, fez o plano de urbanização, e depois vendeu a quem se propôs executar o plano. Esta coisa de o Estado andar a fabricar ‘direitos adquiridos’ como quem fabrica dinheiro, para depois oferecer esses “direitos adquiridos” àqueles de quem gosta, faz-me espécie.”.
Estes comentários dizem respeito a uma discussão sobre a Quinta dos Ingleses, em Carcavelos, e perecem-me a perfeita ilustração de um erro de ordenamento do território que tem conduzido à progressiva degradação do valor social da ideia de ordenamento do território, tal como ela é hoje aplicada em Portugal.
Esta degradação de valor social é tal que tanto no Conselho Estratégico Nacional do PSD, como no programa eleitoral da AD, como na estrutura do governo, como ainda no programa do governo, a ideia de ordenamento do território está praticamente ausente (tal como a ideia de conservação da natureza), o que há uns anos seria uma coisa escandalosa e com custos políticos elevados, ao contrário do que acontece hoje.
Tanto quanto me parece, a mim que defendo a revogação de praticamente toda a política e legislação de ordenamento do território, é que não se trata de uma opção política, mas da simples ausência de pensamento consistente sobre o assunto (tal como acontece, infelizmente, com a gestão do fogo, com um aparente recuo autárquico-bombeiral, que pagaremos mais tarde, se a realidade não acabar por impor uma visão mais contemporânea da gestão do fogo).
A impressão que me dá (não válida para a questão do fogo) é que já ninguém parece estar verdadeiramente interessado nessas políticas, fora de nichos profissionais muito limitados.
A raiz deste desinteresse parece relacionar-se com um erro conceptual que está bem evidente nas citações com que comecei o artigo, o que procuro demonstrar daqui para frente.
Em Portugal, as ideias e as práticas de ordenamento do território (e, já agora, de conservação da natureza, embora de forma menos determinante) foram muito influenciadas pela escola de arquitectura paisagista a que pertenço.
Na base está a ideia de “continuum naturale”, desenvolvida por Caldeira Cabral e unanimemente reconhecida pelos seus alunos que formataram, na origem, as políticas de ordenamento do território que hoje conhecemos.
A ideia de continuum naturale é uma ideia funcionalista, isto é, reconhece o carácter de permanente mutação do mundo, e o que pretende é garantir a continuidade funcional dos sistemas naturais.
Não é, pois, de espantar que Álvaro Dentinho, provavelmente o mais criativo arquitecto paisagista dessa geração inicial e, seguramente, o mais desassombrado, tivesse referido, aqui e ali, que a criação do Parque Florestal de Monsanto tinha sido um erro.
A sua ideia, em tese, inatacável, era a de que Monsanto tinha muito boa aptidão urbana, o que é um facto, e retirar-se a essa área a possibilidade de ser urbanizada, aumentava a pressão para a construção nos vales de Benfica, Alcântara, da Almirante Reis, etc., que, esses sim, deveriam ter sido conservados como um sistema circulatório de base natural, no conjunto da cidade de Lisboa.
Na base dos instrumentos mais conhecidos da nossa política de ordenamento do território, a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica Nacional, está esta ideia de continuidade dos ciclos da água e dos nutrientes como mecanismos que garantem a fluidez dos valores naturais por todo o território.
A ideia é testada no Plano de Ordenamento Paisagístico do Algarve, de Viana Barreto – o mais sólido e agregador elemento dessa escola de arquitectura paisagista -, Álvaro Dentinho e Albano Castel-Branco, que é dos inícios dos anos 60 do século XX e que na verdade vai ser o modelo que Viana Barreto vai usar, quando tem a responsabilidade de tutela do ordenamento do território, para desenhar a legislação das reservas já referidas e dos Planos Directores Municipais.
Ribeiro Telles é, nessa altura, o polo político que permite transformar as ideias que vinham a fermentar nesse pequeno grupo de técnicos (a que é preciso juntar Ilídio de Araújo, que não citei anteriormente) e com a sua reconhecida capacidade para aproveitar oportunidades e estabelecer pontes, transforma em legislação o que eram conceitos técnicos e de intervenção na paisagem.
Todos os citados eram também projectistas de parques e jardins, e todos eles lutavam ferozmente pela defesa de uma arte dos jardins sustentável – a palavra não era usada ainda -, assente em boa ciência e numa gestão e manutenção que pudesse perdurar no tempo.
No que diz respeito à arte dos jardins, grande parte das suas carreiras profissionais fez-se lutando contra uma arte dos jardins dominante, com base em batalhões de jardineiros que se empenhavam em contrariar a evolução natural dos sistemas, usando espécies exóticas e, por vezes, difíceis de manter sem cuidados constantes, usando extensivamente podas, criando sistemas de rega fortemente dependentes de energia e cuidado constante.
A ideia de todos eles era a de que era preciso compreender os processos naturais e desenhar parques e jardins que tirassem partido desses processos, moldando-os o mínimo possível para atingir os objectivos pretendidos, de forma aumentar grandemente a probabilidade do jardim, evoluindo como previsto a partir do conhecimento dos processos naturais, atingir o seu apogeu no futuro.
Infelizmente, na passagem do jardim e do parque para a escala da paisagem, bem ao sabor da época, adoptaram como base um equívoco, o de que o dono da paisagem era o Estado e não a comunidade actuando da forma mais livre possível.
Não é verdade que alguma vez tenham escrito isto e, em teoria, os conceitos de participação, de integração das necessidades das comunidades, etc., estavam sempre presentes, mais em Ilídio de Araújo quem em todos os outros, embora todos acolhessem a ideia de que os planos eram feitos para as pessoas, que chegou ao ponto de escrever que o mais importante do processo de planeamento seria o que restaria se no dia da sua apresentação um mafarrico qualquer queimasse todos os seus elementos materiais.
A comparação entre o diploma legal que cria a Reserva Ecológica Nacional, aprovado no último conselho de ministros de um governo em gestão há seis meses, depois dos partidos que o suportavam terem perdido as eleições, e uns dias antes da tomada de posse do governo seguinte, e o que mais tarde, para lhe dar eficácia, foi feito a partir desse diploma inicial, dá bem conta da enorme inflexão que se deu na política de ordenamento do território à boleia da ideia de que é ao Estado que compete definir usos do território.
No diploma inicial os usos em cada componente da Reserva Ecológica Nacional deveriam ser adaptados à sua vocação, de modo a garantir a conservação das funções que justificavam a sua integração nessa reserva, mas nos diplomas subsequentes há um regulamento uniforme a aplicar a situações completamente distintas – tão distintas como uma encosta com declive superior a 25%, que não justifica grandes restrições de uso, ou uma duna, um sistema particularmente sensível – o que é a negação do ordenamento do território, cujos objectivos se prendem com a necessidade de adequar cada uso às diferentes características das diferentes partes do território.
Tal como na citação com que começo este artigo, aceitou-se o princípio de que a capacidade de construção num terreno não está incluída no direito de propriedade, pelo contrário, parte-se da ideia de que é legítimo que o Estado confisque para si o direito de construção em propriedades de terceiros.
Não há nada de especificamente português nesta ideia, ao longo do século XX o papel do Estado na urbanização deixou de ser o regulador dos conflitos de vizinhança (por exemplo, proibindo o bloqueio de acessos ou impedindo acções de um proprietário que prejudicasse directamente o usufruto normal do terreno do vizinho), ou o de provedor de serviços de interesse comum, como o acesso, a limpeza ou a gestão dos espaços colectivos, para passar a ser o de promotor e árbitro da urbanização.
Quando António Costa diz que o problema da habitação é um problema generalizado na Europa, tem toda a razão, o Estado, ao chamar a si o monopólio de decidir sobre a construção (directamente ou por via regulamentar), acabou por gerar um problema de escassez a que o mercado não pode dar resposta sem autorização do Estado.
Se é verdade que a construção estritamente determinada por mercados livres, como nos bairros clandestinos, gera problemas, não é menos verdade que a urbanização feita pelo Estado também pode gerar situações imensamente degradantes, como na grande parte dos maiores bairros sociais pela Europa fora, ou na generalizada escassez de habitação que caracteriza as grandes cidades europeias.
As paisagens ordenadas que sempre serviram de modelo e demonstração das ideias que nos trouxeram até aqui, por simplificação de linguagem, as paisagens tradicionais, não foram ordenadas orientadas pelo bem comum, foram orientadas com princípios económicos de satisfação de necessidades individuais e comunitárias.
Se os solos agrícolas não eram ocupados por construções, era porque eram necessários à produção de alimentos, os que os tornava muito mais valiosos que um monte de pedras que poderia ser usado para construção.
Os caminhos mantinham-se funcionais porque todos precisavam de passar e se punham de acordo com a sua delimitação.
Os espaços comuns eram espaços comuns porque faziam parte das necessidades comunitárias.
O Estado, até muito tarde, não metia aí prego nem estopa.
Ao estabelecer uma distinção entre as propriedades em que se pode construir e aquelas em que não se pode (o mesmo para os outros usos que o Estado condiciona através dos planos), o Estado interfere no valor relativo dos terrenos, abrindo espaço à corrupção, à escassez e ineficiência dos mercados na resolução dos problemas das pessoas comuns.
Por mim, como disse acima, pode-se mandar às malvas quase toda a legislação de ordenamento do território e mais ainda as políticas de aplicação de regras administrativas a que hoje se chama ordenamento do território, pelas razões que tentei clarificar neste artigo.
Compreendo que a ineficácia e, frequentemente, a injustiça associada às políticas de ordenamento do território, tenham acabado por lhes diminuir o apoio e visibilidade social, à medida que as excepções, legais ou ilegais, acabam por ter mais espaço que as regras.
O que tenho mais dificuldade em aceitar é que a política de ordenamento do território (e de conservação, e de gestão do fogo) deste governo pareça reduzir-se a não pensar nisso.