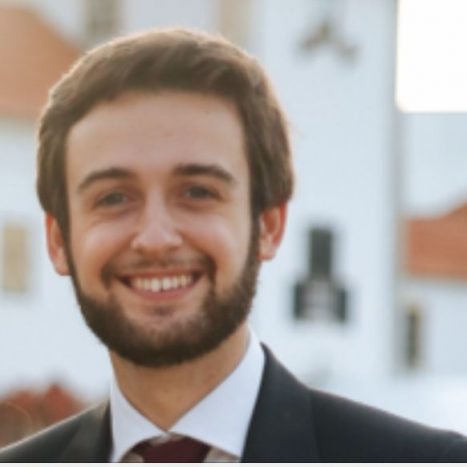George Steiner (que morreu esta segunda-feira, 3 de fevereiro, com 90 anos) foi uma espécie de encarnação contemporânea da Viena do fim do século XIX. Tinha o gosto omnívoro que excitava a geração de Stephan Zweig, a consciência formada pela análise ao seu judaísmo abandonado, o mesmo sentimento de pertença, mais do que a uma nação, à Europa e o tom sofisticado do grande centro intelectual de fins de oitocentos.
Ao mesmo tempo, aquilo que os grandes detratores de Viena, com Kraus à cabeça, criticavam no mundo intelectual da cidade, parece ter atormentado Steiner ao longo da vida. Steiner escreveu sobre quase toda a cultura europeia e encontrou interesses e afinidades em quase tudo. De Bach a Jospeh de Maistre, de Frege a Kierkegaard, toda a alta cultura, nas suas ideias mais contraditórias e nas suas expressões mais antagónicas, foi para Steiner motivo de reflexão.
E se, de facto, a sua extraordinária capacidade evocativa embeleza os seus ensaios a ponto de ser quase acessório o assunto de que tratam, a verdade é que, como no mundo que pariu Hitler e Mahler ou Freud e Dolfuss, se torna difícil responder à pergunta: afinal, o que queria Steiner dizer?
Morreu o crítico e ensaísta George Steiner, um dos maiores pensadores contemporâneos
Era sempre interessante segui-lo pelos cafés de Voltaire e pelos passeios de Kant ao redor de Konigsberg, descer ao território quase místico do judaísmo medieval ou entrar na lógica esforçada da música polifónica; mas estas incursões, por si só, não fariam de Steiner mais do que um guia turístico da cultura europeia. Steiner pode aparecer como um porteiro de todas as escolas e correntes filosóficas e estéticas, mas a quem o interesse por todas impediria os seus próprios escritos de ter um interesse mais do que circunstancial. Como Kraus acusava o mundo intelectual de Viena, não é possível acreditar em tudo ao mesmo tempo. A tolerância como credo é desinteressante porque apaga o Homem. Entre o idealismo alemão e a filosofia analítica, ou entre a psicanálise e o iluminismo, onde estaria Steiner? O mito do judeu apátrida toma em Steiner um sentido ao mesmo tempo histórico e intelectual: Steiner foi mais um dos judeus a quem a guerra obrigou a fugir para a América, onde construiu o princípio da sua vida académica, antes de voltar para a sua amada Europa; mas foi também um verdadeiro apátrida do pensamento, em quem nenhuma ideia pareceu ser suficientemente forte, nem seguida em todas as suas consequências.
Não é por acaso que o seu grande trabalho académico, e aquele que Steiner considerava o mais capaz de resistir ao tempo, é Depois de Babel, um trabalho técnico e exaustivo sobre tradução e línguas comparadas.

A edição da Relógio d’Água de “Depois de Babel”, de George Steiner
No seu episódio de Of Beauty and Consolation, Steiner usava o exemplo das duas folhas, que Leibniz dá para explicar a importância dos juízos analíticos. Duas folhas, mesmo que aparentemente iguais, ou dois flocos de neve, têm alguma coisa que os torna ontologicamente diferentes. Embora todos os signos de representação que temos nos deem sinais da mesma folha, embora o nosso ponto de vista esteja formatado para encontrar o comum, a verdade é que é a diferença que lhes dá identidade. Steiner evocava a passagem de Leibniz para explicar a sua própria aventura intelectual e aquilo a que Depois de Babel procura dar resposta. Como é que, na passagem de uma língua para outra, ou na transmissão da mesma ideia de uma pessoa para outra, a obra de arte ou a História adquirem contornos tão diferentes?
Isto para Steiner era importante até porque ia ao encontro da sua personalidade. A busca do sentido, da identidade, não naquilo que é substancial, mas na pequena diferença, naquilo que se altera com a tradução ou com o tempo, deu a Steiner a hipótese de uma resposta à aparente falta de sentido no gosto de Steiner por tudo e pelo seu contrário.
O que lhe interessava não era tanto a substância das ideias, essa substância que o obrigaria a escolher entre a razão de Husserl e a razão de Voltaire, mas a transferência.
Depois de Babel não é o seu único livro sobre a tradução; em várias coletâneas de ensaios, desde As Artes do Sentido ao No Castelo do Barba Azul, vemos que o tema fundamental é este: o que é que, como acontece na tradução, se perde e se ganha com a tradução.
Esta pergunta casa admiravelmente com a forma dos seus ensaios. Steiner não era um historiador das ideias no sentido tradicional, que alinha correntes ideológicas de uma maneira mais ou menos lógica. É, de facto, difícil encontrar uma sequência exclusivamente lógica nos ensaios. No entanto, aquilo que parece apenas um name-dropping ou uma conversa desorganizada ao sabor da memória tem, na verdade, uma consistência maior. Não lhe interessava, de facto, elencar tudo o que Schopenhauer deve a Kant ou Kierkegaard a Hegel. O que lhe interessava era ver a manifestação das mesmas ideias a ter resultados diferentes, fosse nas reações filosóficas, fosse nas práticas. Em certo sentido, Steiner transformou os áridos estudos académicos da “receção” de uma ideia ou de um autor num país ou numa época, numa narrativa muito mais fluída e empolgante.
Os exemplos deste método são incontáveis. O seu conhecidíssimo ensaio sobre A ideia de Europa obedece a isto mesmo. Não se trata de um antagonismo à Novalis, ou de mais uma repetição dos pilares a que cada fação ideológica gosta de dar mais ênfase, entre a filosofia Grega, o Direito Romano e a Religião Cristã; os pilares em que Steiner escorou a Europa são mais prosaicos e, ao mesmo tempo, reveladores da sua personalidade. Entre a tendência escatológica e outras características mais filosóficas, segundo Steiner a Europa é formada pelos cafés e pelas curtas distâncias, que permitem a circulação rápida de ideias e os passeios até entre países.
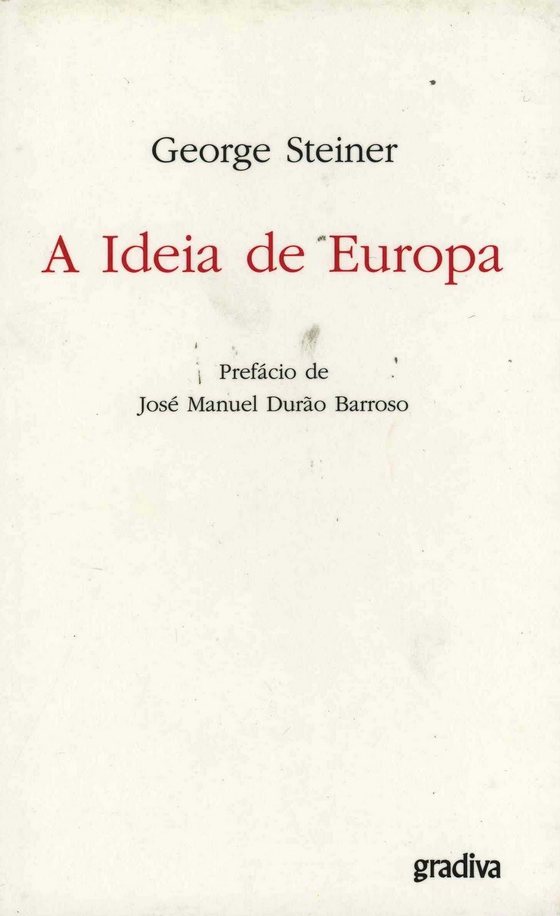
A capa de “A Ideia de Europa” na edição da Gradiva, com prefácio de José Manuel Durão Barroso
No Castelo do Barba Azul, as suas notas para redifinir a cultura, num diálogo com as notas de T. S. Eliot, o método também é o mesmo. Embora tenha sido Harold Bloom a escrever A angústia da Influência, é em Steiner que o tema da influência é omnipresente. O que é que há em nós capaz de transformar uma ideia só com a simples passagem dela pelas nossas mãos ou pelo nosso território? O que é que, numa ideia que deveria ter um sentido independente, que deveria ter a propriedade de ser analisada pela lógica, leva a diferenças de interpretação ou de entusiasmo? Os ensaios de Steiner são uma subtil crítica ao racionalismo estrito, por demonstrarem que os nossos processos de aceitação de ideias dependem de muito mais do que da lógica. Estão, quase sempre, imersos numa cultura que tem muito mais poder sobre nós do que aquele que gostamos de admitir.
No Castelo do Barba Azul, por exemplo, Steiner explica de que forma a ideia de queda está presente na cultura pós-moderna, evocando já não um paraíso edénico, mas tendo o século XIX como o grande tempo. Todas as utopias e correntes ideológicas se fazem em diálogo com o tempo que o século XIX nos trouxe; no entanto, isto não prova a novidade do século XIX, mas sim até que ponto a estrutura da grande catástrofe responsável pela destruição de um estado de coisas melhor ainda conforma o nosso pensamento.
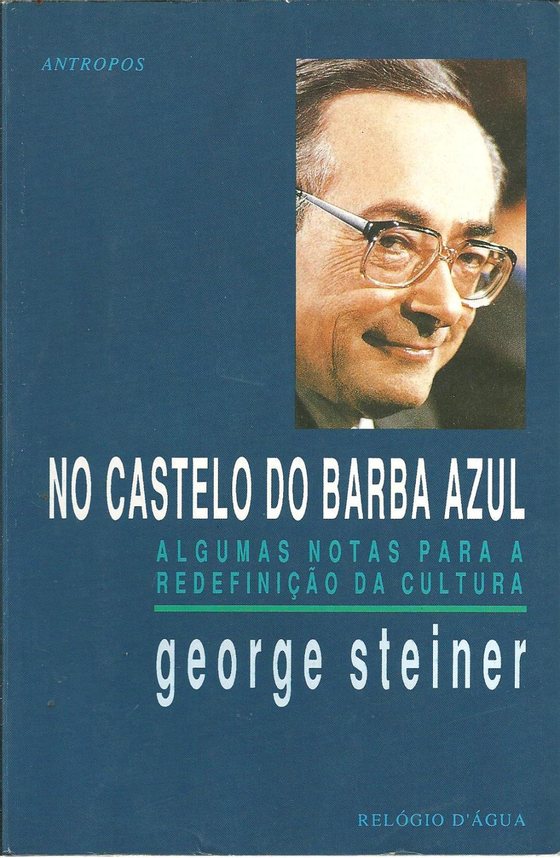
“No Castelo do Barba Azul”, de George Steiner (Relógio d’Água)
Ora, esta noção tão aguda em Steiner de que o pensamento é conformado por uma série de sinais exteriores e aparentemente marginais tem uma consequência na sua maneira de olhar para o mundo. Para Steiner, a maneira de perceber o pensamento passava pela auscultação desses sinais que provocam a mudança, o que o leva a atribuir uma importância inigualável aos símbolos e às tradições literárias. Se o pensamento é, por si só, incapaz de traçar toda a sua genealogia e de se expressar sem o auxílio de outras formas que, seja por metáforas, seja por símbolos, revelem aquilo que o espírito tem dificuldade em expressar, então convém conhecer estes símbolos e estas tradições para conseguir arrancar o espírito à banalidade comum e para conseguir perceber as suas subtilezas.
A ideia de que estamos a assistir, no mundo, ao triunfo da técnica e da especialização sobre o conhecimento abrangente, e de que é essa abrangência a única ferramenta que temos para perceber o pensamento que se expressa de várias maneiras, dá à Europa de Steiner uma espécie de sentença de morte. De facto, os seus ensaios têm um tom elegíaco, mostram um mundo em que as grandes obras de arte e do pensamento são realizações heróicas para um mundo que está a perder a capacidade de as compreender e, com isso, a capacidade de se conhecer a si próprio.
Este tom de despedida faz de Steiner uma espécie de Chateaubriand da Europa intelectual. Maurras acusava Chateaubriand de não ser um verdadeiro detrator da Revolução Francesa; Chateaubriand, na verdade, não amava o Antigo Regime, amava a sua decadência, pelo que não queria o regresso do seu esplendor. Em Steiner há qualquer coisa parecida. Embora Steiner nunca tenha escondido o seu lamento por já não se treinar a memória nas escolas, ou por termos perdido a capacidade de dialogar com os séculos na interpretação simbólica, os seus textos têm o perigo de todas as boas elegias. O elogio fúnebre é tão bonito que, para que ele continue, quase desejamos a morte daquilo que amamos.