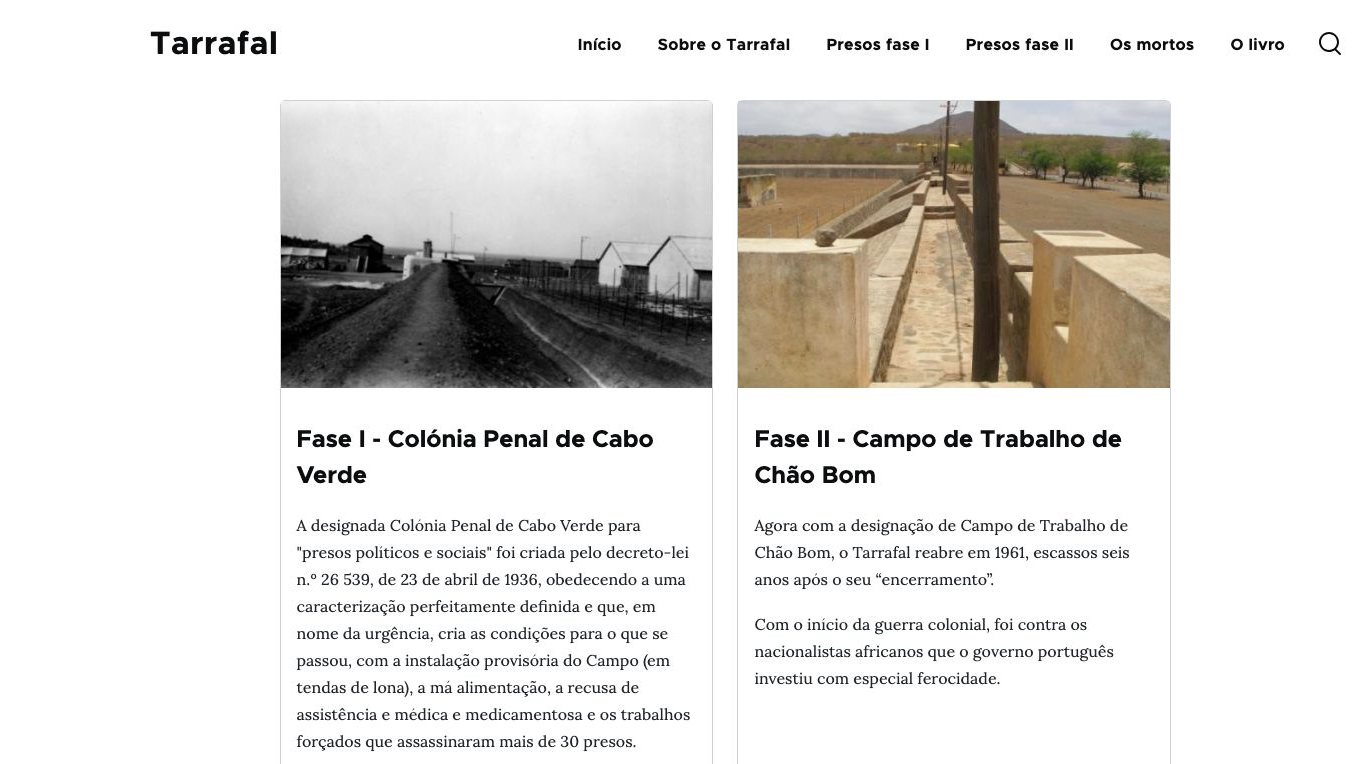O porta-voz dos presos políticos na cerimónia dos 50 anos da libertação do Tarrafal, em Cabo Verde, diz que falta cuidado em preservar o campo de concentração e que há esforços “de apagar a memória” da luta de libertação.
O antigo embaixador cabo-verdiano Luís Fonseca considera “excelente” a comemoração com os quatros países (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Portugal) no dia 1 de maio, no campo de concentração, mas diz que, depois das datas redondas, não tem havido atenção.
O antigo secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entre 2004 e 2008, até foi dado como morto pela funcionária à entrada do Museu da Resistência, nome atual da prisão, da última vez que visitou o espaço.
“Há uma razão sentimental para, de vez em quando, fazer essa visita com a minha mulher e filha: ela nasceu e, pouco tempo depois, quando já estava em condições de poder viajar, foram ao Tarrafal para eu a conhecer”, recorda, em entrevista à Lusa.
A última visita em família foi em 2023.
“Voltei-me para a jovem que estava a atender o público e perguntei-lhe: já ouviste falar de Luís Fonseca” e a resposta foi “não”.
Não se identificou logo, explicou que estava a falar de um dos presos políticos cabo-verdianos e o que ouviu a seguir, perturbou-o: “Ela disse: já morreram todos. E eu disse que não, que sou um deles. Ela olhou para mim com um ar pouco crédulo”.
“Quando um dos sobreviventes vai ao Tarrafal e lhe afirmam que ele está morto, dá para rir e dá para pensar relativamente ao empenho que realmente existe em preservar a memória”, diz.
“Isto é um bocado triste, mas penso que, muitas vezes, de forma deliberada ou não, há um esforço no sentido de apagar a memória” da luta da libertação, com uma motivação de natureza política, refere.
“A memória é indispensável para a preservação da identidade, mas pode ser incómoda e perguntar-se-á: porquê? A resposta não a sei bem, só posso imaginar”, acrescentou, escusando-se a aprofundar: “imagino muitas coisas, tenho de refletir mais sobre o assunto”.
Luís Fonseca está a poucos dias de completar 80 anos e tem feito o mesmo alerta sobre falta de atenção ao Tarrafal várias vezes, desde há anos.
“O Tarrafal é de facto um símbolo do fascismo português”, da “negação de direitos” e “há um dever de memória para com os combatentes que deram a vida pela liberdade”, fazendo com que o sítio “não deva ser esquecido pelas gerações, porque representa a luta dos povos de quatro países”.
Perturba-o, sobretudo, a razão para o esquecimento, “se é de facto deliberado”, e “qual o risco de manter a memória viva? Em que pode perturbar projetos, políticas, planos? Essa é que é a questão”.
Uma questão que dirige “a todos, à sociedade, ao Governo [cabo-verdiano], obviamente, porque tem as alavancas”, dirigindo-se a todos os governos, de diferentes partidos desde a independência, que diz não terem tomado “medidas fortes no sentido dessa preservação”.
“Há uma falha grande: não há envolvimento de nenhum dos antigos presos” na formulação do museu.
“Um museu que se preze teria o cuidado de contactar os que estão vivos e seus herdeiros no sentido de colecionar lembranças. Eu tenho algumas coisas bastante interessantes”, diz Luís Fonseca.
Trabalhos esculpidos em coco pelos presos políticos, desenhos e pinturas de Pedro Martins, a tradução feita às escondidas de “O Estado e a Revolução”, de Lenine, pelo próprio Luís Fonseca, são alguns exemplos.
“Alguma vez se interessaram? Nunca. Daí a pergunta: para que serve o museu, qual o objetivo? É apenas para fins turísticos, é apenas para gerar algum rendimento? Não é algo pessoal, mas quando penso nas consequências deste esquecimento e, sobretudo, nas motivações, aí, eu fico um bocado preocupado”, concluiu.
“Tarrafal Nunca Mais” foi uma das frases que marcou a libertação do campo de concentração em Cabo Verde, mas Luís Fonseca receia que possa haver outros “tarrafais”.
“Não me estou a referir especificamente a Cabo Verde, mas, quando observamos o mundo”, não se pode “garantir que não haverá outros tarrafais” porque há sinais de grande regressão nos direitos e liberdades, diz o antigo embaixador.
“Na minha geração, tínhamos uma visão muito mais otimista do mundo, parecia que caminhava sempre num sentido ascendente, mas foi uma grande ilusão”, disse um dos mais antigos presos políticos cabo-verdianos do Tarrafal, onde esteve encarcerado entre 1970 e 1973.
Segundo Luís Fonseca, “há sempre avanços e recuos e talvez os recuos sejam muito mais profundos” do que se possa imaginar.
“Há uma grande regressão e volto a essa questão que perturba bastante, a carnificina que está a ter lugar em Gaza, em nome de uma civilização e sob pretexto de uma luta contra o terrorismo”, diz, numa alusão à resposta israelita ao ataque do Hamas, a 7 de outubro de 2023.
As regressões mostram um mundo “dominado pela força”, por oposição ao direito ou às ideias, referiu aquele que foi também secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) entre 2004 e 2008.
Por outro lado, o mundo digital “representa um avanço tecnológico importante”, mas é também “extremamente eficiente em fazer esquecer a realidade” e a “necessidade de agir”, assinala.
Há um papel manipulador semelhante ao que tentava exercer o último diretor do Campo do Tarrafal, Eduardo Fontes, que queria “reeducar” os presos políticos para a sociedade ideal, proclamada pela ditadura colonial portuguesa.
“É uma questão de consciência e de apropriação do que são os motores do mundo. Há toda a organização da sociedade no sentido das eleições, mas, no fundo, as pessoas acabam por ser condicionadas” e escolhem aquilo que é “ditado pela ignorância”, considera.
“Como é que podemos fazer para que esses diretores não apareçam entre nós, agora, e sejam até colocados por nós no seu trabalho de alienação das pessoas? Eu penso que esse é um exercício que deve ser feito por todos os que pensem que vale a pena lutar por uma humanidade mais justa e mais verdadeira”, refere Luís Fonseca.
Uma luta nem sempre fácil de encetar: na década de 60 do século passado, chamavam-lhe “doido” quando falava da independência de Cabo Verde, mas a receita de então pode ser a de hoje.
“Havia uma anestesia geral”, descreve, a par de uma “campanha permanente do regime português, que usava os cabo-verdianos como sargentos para servir de intermediários nas outras colónias”.
“Tenho a certeza que se se fizesse um referendo, aqui em Cabo Verde, em 1960, poucas pessoas iam votar na independência, porque nem se sabia o que era”, refere.
Faltava o “fermento” para fazer crescer o bolo e, sem redes sociais nem outros meios instantâneos, só havia as conversas presenciais, com cada pessoa, como única ferramenta — que tinha de ser usada com discrição.
“Éramos 250 a 300 mil habitantes, a maior parte na miséria, e a única forma [de promover ação política] era com a conversa, de forma discreta, porque entre as pessoas que tentávamos aliciar haveria informadores da PIDE, que pagavam bem para o nível de miséria que havia em Cabo Verde”, refere.
A “fermentação” era um trabalho lento em que ativistas como Luís Fonseca optavam por zonas da periferia das vilas e cidades.
“Por um lado, percebíamos melhor as dificuldades que existiam e a realidade da situação, mas também tínhamos a possibilidade de ter conversas mais francas, sobre o dinheiro que não chegava para comer, o miúdo que não podia ir à escola, a casa que estava a cair, questões concretas que permitiam encetar conversa e levar as pessoas a pensar em soluções”, diz.
Outra base para as conversas residia na “simples comparação de como viviam as pessoas mais simples e as pessoas desafogadas”.
O português, comerciante, militar, administrativo ou engenheiro, “muitas vezes tinha atitudes arrogantes para com os cabo-verdianos e tudo isso contribuía para despertar o sentido nacionalista”.
Os presidentes de Cabo Verde, José Maria Neves, Angola, João Lourenço, Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, os quatro países de origem dos presos, celebram na quarta-feira, 1 de maio, os 50 anos da libertação do Tarrafal — uma placa memorial assinala os nomes dos 36 mortos no local pela ditadura colonial portuguesa.
A maioria, 32 mortos, eram portugueses que contestavam o regime fascista, presos na primeira fase do campo, entre 1936 e 1956.
Reabriu em 1962 com o nome de Campo de Trabalho de Chão Bom, destinado a encarcerar anticolonialistas de Angola, Guiné-Bissau e Cabo Verde — morreram dois angolanos e dois guineenses.
Ao todo, mais de 500 pessoas estiveram presas no “campo da morte lenta”.