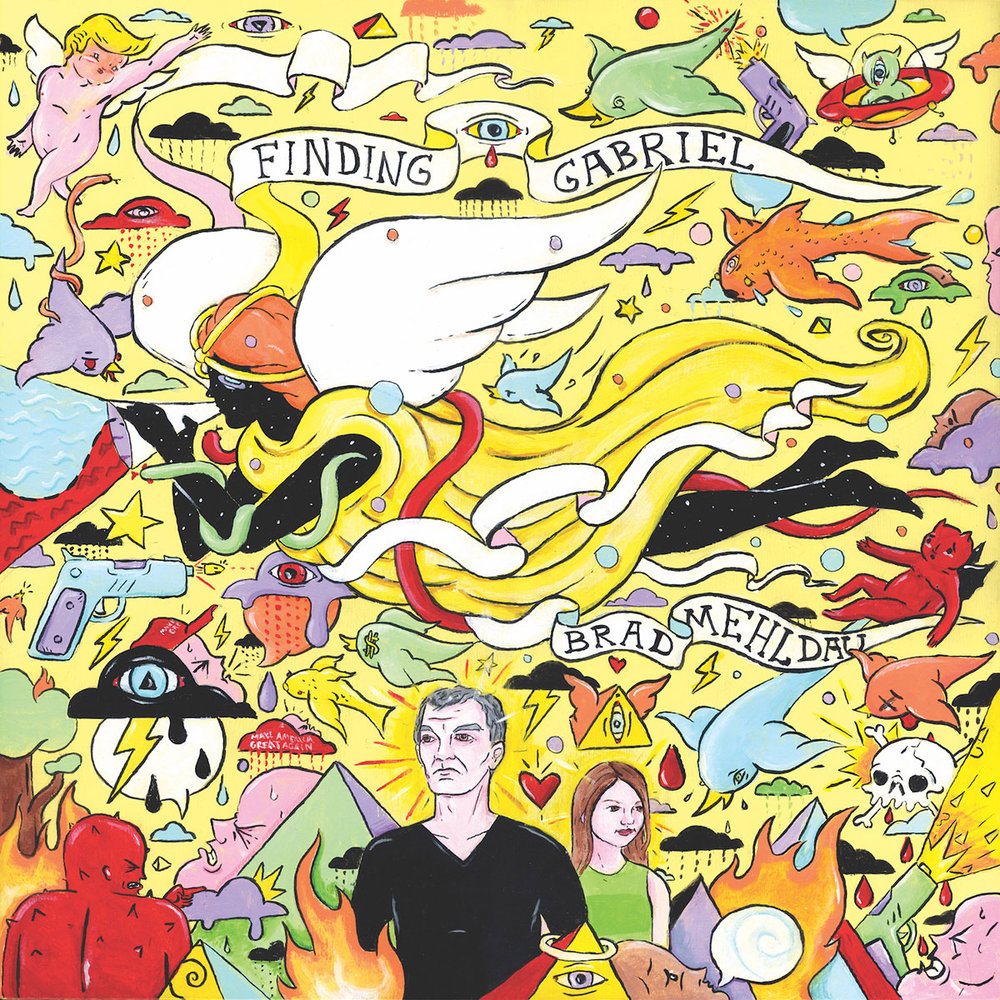Chegado o verão, é altura de fazer um check-up a 2019. O primeiro semestre do ano trouxe já um bom número de novas pérolas para ouvir e descobrir. O Observador selecionou 13 álbuns imperdíveis editados entre início de janeiro e fim de junho. Nesta lista há folk, há hip-hop, há soul, há R&B, há jazz e há até spoken word. — e há discos nacionais e internacionais, vindos do Brasil, do Reino Unido e dos Estados Unidos da América, todos eles candidatos a figurar em dezembro nos melhores menus do que se ouviu (e ainda ouvirá) em 2019. A seleção não é feita por ordem qualitativa, mas alfabética, considerando o nome dos autores: iniciamos o best-of com Bill Callahan, prosseguimos com Brad Mehldau e só terminamos com Weyes Blood. E acabamos com uma certeza: se o segundo semestre for tão bom quanto o primeiro, não será pela banda sonora que 2019 defraudará.
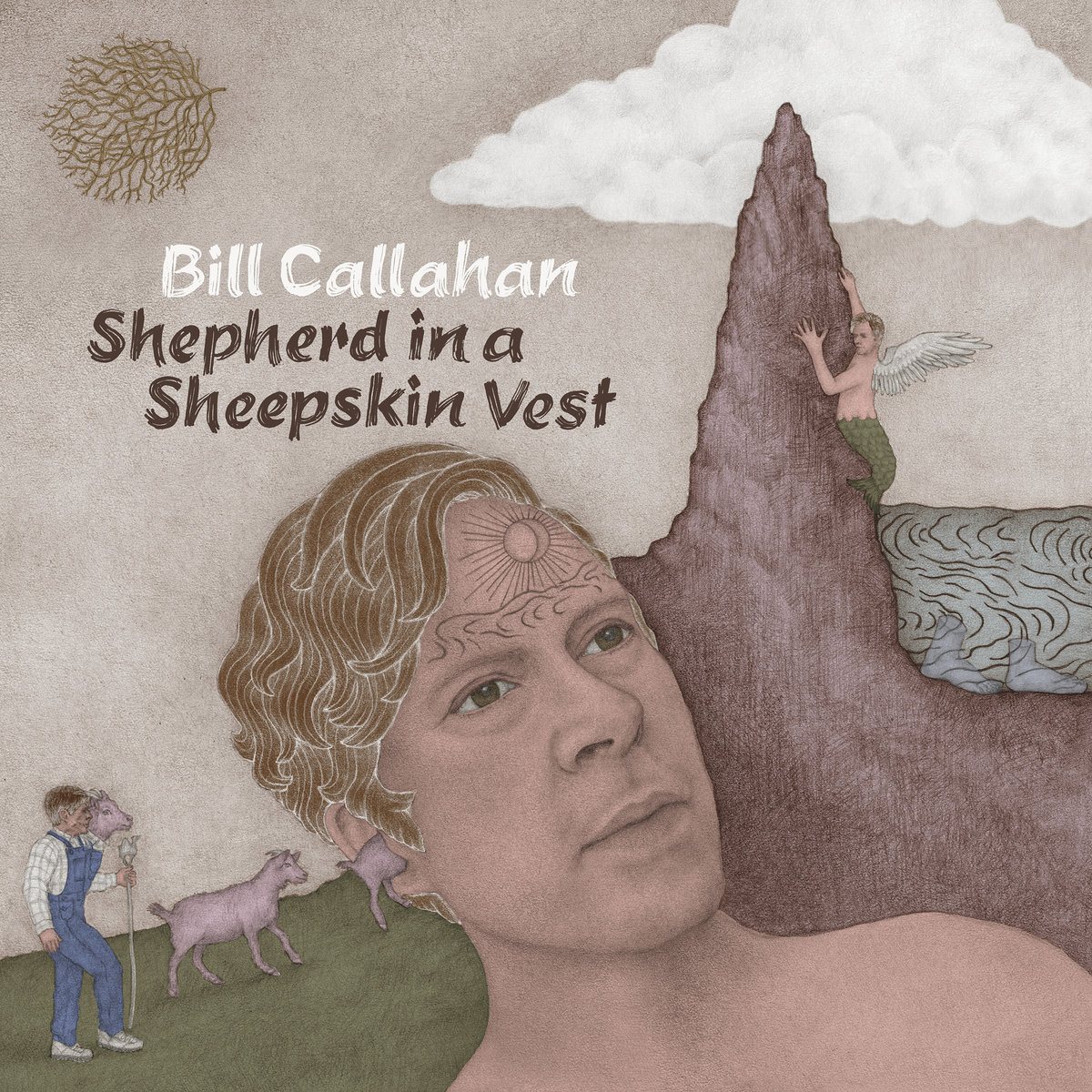
“Shepherd in a Sheepskin Vest”
Bill Callahan
Seis anos depois de Apocalypse, Bill Callahan regressa com aquilo a que podemos chamar de reflexão sobre a redenção: casado e com um filho, o ex-enfant terrible do indie rock, tantas vezes acusado de misoginia e misantropia, escreveu um disco de folk calma, que soa a uma festa no cão, uma pequena brisa a rodopiar folhas no alpendre antes de amainar e a paz regressar. Em “What Comes After Certainty”, a 11ª canção, ele canta:
“I never thought I’ld make it this far
Little old house
recent model car
and I got the woman of my dreams”
Ter uma casa, ter uma mulher, ter um filho – pertencer a um sítio, uma ideia e aproveitar quem nos rodeia antes de morrermos, é este o cerne de Shepherd in a Sheepskin Vest, que depende quase em exclusivo da guitarra acústica de mestre Bill. Em “Lonesome Valley”, um tradicional americano acerca de cada um de nós ter de encontrar sozinho o seu caminho, ouve-se a voz de Hanly Banks, sua esposa e mãe do seu filho (de quatro anos):
“Mamma and daddy loves you dearly,
Sister does and brother, too,
They may beg you to go with them,
But they cannot go for you», cantam, em dueto”
Isto é aquilo a que se chama redenção. (João Bonifácio)
“Finding Gabriel”
Brad Mehldau
O disco não fez parangonas de jornais, não extasiou críticos, não estabeleceu novas modas nem tornou géneros musicais anteriormente tidos como foleiros no novo kitsch cool: e no entanto, musicalmente, poucos álbuns deste ano poderão ombrear com a genialidade de Finding Gabriel. O impacto que teve não esteve longe, na verdade, daquele que seria expectável que tivesse um novo disco de um músico (pianista e compositor) como Brad Mehldau: alguém com mais de 25 anos de carreira, com muitos discos editados e um percurso notável no jazz norte-americano deste século.
É só mais um disco de Brad Mehldau, que importância tem? Toda. Finding Gabriel é um disco de inspiração bíblica, depois de o pianista ter passado vários anos a lê-la. É, também, um álbum que só poderia existir com toda a experiência e notoriedade acumulada: Brad Mehldau toca múltiplos instrumentos (além do óbvio piano, também sintetizadores, teclado Fender Rhodes, órgão elétrico, xilofone, bateria e mellotron, entre outros), reuniu um leque alargado de mais de uma dezena de convidados, alguns notáveis como o baterista Mark Guillana, o trompetista Ambrose Akinmusire, o saxofonista Chris Creek e a cantora Becca Stevens. Os colaboradores ajudaram a que a visão de Brad Mehldau ganhasse forma. O disco tem tons épicos e clássicos, sinfónicos e eletrónicos, melódicos e arrojados, celestiais e cósmicos, e parece estar sempre na procura de uma beleza musical escondida e por revelar.
“The Prophet is a Fool” é o single-bom bom, o comentário à atualidade política com Trump na mira, onde se ouve o jazz como resistência, como algo que assume — já não só musicalmente — urgência e vitalidade presente. Na canção, entre saxofones a ribombar acelerados, ouve-se Trump a gritar insistentemente “build that wall” para aplauso generalizado e um diálogo entre uma criança e um adulto. O adulto tenta traduzir e simplificar o fenómeno Trump à criança e tudo acaba com um expressão central: “Eles estão a voltar”. Dizer que é uma cedência à atualidade mediática talvez fosse de algum cinismo. Melhor será dizer que Mehldau quis garantir que não fica calado sobre o presente — e, assim, garantiu que até os menos atentos percebem que, tendo já ultrapassado um quarto de século de produção musical, a sua música de hoje soa tão nova quanto no início. (Gonçalo Correia)
“Western Stars”
Bruce Springsteen
No campeonato dos cantores e compositores de canções a solo, 2019 tem sido ano de boa música americana. Estão nesta lista Bill Callahan, Helado Negro, Weyes Blood, mas poderiam estar aqui também os americaníssimos Kevin Morby, Steve Gunn, Jake Xerxes Fussell, Mavis Staples, Jessica Pratt ou Daniel Norgren (o sueco mais americano de todos os suecos). Ou então somos nós que gostamos muito da canção ilusoriamente sossegada, aparentemente apaziguada mas na verdade assombrada, que convoca a tradição da folk, dos blues, do country e do gospel com mestria.
Quem não poderia deixar de estar aqui é Bruce Springsteen. O “boss” recusa-se a entrar na galeria de veteranos decadentes, a viver exclusivamente de êxitos passados. Basta a primeira canção “Hitch Hikin’” para começar a desarmar. De repente, o multimilionário continua a ser o rapaz de ganga e cabedal que anda a viajar sem destino, que interessam os mapas?, ele segue “o clima e o vento”, sempre em fuga (“apanha-me agora, porque amanhã já terei partido”). Diz que ainda anda à boleia, como nos bons velhos tempos, faz-nos agradecer a lição que o amigo Van Zandt lhe deu há muitos anos quando Bruce pensou em escrever sobre as contradições de ser um operário do povo multimilionário: “As pessoas não precisam que lhes fales da tua vida, ninguém se importa porra nenhuma com a tua vida, as pessoas precisam de ti para as suas vidas”.
As canções seguintes mantêm o tom nos píncaros, com arranjos mais opulentos do que o costume a acompanhar a voz, mais cordas do que rock and roll, mais melodia orquestral de fim de noite do que E Street Band (“Chasin’ Wild Horses” é o exemplo mais óbvio da mudança). Falta dizer que a escrita de canções continua tão apurada como sempre, a convicção no canto tão cativante como de costume (aquela voz que se ergue em “Sundown”…), a música tão magnética como nos melhores tempos. O disco é bom do início ao fim, pronto. Springsteen está presente e continua, inflexível, a não ceder ao fado de viver do passado. Bravo. (GC)
“Classe Crua”
Classe Crua
Está nesta lista a britânica Little Simz, autora de um portentoso disco, talvez o melhor de hip-hop que se ouviu em 2019. Poderiam estar também os norte-americanos Tyler the Creator (autor de mais um disco que troca as voltas às fórmulas de hip-hop já testadas, tal como o seu anterior Flower Boy) e a dupla Freddie Gibbs e Madlib, sempre certeira, mas é outra a dupla que não poderia mesmo deixar de cá estar: Sam the Kid e Beware Jack.
Classe Crua, o disco do projeto homónimo criado pelo rapper e produtor musical Sam the Kid e pelo rapper Beware Jack que também aqui era muito esperado, teve uma gestação longa, mas valeu a pena: com uma parte mais luminosa e afirmativa e outra mais sombria e introspetiva, o álbum é musicalmente muito estimulante, em parte graças às batidas de Sam the Kid, com os seus samples soul-funk e tom quase dignos de orquestra completa de groove.
A escrita de Beware Jack, com rimas que tanto contam histórias imaginadas como reveem o seu percurso de vida, acompanha a qualidade da produção instrumental a um nível altíssimo. Soma-se a isto ótimas colaborações — nomeadamente as mais constantes de DJ Madruga e da cantora Amaura e as mais episódicas de Sam the Kid, que dá uma perninha nas rimas em “A Minha Praia”, SILAB e Chullage, os três em enorme destaque — e tudo resulta num álbum de hip-hop coeso, que dificilmente se esgotará com o tempo. Há tempos discutia-se no podcast 3 Pancadas, do canal TV Chelas (criado por Sam the Kid), se fazer um álbum “clássico” hoje era mais fácil ou mais difícil, face aos anos 1990 e 2000. Classe Crua não dá resposta, mas lembra uma coisa: nos anos 1990, 2000 ou 2010, um clássico ainda é um clássico. Basta ter as batidas certeiras e as rimas inesperadas e argutas de um clássico. (GC)
“This Is How You Smile”
Helado Negro
Dificilmente encontrarão este ano faixa mais delicada que “Running”, o sétimo tema de This Is How You Smile: um beat, piano ocasional e voz de domingo – basta isto. Não é eletrónica mas usa-a, não é folk mas andam por ali instrumentos acústicos: This Is How You Smile é um casamento entre o o digital e o analógico, obra para dançar a chorar ou celebrar no mais absoluto recato – e é, acima de tudo, um disco de contradições musicais porque no seu cerne está a questão de não se saber o que se é: Roberto Lange é um americano de ascendência equatoriana que por vezes não se sente nem americano nem equatoriano; a sua única certeza é que é compositor de cruzamentos inesperados: antes de ser Helado Negro fazia canções que colavam samples de cumbias e do rock psicadélico americano dos anos 60 e hoje ainda tem algo de eletrónico e psicadélico e latino em simultâneo (exemplo: “Sabana de luz”). This Is How You Smile não ficaria mal na discografia dos Boards of Canada, só que não seriam Boards of Canada, seriam os Tableros de Equador. (JB)
“Legacy! Legacy!”
Jamila Woods
O conceito é interessante e não deve ser menosprezado, mas o disco não seria memorável se o resultado final não fosse o que é. Concebido tanto como homenagem à cultura negra (as canções dialogam com a história de artistas como Miles Davis, Betty Davis, Muddy Waters, Basquiat, Sun Ra e James Baldwin, entre outros) como enquanto reclamação de um lugar próprio na produção musical atual, LEGACY! LEGACY! é o segundo álbum da poeta, cantora, ativista e compositora de Chicago, Jamila Woods.
A música é quase inclassificável, uma espécie de soul eletrónica que se apropria da música de dança, do hip-hop — tanto o mais socialmente interventivo como o mais pessoal e afirmativo —, do gospel, do jazz, do funk e da pop. O caldeirão poderia soar descaracterizado, mas soa, pelo contrário, profundamente coeso. É notável a forma como Jamila Woods conseguiu coser batidas e géneros musicais tão diferentes criando algo que ainda não se ouvira.
Ao longo da viagem musical, muito muda. O que permanece do início ao fim é mesmo a palavra, maioritariamente a de Jamila Woods, ocasionalmente a de alguns convidados que parecem (ao contrário do que muitas vezes acontece) ter sido escolhidos pelo que têm a dizer e pelo modo como dialogam com a linha discursiva da protagonista. O emergente rapper e cantor Saba é só um deles. Objeto único, coeso e coerente do início ao fim, LEGACY! LEGACY! prova que passado e presente estão unidos com cordão umbilical, para o bem e para o mal. Em “Betty”, ouve-se: “I’m not your typical girl / throw away that picture in your head”. Em “Zora”, Jamila apela à coragem: “None of us are free / but some of us are brave”. E em “Sonia”, inspirada pelo trabalho da poeta afro-americana Sonia Sanchez, atira ao racismo, à supremacia branca e ao esquecimento:
“My great, great granny was born a slave
she found liberation before the grave
who you tellin’ how to behave
Ooh, I’m trying to forgive, but can’t forget”
É um manifesto musical vanguardista, feminista, comunitário, negro, ao mesmo tempo crítico e festivo, sobre passado e presente. E, musicalmente, é um disco inovador, original, diferente de tudo o que se anda a fazer na pop, soul e R&B. Urge ouvi-la em Portugal. (GC)
“Crushing”
Julia Jacklin
Mais dia menos dia teria de acontecer: o #MeToo iria acabar por infiltrar-se na pop ou o mundo iria começar a ouvir o que se calhar sempre lá esteve: mulheres a cantar o que é ser mulher. Talvez ninguém o tenha feito tão bem este ano como Julia Jacklin, que logo na primeira canção, “Body”, pergunta a um ex-namorado se ele um dia vai usar a fotografia que lhe tirou, nua, para se vingar. “Body” é folk lenta, insidiosa e melancólica – em contraste com “Pressure to Party”, o single de estreia, indie-rock disparado e com um refrão imbatível. Este é o Crushing: a guitarra, elétrica ou acústica, entre a euforia e a tristeza em canções que procuram fazer uma uma espécie de balanço – balanço das relações amorosa, balanço do que é isso de ser mulher, de ter uma família. E depois há a voz, a imensa voz, capaz de nos comover na tristíssima “Don’t Know How To Keep Loving You”, em “Head Alone” ou em “You Were Right”. Crushing é um grande disco sobre amar e falhar – mas apesar de todo o negrume, todo o sofrimento que por aqui grassa, a última coisa que Jacklin diz no fim de “Pressure to Party” é “try to love again soon”. (JB)
“Love Hurts”
Julian Lage
Ainda há míseros sete meses destacávamos aqui um outro disco de Julian Lage, Modern Lore, feito em parceria com o contrabaixista Scott Colley e o baterista Kenny Wollesen. Meio ano volvido e já há mais um ótimo disco para falar, este na companhia do contrabaixista e baixista Jorge Roeder e do baterista David King. Mas a culpa é deste americano que se vai rodeando de gente diferente para crescer, guitarrista e compositor como poucos, capaz de imaginar como uma formação instrumental liderada pelo som da guitarra pode soar sinuosa, nada aborrecida, com solos chorosos e com aceleração jazz-rock, com percussão inquieta e com acalmia.
Para os entendidos na guitarra, este novo Love Hurts há-de ser radicalmente diferente, as notas hão-de soar muito distintas. Até porque os temas são outros, de Ornette Coleman (“Tomorrow Is The Question”), de Keith Jarrett (“The Windup”), de Roy Orbison (“Crying”), de Tommy Dorsey (“I’m Getting Sentimental Over You”), entre outros. Quem não tem formação clássica para notar a dificuldade da sucessão de acordes e o virtuosismo — de quem é chamado de prodígio desde criança — talvez não note tantas nuances. O som da guitarra é distinto, mas a emoção para que o disco remete não é assim tão diferente, já que os discos de Julian Lage têm todos mundo suficiente dentro (são desassossegados, pachorrentos, certinhos, rebeldes, contemplativos, impulsivos e por aí fora) para que resultem sempre na mesma viagem. Sempre única, sempre distinta, mas sempre aprazível e completa. E no centro de tudo está um domínio absoluto da melodia e um equilíbrio dificílimo de alcançar entre a saída da norma e improvisação — oiça-se o final de “Encore (A)”, outra versão de Keith Jarrett — e uma linguagem que também não é experimental nem excessivamente desregrada. É jazz e rock, é cósmico à maneira dele, é espetáculo. (GC)
“The Book of Traps and Lessons”
Kate Tempest
A palavra “poesia” é muitas vezes utilizada em vão quanto se fala de boas letras de canções, servindo até para premiar com distinções literárias escritores de cantigas que efetivamente escrevem bem, compuseram canções absolutamente marcantes mas que não se podem medir sequer no mesmo campeonato de poetas. A lógica é outra, os esquemas narrativos são outros, as palavras nem sempre sobrevivem à ausência de música. Se a poesia for entendida como linguagem distinta da linguagem do dia-a-dia, da utilização mais corrente da língua — que nunca serviu aos melhores poetas —, então o número de músicos-poetas reduz-se vertiginosamente. Mas Kate Tempest, uma mulher de 33 anos nascida em Londres que é escritora (publicada), dramaturga, romancista e também autora musical, pode entrar nesse campeonato.
Com álbuns publicados a ritmo impressionante desde 2012, este novo The Book of Traps and Lessons é o sexto que edita em apenas oito anos — e um deles até foi reconhecido com um relevante prémio dado a obras poéticas, o Ted Hughes Award. Também neste novo disco, que contou com produção musical do esteta do hip-hop Rick Rubin, a palavra assume uma centralidade absoluta: o silêncio e a música servem ou para pontuar os espaços entre os versos que Kate Tempest recita (e recita com drama, talentosa na arte musical da declamação poética) ou, no caso da música, também para acompanhar as palavras com discrição. Ao longo de 45 minutos, é impossível não ficar estarrecido e maravilhado com a poesia de Kate Tempest, quer com as ideias que expressa quer com o vocabulário invulgar que emprega.
É um daqueles discos que poderiam ser livros, em que a música — batidas de um bom gosto inatacável — é pensada como complemento à mensagem. Ninguém sai imune disto: em “Brown Eyed Man”, já depois de nos dizer que é “a child of the gimme-me more nation”, Kate atira: “You’re lying if you think my pain is not your pain”. Ocasionalmente descritiva, em outros momentos introspetiva, recita o seu diário poético sobre o que a assusta, revolta, entristece, comove. E é sempre hipnótica, até à canção final, a emocionante “People’s Face”, onde nos diz que os rostos alheios são aquilo que lhe dá sanidade para resistir à loucura quotidiana. Merecia ser citada na íntegra, embora não o vá ser:
It’s coming to pass, my countries coming apart
The whole thing’s becoming such a bumbling farce
Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past?
Well, here we are, dancing in the rumbling dark
So come a little closer, give me something to grasp
Give me your beautiful, crumbling heart
Another disaster, catharsis
Another half-discarded mirage
(…)
There is too much pretense here
Too much depends on the fragile wages
And extortionate rents here
We’re working every dread day that is given us
Feeling like the person people meet really isn’t us
Like we’re gonna buckle underneath the trouble
Like any minute now, the struggle’s going to finish us
And then we smile at all our friends
(…)
But it’s hard to accept that we’re all one and the same flesh
Given the rampant divisions between oppressor and oppressed
But we are, though
More empathy, less greed, more respect
All I’ve got to say has already been said
I mean, you heard it from yourself
When you were lying in your bed and couldn’t sleep
Thinking, “Couldn’t we be doing this differently?” (GC)
“GREY area”
Little Simz
Estudos científicos comprovam que bastam dois temas de GREY Area para começar a sentir dependência: “Boss” abre com uma das melhores linhas de baixo dos últimos anos, a ecoar pesada na espinha quando Little Simz entra e rapa “Stop playin’ with ma heart”. É uma das grandes faixas de 2019 e logo a seguir vem outra: depois da porrada de baixo vem o cafuné de “Selfish”, um r&b sensual com um meticuloso e delicado beat que obriga a anca a abanar: há um dueto, há violinos e foi para isto que inventaram os clubes em hora tardia, quando os corpos finalmente cedem e perdem a vergonha e se aproximam. Baixo e bateria são dois achados num disco com uma produção perfeita, dá espaço para a voz (outro achado). Só por uma vez a economia de produção e composição cede ao excesso: é em “Flowers”, a última canção do disco, em que coros e trompetes conferem um tom épico a um tema que recorda Marvin Gaye. De resto, GREY Area (uma expressão que se reporta àquela fase da vida em que já não somos garotos mas ainda não somos adultos) não tem uma grama de adiposidade e, do princípio ao fim, soa vital. (JB)
“O Sol Voltou”
Luís Severo
Há muitos anos, ao ouvir as primeiras gravações de um adolescente dos subúrbios de Lisboa, vizinho de Allen Halloween, no então nascente Bandcamp, apelidei-o de «Messi do nacional cançonetismo». O exagero que houvesse servia um propósito: aferir da minha surpresa perante o nascimento de um talento tão precoce como admirável. Passado todo este tempo parece consensual que não havia exagero: Luís Severo, então conhecido por Cão da Morte, vai numa sequência diabólica de grandes discos: a Cara d’Anjo (de 2015) seguiu-se Luís Severo (de 2017) e a esse o recente O Sol Voltou, discos assentes numa guitarra ou em teclas e em melodias inspiradas, ao redor das quais giram arranjos simples mas imaginativos (de flautas ou coros ou palmas ou sintetizadores). Em O Sol Voltou a natureza melancólica de Severo dilui-se na leveza das teclas de Domingo, no piano de Quem me espera, no refrão de Rapaz, que se mune de sintetizadores parolos para reconstituir a adolescência: «Ah, rapaz, que saudades / andar por aí / aprender a fumar / tocar bandolim / tenho saudades». Severo voltou e com ele o seu jeito único de silabar, de desencantar melodias como um bêbedo que tropeça num tesouro. (JB)
“<atrás/além>”
O Terno
“Melhores discos de 2019”? É poucochinho: será ofensivo esquecer <atrás/além> quando se discutir os melhores discos da música brasileira desta década. É tão bom assim. Ouvindo-o, só é preciso cautela quanto a efeitos secundários: pele de galinha, arrepios na espinha, sorrisos patetas, expressões embasbacadas, desvalorização de outras maravilhosas canções que se meçam com estas.
O esforço foi grande, mas compensou. Os três rapazes que compõem esta banda brasileira — Tim Bernardes, Biel e Peixe — passaram um ano inteiro em estúdio, só para fazer nascer 12 canções. E isso nota-se, parece que não há uma nota a mais nem a menos ao longo de 50 minutos, o que é exemplar. As palavras são as certas, não poderiam ser outras, nem a mais nem a menos, espécie de elegia feliz (contradição, mas a banda também não é a preto e branco) do fim da juventude porque trouxe dores mas também crostas e pele nova — e o que aí vem é para agarrar com as duas mãos.
O “clima” pretendido para as canções andava “entre o descontraído e o caprichado”, como chegou a dizer o vocalista e principal mentor destas canções (Tim Bernardes), que cresceram depois em banda e com arranjos orquestrais somados. Missão cumprida: a voz, as melodias, as “costuras” (como aqui se dizia), a variação de tons entre o pop-rock malandro e de chinelo no pé, mas apuradíssimo, e a seriedade melancólica e analítica que chega a crítica social em “Passado / Futuro”… é tudo ótimo. É um álbum virado para dentro mas que também olha para fora, de fim de mocidade (a banda já tem dez anos, quem escreve as canções já fez os 30) e de “construir o próprio destino, de se bancar como indivíduo”. Tim Bernardes já não é só um grande escritor de canções, é agora também um grande cantor e um produtor musical minucioso. Agora, O Terno já não é só uma banda “gostosa”, é uma banda fabulosa. Ouve-se logo de início:
“Não quero o que eu fui defina o jeito que eu sou
não sou mais criança, não sou mais adolescente
quero-me sentir exatamente onde eu estou”
Pois bem, este hoje é outra coisa. E é imperdível. (GC)
“Titanic Rising”
Weyes Blood
Na época dos vídeos filmados em smartphones, Natalie Mering criou uma homenagem ao cinemascope – forma de dizer que já não se fazem discos assim, megalómanos, com uma paleta instrumental gigante e harmonias a rodopiar em fundo. Titanic Rising podia ser uma parceria entre os Fleetwood Mac, Elton John e Joni Mitchell, com Phil Spector a escrever os arranjos grandiloquentes de cordas que enchem o disco: logo ao primeiro tema, “A Lot’s Gonna Change”, há cordas em espiral, pianos clássico , hammonds, cordas, coros, mais violinos, mais órgãos, tudo sempre a subir. Em “Andromeda” há órgãos espaciais e uma inesperada combinação de cordas e slide guitar; em “Movies” flirta-se com o kraut rock enquanto “Picture Me Better” denuncia a influência das bandas-sonoras clássicas do cinema: há muito, muito tempo que não se via um disco tão ambicioso, voraz, capaz de enfiar a história da música popular dentro de uma picadora e sair de lá com algo novo, radiante e inusitada. Clássico instantâneo. (JB)