Índice
Índice
Foi em 2005, há 17 anos, que Maria Filomena Mónica publicou o livro que a transformou em persona non grata. Bilhete de Identidade, assim se intitula a obra, caía no seio da sociedade portuguesa como um sacrilégio. A família deixou de lhe falar, colegas e alguns amigos também, os cochichos passaram a ser o seu dia a dia e a vida mostrava-lhe que eram muitos os adversários. O “pecado mortal” que cometera fora falar de pessoas identificando-as pelos seus nomes.
Fizera-o ao contar a sua vida tintim por tintim num livro de memórias que percorria os anos entre 1943, ano em que nasceu, e 1976, data em que terminou a tese de doutoramento em Oxford. Com ela surgia a burguesia lisboeta e a aristocracia de Cascais, o país pobre e endinheirado, hipócrita, medroso, conservador, católico, empoeirado, moralista, analfabeto. Uma gravidez precoce, o casamento e a infidelidade, o divórcio, outras relações extraconjugais, o 25 de Abril, o mundo social e o intelectual, a Igreja Católica, o salazarismo, o academismo e o estrangeiro. Cru, direto, honesto, íntimo, o livro tecia o retrato do país ao mesmo tempo que revelava a privacidade de uma família e de um círculo elitista de pessoas. E punha a descoberto com toda a ousadia a voz de uma mulher livre.
Foi assim que, avesso a críticas, Bilhete de Identidade se impôs como um sucesso no mercado editorial, chegando à 10.ª edição. Agora, renovado e aumentado com o diário de adolescência da autora, volta à estampa pela mão da Relógio d’Água. Estão lá as mesmas personagens, de Carlos Pinto Coelho a Vasco Pulido Valente, para falar apenas nas relações mais íntimas. De fora, fica a carreira académica brilhante à frente do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a bibliografia extensa sobre grandes figuras nacionais, a publicação intensa na imprensa portuguesa e o casamento tardio com António Barreto.
Fomos a casa de Maria Filomena Mónica e passámos uma tarde a conversar sobre o livro, sobre Duas Mulheres, título publicado já em maio deste ano (sobre a avó e a mãe da autora), a propósito de outros tempos do presente. Falámos da vida privada, mas alongámo-nos a analisar a sociedade, a política, a história, o ensino e a justiça do país de ontem e de hoje. Fomos até Inglaterra e a França e regressámos ao mundo atarracado e pobre que Portugal ainda é para gritar pela liberdade e para sinalizar a maioridade que a mulher finalmente alcançou neste canto periférico.
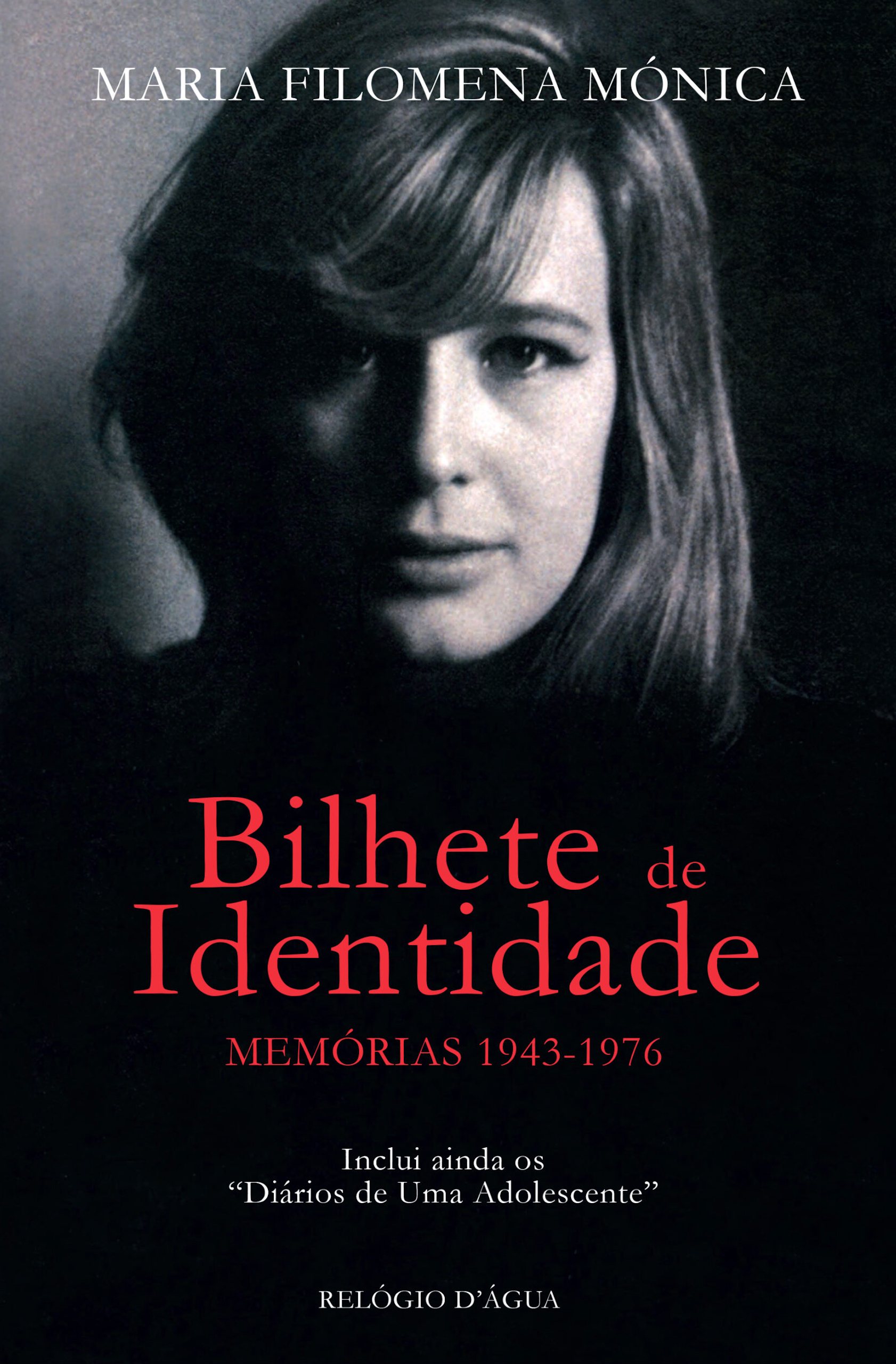
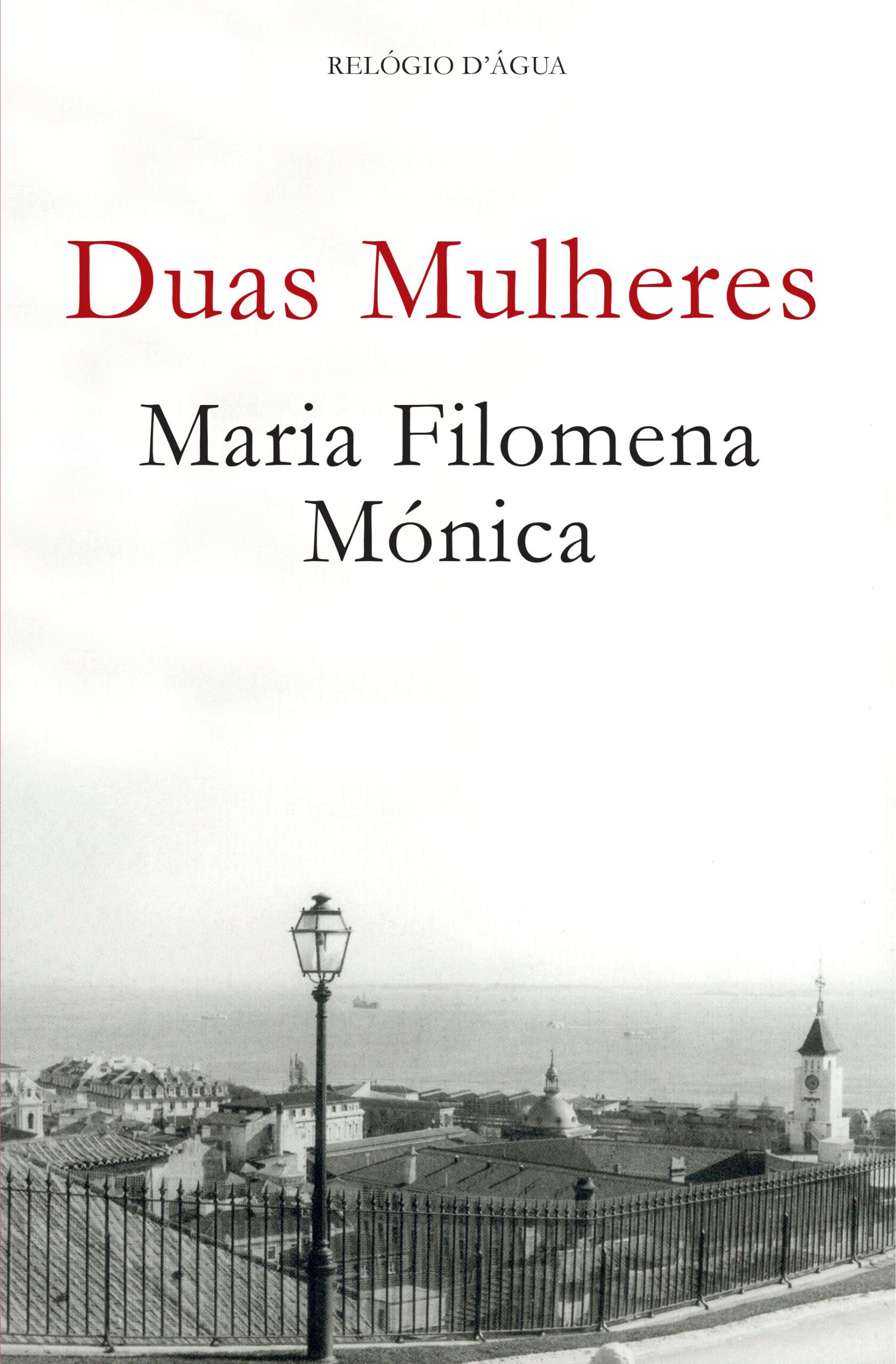
▲ A capa da nova edição de "Bilhete de Identidade" e "Duas Mulheres", publicado em maio deste ano, ambos de Maria Filomena Mónica, ambos pela Relógio d'Água
No prefácio a esta última edição de Bilhete de Identidade, usa a palavra “borrasca” para descrever o que se passou depois do livro ser publicado a primeira vez, há 17 anos. O que é que aconteceu?
Para minha surpresa, que não devia ser minha surpresa porque sou socióloga e em princípio devia conhecer melhor a sociedade portuguesa, a ideia de se escrever um diário intimista, honesto e com nomes, escandalizou muita gente. Em parte pela raridade. Acho que a primeira reação deve ter sido de espanto. A segunda foi: “Vamos crucificar esta mulher!” Eu tendo a pôr de lado o facto de ser mulher, de ser bonita, de ser loira, não me interessa esse assunto. Quero fazer aquilo que me apetece. Quis ir doutorar-me para Oxford e fui. Não pensava que o facto de ser mulher tinha sido tão importante.
Como assim?
Notei duas coisas. A primeira foi que no lançamento do livro havia muito mais mulheres do que homens e mulheres que vinham de longe. Uma que tinha vindo de Portalegre de autocarro só para eu lhe assinar o livro. Fui-me apercebendo com o tempo que era um livro mais para mulheres, na medida em que elas se identificavam, independentemente da classe social. E isso é que me espantou. Pensei que, como pertenço evidentemente à classe queque e à burguesia de Cascais, teria um círculo restrito de leitores. Não foi assim, de todo. As mulheres identificaram-se com muitas coisas que vêm ali. E com o que é exigido às mulheres por comparação com o que é exigido aos homens. Isso dá-me contentamento, mas ao mesmo tempo tristeza por ver que vivemos numa sociedade tão machista. Parece que me estou a louvar, mas vou-lhe contar só uma história que vem a propósito das mulheres.
Conte.
Há três ou quatro dias, fui ao cabeleireiro lavar a cabeça e, na esquina da Rua dos Navegantes com a Rua da Lapa, há um pequenino Minipreço e há umas escadinhas com um corrimão. Vou a atravessar e vejo uma rapariga aí dos seus 30 anos que estava a ler o meu livro sentada nas escadinhas. Ela olhou para mim, não é que eu esteja parecida com a fotografia, e soltou um “ah” e eu outro. “Está a ler o meu livro?”, perguntei. “Estou, estou a adorar. Como tenho pouco dinheiro comprei este e uma colega minha comprou as Duas Mulheres e depois trocamos os livros.” Fiquei tão comovida. Ainda lhe perguntei: “E porque é que está aqui fora?” “Porque é a hora de almoço e se fico lá dentro sempre me obrigam a trabalhar. Então estou a ler o livro e se está sol sento-me aqui.” Eu às vezes penso: a minha vida é tão diferente da vida dela, o que é que ela encontrará aqui? Mas estava a gostar. Era um dia em que eu estava muito triste e ela fez com que fosse um dia ganho. De qualquer maneira, e voltando atrás, não estava à espera dessa noção tão marcada do que é ser mulher em Portugal.
Mas não foi só isso que aconteceu. Como é que a sociedade reagiu ao livro?
Em geral, foi a ideia de que alguém era capaz de falar da sociedade portuguesa com competência e eu aqui invoco o meu título de doutorada em Sociologia. Eu não gosto de Sociologia, de como é praticada, mas foi-me útil para descrever os diversos estratos. Por exemplo, da Rua Rodrigo da Fonseca, onde nasci, ou ver como é que eram as meninas do Liceu Maria Amália, onde eu não andava, porque andava no Colégio das Doroteias.
Isso notava-se?
Naquela altura, não notava nada. Aos doze anos não percebia a diferença social. Agora é que sei analisar as coisas. Agora é instintivo. Olho para uma pessoa e sei mais ou menos de onde é, a que classe social pertence, se é uma pessoa inteligente, se é burra. Se é de direita é burra! Isso é uma frase do George Stuart Mill, que ele disse no Parlamento Britânico no século XIX. Dava a entender que toda a direita era burra e estúpida, foi esse o termo que ele usou. Depois corrigiu perante os apupos da bancada dos Tories e disse que não seria toda a direita, mas que a grande percentagem dos estúpidos alinhavam com a direita. O que me aflige mais nem é a estupidez, porque a estupidez não é uma coisa irremediável, é a falta de literacia, a incapacidade de ler um jornal. E há uma geração que passou da escrita para a televisão e da televisão para o telemóvel.
Mas e a reação ao facto de falar de si?
Quanto à reação de eu falar de mim sem vergonha, e da minha vida, e da minha família, não estava nada à espera. Acho que em parte porque escrevi tudo em Oxford. De certa maneira, voltei com o livro escrito e era como se fosse um E.T. ou uma outsider. Em Oxford, memórias destas há aos milhões todas as semanas. De resto, a pessoa que mais me influenciou e estimulou a escrever este livro foi uma escritora americana chamada Mary McCarthy. A Mary McCarthy conta as histórias todas, mas todas! Tenho uma estante, mais do que uma, duas, que só têm autobiografias e biografias. Quando este livro saiu, o que me espantou foi os meus colegas, que achei que eram seres absolutamente normais e civilizados, começarem a cochichar coisas nos corredores, chegaram a escrever coisas nas casas de banho, umas palermices. Eram crianças, deviam ter três ou quatro anos. O país não está habituado. É um país muito hipócrita. Tenho estado a pensar como é que isto sucedeu, como é que isto me sucedeu a mim, e porque é que isto sucedeu em Portugal. De facto, são as primeiras memórias que não são de uma política, que não são de ninguém que seja figura pública, são de alguém que é capaz de se expor. Não tenho telhados de vidro, não sou corrupta, não meto cunhas. Portanto, sabia que nada de mal me poderia acontecer. Exceto que não estava à espera que os machos reagissem tão mal.
É um moralismo?
É intrínseco. “Então a gaja é boa como o milho e vai escrever isto tudo?” Está a ver o género de frases? E mesmo de seres inteligentes com quem eu convivia, ouvia resmungos nos corredores.
Afetou-a?
Não me afetou nada, exceto num ponto, que me afetou a prazo. Toda a minha família deixou de me falar. Mas eu não me interessava que a minha família deixasse de me falar. A única coisa que me preocupava era os meus filhos. Não dei o livro a ler a ninguém e expliquei à Sofia e ao Filipe, os meus filhos, que ia publicar um livro que tinha revelações que podiam parecer escandalosas sobre o pai deles, e algumas coisas que os podiam ferir sobre a vida da mãe.
E qual foi a reação deles?
Foi ótima. O meu filho disse-me: “Oh, mãe, para que é que foi aquela lengalenga e aquele sermão sobre que nós poderíamos ficar chocados? A sua vida é completamente sensaborona, não tem nada de especial. Estava à espera de grandes revelações sexuais e afinal é uma coisa normalíssima”. No fundo, se eles tivessem reagido mal eu teria tido um desgosto.
A sua família não voltou a falar consigo?
Voltou, aí uns quatro ou cinco anos depois da publicação. E voltou da maneira mais doce, se quiser. Somos quatro irmãos, eu, a minha irmã Isabel, que tem um ano a menos do que eu, e depois, dez anos mais tarde, o meu irmão e outra irmã. Essa minha irmã Isabel era muito próxima, sempre dormimos no mesmo quarto até eu casar, sempre teve imensa intimidade comigo. Mas é totalmente diferente de mim. É uma menina que vive num círculo restrito da Quinta da Marinha. Aquela redoma dá-lhe uma visão do mundo muito curta. E, principalmente, ela era muito dócil, e como eu era melhor aluna do que ela (também não era difícil porque ela era péssima aluna), fazia-lhe os trabalhos em cinco minutos e ela contava imenso comigo. Portanto, fiquei um bocadinho triste quando ela não foi ao lançamento. Passados uns 15 dias, não é que tenhamos feito as pazes, mas encontrámo-nos e ela trouxe o livro corrigido por ela à mão. “Isto acho que tens que introduzir…” Ao que lhe respondi: “Esquece, eu não vou mudar uma vírgula”. Eram sobretudo coisas sobre a minha mãe, porque ela tinha uma adoração pela minha mãe. Ela é um produto fotográfico da minha mãe. O que a minha mãe queria que nós fossemos é exatamente o que ela é. Fiquei triste que a minha irmã Isabel tivesse sofrido por eu ter dito “mal” da minha mãe. Eu não disse mal, disse como era a nossa relação,

▲ "Eu gostava de fazer um livro em que as pessoas falam, ao mesmo tempo, da sua própria vida, do seu percurso afetivo ou intelectual e, indiretamente, do sítio onde vivem"
TOMÁS SILVA/OBSERVADOR
E como era?
Era uma relação turbulenta, porque a minha mãe queria que eu fosse de uma certa maneira e eu não era. Ao passo que com ela era tudo diferente. Em primeiro lugar vivia em Madrid, era casada com o pintor Luís Pinto Coelho, depois dava-se com a alta aristocracia madrilena, coisa que a minha mãe havia de gostar com certeza, depois conhecia o rei D. João Carlos… “Imagina que ele lê o teu livro!”, disse-me ela. “O rei D. João Carlos não vai ler o meu livro, nem as tuas amigas de Madrid. Não sofras com isso!” Mas, os outros dois irmãos cortaram mesmo relações e não tiveram mais conversas. O meu irmão até ameaçou pôr-me um processo.
“Não é preciso ficar acachapada debaixo de um casamento a engomar as camisas do marido”
Demorou algum tempo a decidir publicar o livro?
Não. Depois de escrito, um mês depois estava a ser publicado. Nunca tive dúvidas de que devia escrever este livro. Fosse quem fosse que me dissesse “não devias ter feito isto”, eu não ligava. Estava absolutamente segura de mim. Gostei de o escrever. Penso que é útil dar a imagem do que era o país e de como é que, apesar de tudo, uma mulher pode singrar na vida. Não é preciso ficar acachapada debaixo de um casamento a engomar as camisas do marido.
E o seu irmão queria pôr-lhe um processo por difamação?
Não. Eu ri-me. Antes de publicar o livro, falei com o advogado André Gonçalves Pereira, tinha confiança para falar com ele, e disse-lhe que ia editar o livro com os nomes, do meu sogro, que era embaixador em Madrid, e de outras pessoas que são do conhecimento público, da minha família e de alguns dos meus grandes amigos. Expliquei-lhe ainda que ia citar cartas. “A quem é que pertencem as cartas, a quem as escreve ou a quem as recebe?” E ele respondeu-me que era a quem as recebe. Portanto, a ideia de me pôr um processo porque eu citava cartas da minha mãe para mim, não tinha pés nem cabeça, pois as cartas não eram da minha mãe, muito menos dele. O que quer dizer que o processo não ia a sítio nenhum. Só fizemos temporariamente as pazes numa festa de anos que ele deu na quinta do meu avô, pela qual ele tinha uma adoração e que é algures ao pé de Tomar. Eu não tinha qualquer adoração pela quinta, tenho memórias até muito negativas dos verões que ali passei. Detestei aquilo. A minha mãe era muito esperta, punha-nos lá, às duas miúdas, e pirava-se para Lisboa. E nós que ficássemos ali na janela do quarto sei lá a fazer o quê. Nem podíamos subir às árvores.
Era mesmo a visão do país aquilo que lhe interessava ao escrever o livro?
Não. Interessava-me falar de mim. E se calhar sou uma exibicionista! Eu gostava de fazer um livro, como tantos que tinham saído no estrangeiro, em que as pessoas falam, ao mesmo tempo, da sua própria vida, do seu percurso afetivo ou intelectual e, indiretamente, nem sempre é propositado, do país onde vivem. Não era por exibicionismo, não, era porque achei que era capaz de fazer e tinha muito bons modelos. Portanto, queria fazer qualquer coisa como a Mary McCarthy ou como outros escritores de que gostava muito.
A verdade é que, como leitora, vejo sobretudo uma realidade social e política. Não identifico as personagens como protagonistas disto ou daquilo, mas sim a história que é contada. Isso e uma voz feminina que não existe na literatura em português desta forma.
A mim não me deu particular prazer fazer um retrato do país. Nem quando estava a escrever estava a pensar fazer o retrato do país. É uma coisa que veio por acréscimo, ou como se estivesse colada a mim. Queria falar de mim e principalmente perceber se era capaz de escrever um livro bem escrito. Vinha da Sociologia, que é uma disciplina da qual acabei por não gostar, e tinha escolhido ir doutorar-me para Oxford porque o Salazar tinha proibido, mas nem tudo o que o Salazar proibia era necessariamente bom, foi uma coisa que aprendi à minha custa. Portanto, não queria fazer um livro de Sociologia. Não queria dizer que em 1930 Portugal era assim. Isso tinha acabado com a minha tese de doutoramento que era sobre Portugal nos anos 30. Queria falar de mim e, ao falar de mim, tinha que retratar as coisas que estavam ao meu lado ou estavam à minha frente. Pensei que era interessante fazer um livro com uma experiência pessoal, se possível bem escrito e que desse prazer às pessoas lerem e verem o que era uma rapariga que nasceu em 1943 crescer e lutar por ser alguém de que se pudesse orgulhar mais tarde.
Fala sobretudo de uma elite urbana, tanto à direita como à esquerda, muito pequena, paroquial, quase, onde era fácil uma pessoa mover-se de um lado para o outro. Portugal continua a ser assim?
Não, já não é igual. Nos anos 40 e 50, quando eu estava a crescer, as elites sociais e políticas eram muito reduzidas. A elite política de certa maneira era castrada porque só havia um homem que mandava em tudo, que era o Salazar. Portanto, era quem ele escolhia que fazia parte dessa elite, não era propriamente uma elite com independência. Na área social, a elite também era pequena e aí podia haver uma certa mistura. Dentro dessa elite, havia uma outra que se considerava a si própria, mesmo sem querer, era inconsciente, superior, que eram os descendentes dos grandes aristocratas do reino. Era gente que tinha títulos, marqueses e duques e condes. Muitos deles eram meus amigos visto que eu ia para Cascais todos os anos nas férias. Eu nem sabia quem eles eram. Usavam quase todos o título como apelido. O meu primeiro namorado chamava-se António Lavradio, Lavradio é título. O segundo chamava-se João Arnoso, Arnoso é título. Curiosamente, algumas destas famílias aristocratas eram relativamente pobres, não tinham muito dinheiro. Depois havia os ricos dentro desta elite social e que se davam uns com os outros. A única pessoa desta elite social e rica com quem o Salazar se dava era o Ricardo Espírito Santo, mas era o único! Ele não gostava particularmente dos ricos. Ele não gostava de ninguém e é isso que é patético no homem. Só gostava de uma coisa, era de ter poder. E esta elite social com o tempo, nos anos 60, digamos, quando Portugal “exportou” um milhão de portugueses lá para fora, os empregos aqui já davam salários maiores, a classe média começou a singrar. Primeiro porque Salazar é que os fazia ricos, criava monopólios, por exemplo, o do tabaco, caso clássico porque dava dinheiro, toda a gente fumava e por cada maço de tabaco, X ia para o Estado. E depois escolhia a quem ia dar esse monopólio.
E o que é que mudou?
Havia a elite aristocrática, havia a elite económica, a elite social que sempre se manteve não necessariamente aristocrática, e havia os empresários, muito ligados às concessões que o Salazar concedia. Os Mellos têm o seu mérito, mas foi o Salazar que lhes deu o monopólio do adubo, o do tabaco, ia sempre uma parte para eles. A riqueza em Portugal dependia muitíssimo do Estado como ainda depende, infelizmente. Havia ainda uma classe média bastante pobre e que é um peso, um peso no pescoço de Portugal como se Portugal estivesse sempre a ir ao fundo. Não temos uma classe média capaz de reivindicar o que quer que seja do Estado. Todos dependem de uma maneira ou de outra do Estado. E temos uma classe trabalhadora que não é particularmente qualificada, mas que lá fora é suficientemente qualificada para a quererem empregar. Noto isso por exemplo pelas minhas enfermeiras. Quando vou todas as semanas fazer quimioterapia, uma e outra lá foi para a Noruega, ou para aqui ou para acolá.
“Ninguém me venha dizer que dantes era melhor. Não era. Antigamente era muito pior”
Ganhou-se muito com a democracia? E mudou muito essa ideia de elite?
Já não é tanto por snobeira. Muitos destes, os mesmo do topo, não são snobes. Nem sabem. Fiz uma biografia de uma senhora, de quem conhecia o descendente que me pediu para a fazer, que tinha tido de comprar o espólio, porque a família inteira tinha deitado fora os móveis e não se tinha dado ao trabalho de abrir as gavetas. “Não faço nada por encomenda, mas deixe-me ver as cartas”, disse-lhe. Há tão poucas cartas de aristocratas. Gostei imenso das cartas e fiz.
E era quem?
A Condessa de Rio Maior. Ela era filha do conde de Vila Real, e a família Vila Real tinha estado, tal como outras, muito tempo exilada, uns em França, outros em Inglaterra. O facto de ter havido uma guerra civil em Portugal, nos anos 20, 30 do século XIX, fez com que as elites sociais tivessem optado ou por um rei ou por outro. Houve diversas vagas em que as pessoas estavam ligadas aos miguelistas ou ao D. Pedro IV que tiveram que emigrar. Fez-lhes lindamente à cabeça como aos portugueses que emigraram para não ir para a Guerra Colonial, como o meu marido, que fez muito bem em ter estado 14 anos na Suíça e abriu a cabeça, em vez de estar em Vila Real a olhar para o teto.
Mas isso foi antes do 25 de Abril.
Nos anos 60 houve de facto uma grande mudança com a adesão à EFTA [Associação Europeia de Comércio Livre], e com coisas que o Salazar não conseguiu impedir como a emigração. Os salários, como estava a dizer, subiram e as pessoas começaram a viver melhor, mesmo antes do 25 de Abril. Por muito crítica que eu seja dos partidos políticos, que sou, ninguém me venha dizer que dantes era melhor. Não era. Antigamente era muito pior. Eu sei porque vivi. O que agora há é uma espécie de esquecimento da faceta mais negra do Antigo Regime e do salazarismo e as pessoas começam a dizer “antigamente é que era bom”. Antigamente se eu quisesse escrever um livro não escrevia. Para mim, a liberdade de expressão é a coisa mais importante. O que há de novo é a liberdade de expressão, é a possibilidade de alguns empresários, se forem espertos, se tiverem capacidade de obterem dinheiros europeus e contactos, serem independentes do Estado, mas esses são muito poucos. Porque o dinheiro da Europa também vem pelo Estado e aí dá origem à corrupção.

“Nunca tive dúvidas de que devia escrever este livro. Fosse quem fosse que me dissesse “não devias ter feito isto”, eu não ligava. Estava absolutamente segura de mim. Gostei de o escrever. Penso que é útil dar a imagem do que era o país e de como é que, apesar de tudo, uma mulher pode singrar na vida. Não é preciso ficar acachapada debaixo de um casamento a engomar as camisas do marido.”
Há uma ideia feita de que há uma espécie de feudo entre dois grandes partidos e que o poder económico vai sempre ficar entre as mesmas pessoas. Isso parece continuar.
Parece, não é é tão extraordinário quanto nós às vezes fazemos crer. Porque em França, ou em Inglaterra, o poder económico e o poder político também andam muitas vezes ligados. Simplesmente, o escândalo lá, quando aparece, é tal, que há consequências. Falo de Inglaterra que é o caso que conheço melhor, lá os governos têm que dar contas do que fizeram. Aqui não. Houve um qualquer que disse que era doutorado. Ainda hoje o presidente da Câmara Municipal de Caminha disse que era doutorado e afinal não era. Só num país de analfabetos, e tradicionalmente de grande analfabetismo, é que se concebe que alguém se vanglorie de ser doutorado. Ser doutorado lá fora não tem importância nenhuma. Especialmente em política. Eu sou doutorada e daria uma péssima política de certeza absoluta. Espanta-me esse fascínio, como o Sócrates, já fez um mestrado falso, ou estúpido pelo menos, pelo que li, estava para ir fazer o doutoramento não sei para onde, outra grande mentira, e afinal pagou a um professor da Faculdade de Direito para lho escrever. Tudo isto provado, o que é que aconteceu? Nada. O professor da Faculdade de Direito que colaborou num plágio e numa fraude, porque fez a mulher assinar os recibos do dinheiro que vinha do Sócrates, continua na mesma todo contente. E, finalmente, o Sócrates agora resolveu dizer – também é um escândalo ainda não estar julgado passado tantos anos – que o que mais gostava, no fundo, era de ir para o Brasil, porque é lá que vai fazer um doutoramento. Não vale a pena. O problema aqui é mais de dependência total do Estado e de não haver essa classe média reivindicativa.
Somos um país manso, é isso?
Somos um país pobre. E a pobreza não faz bem a ninguém. Eu dantes achava muita graça ao Boris Johnson, dantes era há 30 anos. Ele era um aluno de Oxford. Os alunos de Oxford têm vantagens inconvenientes, fazem todos um grupo e, portanto, quase todos os ministros saem de Oxford, principalmente de um grau chamado PPE, Philosophy, Politics and Economics. E o Boris Johnson participava na televisão em concursos, que não são como estes aqui daquele Vasco Palmeirim, que pergunta as coisas mais absurdas que não têm nada a ver com Cultura. Havia um programa, acho que era University Challenge, Desafio Universitário, em que havia a Universidade de Oxford versus Universidade de Essex, por exemplo. E lembro-me de ver o Boris Johnson. Era espertíssimo! E era engraçadíssimo! Era muito inteligente e escrevia e escreve muitíssimo bem. Li alguns livros dele, tem um sobre a Europa que é muito bem escrito, e tem uma vida do Churchill que também é bem escrita. Ele quer imitar o Churchill. Bom, mas não achei absolutamente graça nenhuma ao que ele fez como primeiro-ministro, só fez disparates. É incapaz de se concentrar cinco minutos, porque a única pessoa que lhe interessa é ele próprio. É ainda mais egocêntrico do que eu, o que é difícil. No caso dele, ele teve mesmo que dizer “bebi ou não bebi champanhe”. Ou seja, se bebeu, na altura do confinamento, os ingleses não lhe perdoariam. Tanto que não perdoaram e ele teve que sair.
Portanto, há consequências e neste país não.
Não. Aqui arrasta-se, arrasta-se… Há quantos anos o Sócrates saiu do Governo? Há uns onze! Não se percebe de que é que estão à espera para julgar o homem.
O país não abriu com a democracia, continuou fechado sobre si próprio? Não se analisa, não se critica?
Tem que pensar que quando eu nasci, 80% dos portugueses viviam no campo, 80% eram analfabetos. Tudo passava ao lado deles. Se lhe perguntassem “sabe quem é o cardeal patriarca” ou quem era o Salazar, a maior parte nem sabia. “Sabe onde é Lisboa?” Nunca tinham visto o mar. A Revolução não foi feita por ninguém popular. E isso é que me faz sofrer. Não fomos nós que lutámos pela liberdade. Não fui eu que fui arriscar a minha vida pela liberdade. Aquilo não foi uma revolução. Aquilo foi um golpe de Estado feito por militares que achavam que a Guerra de África não ia conduzir a sítio nenhum, como se estava a ver desde há muitos anos. Fizeram, então, aquele golpe de Estado e derrubaram o regime, e já que derrubaram o regime, resolveram arranjar uma bandeira, que por acaso era a democracia. Até foi um amigo meu, o José Medeiros Ferreira, que disse que os objetivos do golpe eram três D, “democratizar, descolonizar e desenvolver”. Portanto, quando o que quer que seja não é feito por nós diretamente, e nomeadamente a luta pela liberdade, o que se segue fica sempre coxo. As pessoas não lutaram pela liberdade. Deram-nos numa bandeja, de graça, um regime, e o regime está torto. As pessoas agora então acham que este é pior do que tudo, que é pior que o salazarismo. Não é. É melhor. É pena é terem sido os militares a fazerem o golpe.
Mas o papel da mulher mudou.
Pelo menos isso mudou. E mudou muito rapidamente. Isso espanta-me. Em 1963 casei-me pela Igreja. Em 1969 separei-me. Separei-me judicialmente e não me podia divorciar porque o Estado e a Igreja tinham feito um acordo, no qual as mulheres eram vistas como subordinadas. Tudo quanto dizia respeito a professoras primárias, não se podiam casar, indumentária das mulheres, não podiam usar biquíni. Usei biquíni em 1963, quando me casei, porque fui de lua de mel para o Algarve e lá não havia cabo de mar. Se fosse em Cascais já não podia pôr o biquíni. Além de que, quando quis ir para a faculdade — e isso em parte não perdoo à minha mãe, por ela própria não me ter contado que tinha estado na faculdade –, não queriam que eu fosse, porque era muito bonita e, portanto, ia fazer um casamento absolutamente espantoso não se sabe com quem. E que se fosse, dizia o meu pai, ia ficar feia como a Magalhães Colaço e a Virgínia Rau. “Oh pai, eu não fico feia por ir para a faculdade!” Até que ele me fez prometer que nunca iria a um café. “Eu nunca fui a um café de qualquer maneira, estão lá uns velhos com um chapéu!, o que é que me interessa ir a um café?” Então lá fui. Quer isto dizer que, em 1961, em certas classes sociais, e naquela a que eu pertencia, a menina era para estar em casa a aprender a bordar monogramas, se fosse possível nas paredes, em vez de ir estudar. Cortavam completamente o acesso ao saber. Isso revoltava-me.
Isso mudou?
Mudou totalmente. Não dei muitas aulas, mas dei algumas, no Instituto de Ciências Sociais, onde fazia investigação, e só dava orientações a mestrados e doutoramentos, na Faculdade de Letras, que foi um desastre completo, no curso de Literatura, no qual dava o Eça de Queirós, e os alunos não queriam estudar nem por mais uma e eu vim-me embora, e na Universidade Católica, que para minha surpresa, dado que tinha tido aquela luta tão grande contra a Igreja e contra a minha mãe, não só me convidaram, que já é um gesto significativo, como os alunos, não sei se era por pagarem, nunca percebi, não eram a balbúrdia da Faculdade de Letras. Tentei sempre manter os meus filhos no ensino público, porque acho que as pessoas devem agir de acordo com as suas convicções e sou a favor do ensino público. Não digo que se acabe com o ensino privado. Não se deve é continuar a dar imensas coisas aos privados, como se deram tantos dinheiros, que só deu origem a corrupções e a escolas que compravam Porsches e coisas parecidas. A única vez que dei um 20 a um aluno, é estúpido, mas é verdade, pensamos sempre que ainda vai surgir um melhor do que aquele, foi na Católica, porque era uma aluna extraordinária.
“A mulher é capaz de ter sido o traço mais significativo do pós-25 de Abril”
Neste momento, há mais mulheres a estudar do que homens. São mais aplicadas e têm melhores notas. Como é que isto acontece?
Porque somos muitíssimo mais inteligentes do que eles. Desde sempre. Por isso é que eles puseram aquela coisa estúpida da maçã no “Livro do Génesis”. Quem é que era esperta? A Eva. A maçã era o símbolo da sabedoria e o que ali está é, de certa maneira, uma condenação da sabedoria dada às mulheres. A Eva arrancou a maçã e deu-a a provar ao Adão e transmitiu-lhe um bocado da sabedoria. Jeová viu e houve duas penas, duas penas injustas. Aí estou em completo desacordo com o Jeová. Em primeiro lugar, não acho que seja justo retirar a sabedoria aos humanos. Acho que a sabedoria é um bem. Em segundo lugar, não vejo porque é que a punição é tão desigual. O Adão terá que ganhar o pão que comer com o suor do seu rosto. É uma penitência, mas não é assim muito má. A Eva, a mulher, terá dores quando tiver filhos. Não acho comparável. Tive dois filhos e acho que um parto é extremamente doloroso. Agora é um facto que as raparigas, provavelmente por terem herdado e ouvido falar do que passaram as mães e as avós, são muito mais ativas. São trabalhadoras. As minhas netas acham, por exemplo, que os rapazes da idade delas são uns bebés, não sabem o que querem na vida. Elas, hoje em dia, fazem uma coisa que eu nunca pensei fazer. Não são necessariamente dependentes de rapazes para fazerem X, K ou Z. A minha neta mais velha fez uma viagem de seis meses, com o dinheiro que juntou, à América do Sul, e foi com uma amiga. “Então não tens namorado?” “Tenho, avó, mas eles não sabem o que querem, eu vou com a não sei quantas que nos damos muito bem.” Isso era impensável no meu tempo. O que nos era incutido e o que nós queríamos era casarmo-nos com um que fosse muito giro, que gostasse muito de nós e mais nada. Nunca me passou pela cabeça ir fazer uma viagem com uma amiga. Nem a minha mãe me deixava. A minha mãe não me deixava ir para o colégio sem uma criada atrás, quanto mais ir à América do Sul.

▲ "A minha primeira inclinação é sempre para protestar. Por isso é que digo que não dava nada boa política. Sou distraída e não me interessa o poder"
TOMÁS SILVA/OBSERVADOR
A independência foi uma vitória para as mulheres. De qualquer forma, salários, cargos públicos, lugares de decisão continuam a beneficiar esmagadoramente os homens. Pelo menos em Portugal.
É esmagadoramente, sim. E mesmo o facto de haver agora juízas já é salutar. Até ao 25 de Abril só havia homens juízes. Havia profissões que nos estavam vedadas. As que conheço, as que foram minhas alunas e as minhas netas têm uma pedalada… E uma ambição. Isto é ambíguo. Escrevi um artigo aqui há tempos sobre a dívida geracional. Por melhores notas que elas tenham, não arranjam emprego. Mas aí não é o sexo, é o mercado de trabalho que está muito em baixo. Fazem um estágio e depois vão para a rua. É uma maneira também de se ter gente muito mal paga. Podem ter gente muito boa, mas muito mal paga. Isto é uma injustiça. Mas elas escusam de se lamuriar demais, porque há outras coisas que são boas. O terem ido para a América Latina, durante seis meses, sozinhas, é uma coisa boa que lhes dá uma enorme confiança. Acho que sim, a mulher é capaz de ter sido o traço mais significativo do pós-25 de Abril, o facto de terem adquirido personalidade própria, não serem um objeto, cujo dono é o homem.
Esse facto faz-me pensar no sucesso do seu livro. É a voz feminina capaz de fazer o que quer, capaz de dizer que não quer a vida que tem, mas que quer outra.
Nunca tinha pensado. Em mim foi quase instintivo. E não estou a tirar o mérito a mim própria. Acho que tenho mérito em ter publicado e também sofri, não tanto com a minha família, mas com um amigo. Não percebo como é que ele se zangou, mas foi assim. O feitio dele também não era o ideal. Há qualquer coisa. Quando li um livro que a minha mãe fez só para mim, porque eu era a mais velha, o chamado Livro do Bebé, em que ela conta coisas de quando eu era pequenina, percebi que eu não devia ser boa da cabeça! Era tudo “não, não, não” e rebelde. É capaz de haver um fator temperamental. A minha primeira inclinação é sempre para protestar. Por isso é que digo que não dava nada boa política. Sou distraída e não me interessa o poder. O facto de ser filha de uma mulher que teve muito poder, que era amiga do cardeal patriarca e muito bem vista pela Igreja, que conseguiu tudo e mais alguma coisa, até quis anular o meu casamento… Eu começo a resvalar devagarinho, sem ter muito consciência.
Por exemplo?
Comecei a perceber que a Faculdade de Letras, que eu achava que era um refúgio e uma maneira de adquirir saber, não o era. No fundo, foi isso que sempre quis, saber mais, não era status nem dinheiro, isso não me interessa nada. E a bolsa de estudo da Gulbenkian foi um maná. De facto, a pessoa que mais influiu na minha vida foi de certeza um arménio antipático chamado Calouste Gulbenkian, sobre quem escrevi um ensaio. Acho que foi aos 16, 17 anos, no fim da adolescência, que senti que estava oprimida, que era a sociedade inteira. Era não poder sair de casa sem uma criada, era não poder ir aos filmes porque tinham um beijo na boca que durava mais de dois minutos. Aí tive, de facto, uma crise grave, afetiva e intelectual, e que levou os meus pais a dizerem “esta miúda tem que sair daqui”. Isto foi antes do meu pai se arruinar, e na altura eles tinham algum dinheiro. O meu pai gostava de Inglaterra e, portanto, deixaram-me ir para Inglaterra, embora me tenham fechado num colégio de freiras. O que era o meu ideal. Felizmente, portei-me tão “bem”, que ao fim do primeiro ou do segundo mês, a madre superior telefonou ao meu pai a dizer que eu ia ser expulsa porque ninguém me aturava. E aí foi ótimo. O facto de ser expulsa e de ter ido para casa de uns polacos que ninguém conhecia — fui para lá através de um amigo meu – fez com que eu não tivesse imposições. E não fiz nada, não fiz disparate nenhum, não fui para a cama com nenhum rapaz, não fugi com nenhum cigano, não me deitei para baixo do metropolitano. Andava radiante a ler livros e a frequentar uns cursos vagos de inglês. Essa época deu-me aquilo que percebi que era essencial, que era respirar livremente. Quando vim para a faculdade, já não me interessava nada a faculdade, já achava aquilo uma porcaria, além de ter engravidado e de ter casado.
Daquilo que conta no livro, não era fácil poder ir para a faculdade.
Isso só de certa classe social. Havia muitas mulheres que ambicionavam que as filhas fossem para a faculdade, que eram de uma classe social média mais abaixo. Achavam muito bem que as filhas fossem para farmacêuticas ou para médicas, ou para o que fosse. A minha mãe pertencia — conseguiu meter-se lá através da Igreja, com certeza — àquele núcleo de que eu falava que tem antepassados que são marqueses e duques e etc., e que achava que as filhas não deviam ir estudar.
O que é que cada classe valorizava mais?
Os pobres valorizavam mais terem comida, os filhos irem trabalhar com eles logo que fosse possível, nem iam à escola. A classe média vivia mal e o que tinha a dar ao mundo e o que a valorizava era o diploma e a cultura. Portanto, queriam mesmo que as filhas fossem para a escola e que tirassem cursos superiores se eles tivessem dinheiro para as sustentar. O que valorizava a classe superior era o sangue e, subalternamente, o dinheiro. Isto na altura em que eu nasci. Se uma pessoa era Lavradio ou Arnoso, para quê estar a tirar um curso? Não valia a pena. “Ah, tu és primo do António? Ah que engraçado, então a Tucha é tua prima…”
Isso ainda acontece numa certa burguesia.
Se calhar acontece. Mas a cultura era qualquer coisa que a classe média prezava porque a fazia superior aos pobres. No entanto, a ascensão da classe média à classe superior era muito vaga e difícil. Ainda há coisa de dois ou três anos fui a casa de uma amiga porque ela queria ver-me. Este livro também foi ambíguo, houve muitas mulheres da classe do topo que gostaram imenso. Era tudo muito estranho. Por exemplo, o meu marido, eram cinco irmãos e uma irmã. A rapariga era muito inteligente, era e é. Todos eles foram para uma escola chamada Escola Avé Maria, que era a escola mais queque de Lisboa, e ela foi para uma escola ao pé da casa. Ela tem imensa pena de não ter estudado, de não ter arranjado um emprego, o casamento nem correu muito bem… Às vezes olho para ela e penso: “Como é que é possível que a tenham deixado neste estado, que não a tenham posto no colégio onde estavam os irmãos”. Eu pus lá os meus filhos, mas tirei-os no primeiro ano, quando vi do que a casa gastava. Eu não era crente e não queria que eles fizessem a primeira comunhão. Mas, academicamente, era uma escola ótima, tinha professores excelentes. Esta minha cunhada podia ter sido uma mulher realizada e não lhe deram acesso a nada.
“Será que a religião também foi uma forma de me opor à minha mãe?”
Foi crente alguma vez? Revoltou-se contra a religião por causa da imposição que a sua mãe lhe fez?
Acho que nunca fui muito crente. A minha mãe impunha, mas não era nada beata. Por exemplo, nunca fomos a Fátima, nunca lhe passou pela cabeça, devia achar que aquilo era para pobres, não era certamente para nós. Nem se rezava o terço lá em casa, nada disso. Ela tinha um diretor espiritual, tinha umas reuniões mais ou menos parvas, onde não sei o que é que se passava, chamavam-se reuniões de casais. Eram uns casais católicos, para aí quatro ou cinco, não sei do que falavam. E depois íamos à missa ao domingo. Mas não havia nada que interiorizasse a religião em nós. Era tudo mecânico. E quando cheguei a Oxford é que percebi que era uma parva. Ainda não tinha tomado consciência, nem sequer pensado, que em Portugal toda a gente era católica, portanto só havia uma religião. Só lá é que me dei conta intelectualmente da situação. Dois amigos que fiz lá são judeus, havia hindus e de outros credos. E, principalmente, o que descobri também é que desconhecia totalmente o que era a minha religião. Perguntavam-me qual era o dogma não sei de quê e eu não sabia nada. “Então não eras católica!” Não sabia nada! Não havia cá aulas de religião, era uma coisa que se memorizava, umas tretas. No fundo, e agora que está a falar nisso, será que a religião também foi uma forma de me opor à minha mãe? Também.
Lendo o livro, temos a sensação que é também uma forma de oposição. Mais tarde, há a noção de que ideologicamente e intelectualmente recusa a existência de Deus. No início é uma revolta.
Sim, o dizer não a tudo, não é?
Não foi isso que senti. Senti que era uma lutadora, mas, estranhamente, para aquela época, conseguiu fazer as coisas com alguma habilidade, sem aquele sofrimento que outras mulheres, noutro estrato social, teriam que ter tido.
O facto é que não sofri por ter saído da Igreja, mas sei que houve alguns católicos que sofreram muito. Arranjei uma artimanha qualquer, fui-me confessar a um padre que disse que se eu não acreditava não me dava a absolvição. Disse à minha mãe, que percebeu logo que era uma artimanha, chamou o diretor espiritual dela, que começou para lá a dizer disparates e a coisa ficou por aí, nunca mais se falou nisso. Repare que no livro Duas Mulheres retomo a minha mãe depois de 1976 e tudo mudou. Ela deixou de ir à Igreja de São Mamede, que era a mais perto de casa, para a certa altura se lhe meter na cabeça, e era verdade, que a Igreja mais chique era a do Loreto, no Chiado, e passou, de repente, em 1972, a ir à Capela do Rato. Isto era tudo social. Quando foi a Revolução, muitas das amigas dela viraram a vida do avesso. Mães que tinham 12 filhos viram-se sem o marido, que fugiu com a amante para o Brasil. Aquilo desmoronou-se tudo. E, não só por isso, mas também por isso, começou a olhar para mim de outra maneira. Ou seja, “se elas têm umas filhas que deram em malucas e estão todas na droga, se calhar a minha filha não é assim tão má”. Começou então a escrever-me cartas muito simpáticas a dizer que tinha imensa admiração por mim. Se eu tivesse lido estas cartas finais, não tinha feito o livro tal como fiz. Mas acho que foi bom ter sido assim. Era um triângulo: a minha avó era ateia, a minha mãe super católica, e eu também era ateia. Tinha as cartas da minha mãe para a minha avó, da minha mãe para mim, e também da minha avó para mim. São umas 400 ou 500 cartas, o que é muitíssimo!

“Tinha jurado a mim própria não voltar a casar. Não me dei bem com o primeiro casamento e não queria um homem para nada. E achava que as pessoas podiam viver em duas casas perfeitamente felizes, opinião que não era partilhada por muita gente. Acabei por me casar já tarde com o António [Barreto], em parte também, porque é complicado à luz do Direito. As pessoas que vivem em união de facto não têm os mesmos privilégios. E tinha a ver com a herança dos meus filhos.”
Outro aspeto interessante do livro é a sua capacidade de lutar sem medo. Não se sente o seu medo, sente-se uma mulher brava, uma mulher corajosa. Isso não seria também muito comum.
Já não me lembro se tinha medo. Estava tão determinada, mas tão determinada a ir para Oxford que até se calhar fiz algumas coisas arriscadas e que poderiam ser perigosas. Sou capaz de não ter tido medo. Tive dissabores.
É uma mulher determinada que vai traçando um rumo sem temor, sem o “o que é que me vai acontecer?, mas sim com o “quero isto e vou conseguir”.
Eu não tinha a certeza que fosse conseguir, o que eu queria era pôr-me à prova. Era muito “logo vemos”. “Não vou voltar atrás.” Mesmo no final, quando entreguei a tese, em 1976 e 1977, fui em frente a pensar que mesmo que me chumbassem, o que é raro, porque em Oxford não chumbam, o supervisor desencoraja, o que é melhor do que ser-se destruído em público.
Não falo apenas na tese, falo em todas as decisões da sua vida, desde o divórcio, não há aflição.
Isso não tive medo nenhum. Mas porque é que as pessoas haviam de ter medo de se divorciarem. Não se davam bem com o marido, divorciavam-se.
Nessa altura não era tão assim.
Pois não. E ainda por cima não me deram o divórcio. E a minha mãe, quando me tentou convencer a anular o casamento, só piorou o caso. Para o Vaticano anular o casamento era preciso que o marido fosse incapaz de praticar o ato sexual, por exemplo, havia várias coisas e nada disso se aplicava ao meu marido. E a minha mãe virou-se para mim e disse-me: “Isto tudo é muito bonito, mas isto resolve-se com dinheiro”. Acabou de pregar mais um prego na minha confiança na Igreja Católica. Portanto, até 1975, até o Salgado Zenha ter posto fim à Concordata, não me pude divorciar. Tinha jurado a mim própria não voltar a casar. Não me dei bem com o primeiro casamento e não queria um homem para nada. E achava que as pessoas podiam viver em duas casas perfeitamente felizes, opinião que não era partilhada por muita gente. Acabei por me casar já tarde com o António [Barreto], em parte também, porque é complicado à luz do Direito. As pessoas que vivem em união de facto não têm os mesmos privilégios. E tinha a ver com a herança dos meus filhos. O António não tem filhos e eu tenho e era para proteger os meus filhos. Um conselho do Medina Carreira. Fizemos um testamento cruzado e foi isso, um casamento um bocado pragmático.
“Gostava de tornar o meu país melhor, mais culto e mais rico”
Se pudesse escolher outra época para ter vivido, gostaria de o fazer?
Gostaria e sei qual era.
Qual era?
É uma época larga. É de 1851 a 1890.
E porquê?
Em 1851 o país serenou depois de guerras civis muito más e entraram alguns governos liberais, e ainda há pouco falei nos miguelistas e nos liberais. Quem fez o golpe de 1851 foi um militar, claro, o marechal Saldanha, que é uma das personagens que eu, se tivesse tido tempo e se soubesse mais sobre a primeira metade do século XIX, teria escrito a sua biografia. É um ser extraordinário, pertencente às classes altíssimas e muito corajoso fisicamente. Em 1851 veio a estabilidade. Acabou-se esta ideia de que uma fação tem que matar a outra. Os miguelistas foram para a viola, foram todos lá para fora. Acabaram as lutas civis e a mortandade e eram severas. Depois, atravessou-se um período relativamente calmo e, em particular, a partir do final dos anos 60, em que houve uma crise bancária e económica, que deu azo a dois, três anos maus. Portanto, eu preferia, se pudesse escolher só um bocadinho, ter vivido entre 1872, em que houve alguma estabilidade internacional. As Conferências do Casino foram algo que acabou mas sem grande relevo, os historiadores portugueses é que acham que sim. Mas o Eça falou e disse o que queria, o Antero de Quental também. Era um regime monárquico que consagrava e acreditava na liberdade. Até porque podia. E como a liberdade para mim é o fundamental, escolhia ir até 1890.
O que havia de especial nessa época?
Havia um clima de enorme liberdade em Portugal, especialmente de liberdade de expressão. O que se passou, por exemplo, com o Crime do Padre Amaro, de Eça de Queirós, não era possível ter-se passado em nenhum outro país da Europa. O livro seria apreendido e proibido, como aconteceu no caso da Madame de Bovary, de Gustav Flaubert, em Paris, e o que aconteceria também em Inglaterra, provavelmente, por ser sacrílego ou coisa que o valha. Aqui, em parte o facto de haver muitos pobres e muitos camponeses favorecia, estranhamente, uma certa liberdade no que diz respeito à liberdade de imprensa. Ou seja, os governos tinham a certeza absoluta que nenhum camponês jamais iria ler e dizer fosse o que fosse, o que não sucedia lá fora. 1872 foi a data em que o Eça decidiu ir para a carreira diplomática e fez muito bem. Foi para Cuba e depois Newcastle, Bristol e mais tarde para França, onde viveu cerca de 20 anos até morrer. As pessoas criavam jornais, falavam, faziam conferências, diziam mal do rei, há poemas impensáveis, como um do Guerra Junqueiro a fazer quase que um apelo ao assassinato de D. Carlos. Havia de facto uma grande liberdade. Em 1890 apareceram uns grandes capitalistas ingleses em todo o mundo com desejos imperialistas em relação a África. Embora o primeiro-ministro da altura, em Inglaterra, o Salisbury, não fosse nada imperialista, porque era um inglês conservador da grande nobreza e estava muito contente com o Raj e a Índia e queria lá saber dos pretos. Mas havia alguns capitalistas que queriam ter a obtenção de monopólios, chamados de grandes companhias, de diamantes na África do Sul e de acesso ao mar. O Governo inglês mandou uma carta, o chamado Ultimato Britânico, dizendo que, de Angola a Moçambique, África era nossa desde o século XV e que exigia a nossa retirada militar, o que gerou uma histeria nacionalista em Portugal. Ou seja, os monarcas portugueses estão a vender-nos aos ingleses. Alguns ingleses foram maltratados nas ruas, na escola foi proibido ensinar inglês. Houve uma série de manifestações anti-inglesas e nasceu um novo patriotismo onde não me reconheço. É o patriotismo republicano, dizendo que a monarquia era culpada de tudo, e não era, a monarquia constitucional foi um bom regime. Portanto, a partir da histeria patriotista que se divulgou muito rapidamente, termina o meu período de escolha.
E portuguesa?
Não ponho a questão de não ser portuguesa porque as pessoas acham sempre que sou antipatriótica. Não sou antipatriótica. Se me preocupo com Portugal e se escrevo sobre Portugal é porque que remédio tenho eu. Sou realista. Não vale a pena estar a pensar que podia ter nascido noutro sítio. Não sou pateta. Gostava de tornar o meu país melhor, mais culto e mais rico. E, na medida das minhas possibilidades, foi isso que tentei toda a vida.
Mesmo assim, não gosta mais de viver hoje?
Sim. Se sou sensível à liberdade e à liberdade de expressão, sou igualmente sensível à miséria. Não suporto viver num país em que as pessoas, agora com a crise, tenham que roubar um pão para dar aos filhos. Isso é o que mais me dói, pertencer a uma comunidade que não se preocupa com a pobreza. E não se preocupa! Durante o salazarismo, o que se dizia aos pobres era para terem paciência, sabe Deus para quê, e dava-se-lhes uma esmola ou uma sopa. Isso acabou, essa espécie de caridade católica. E agora no meio desta crise, embora seja uma crise mundial, preocupo-me muito com as pessoas que chegam a casa e não têm o que comer e o que dar aos filhos. Isso vem à frente da liberdade.
Sente-se uma privilegiada?
Completamente. Acho que mereci alguma coisa, mas nasci já num meio privilegiado. Se tivesse nascido em Freixo de Espada À Cinta, filha de uns pais analfabetos, podia espernear o mais que pudesse, mas nunca chegaria onde cheguei.


















