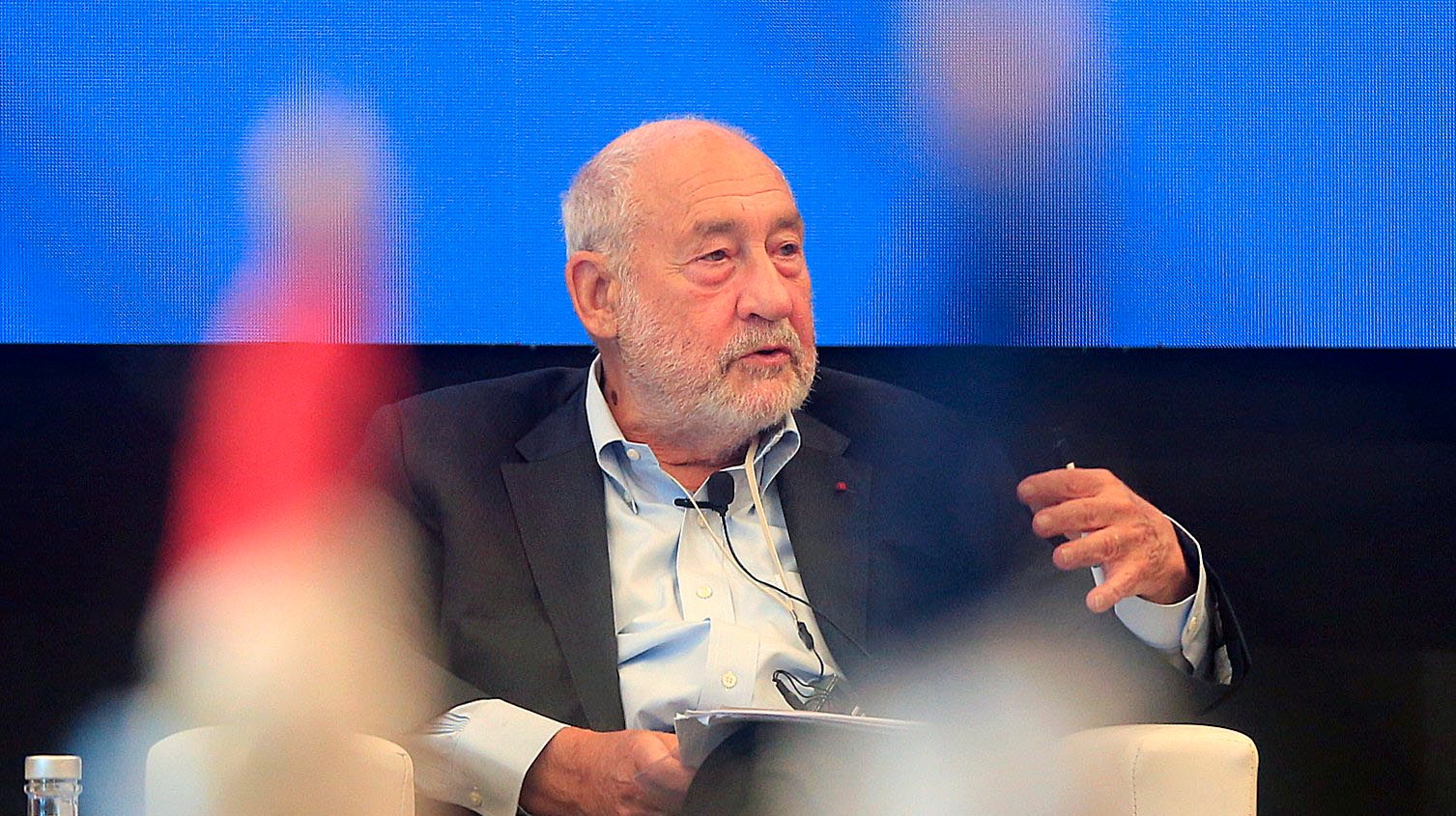As revoluções nacionais
“As revoluções portuguesas têm uma característica: não são as oposições que triunfam, são os governos que caiem”. A História confirma esta observação de João Franco, chefe de governo de D. Carlos: foi assim em 1820, foi assim em 1910, foi assim em 1926. E foi também assim em 1974.
Para a queda dos governos ou regimes contribuíram sempre a mudança do “poder cultural”, com a consequente quebra da legitimidade, e a divisão entre as forças no poder. Houve também sempre um homem do momento, que tendia depois a afastar-se ou a ser afastado, e o agente próximo e directo do último acto revolucionário foram quase sempre os militares, que, por acção ou inacção, executaram ou deixaram acontecer a cena final, geralmente trágica ou trágico-cómica.
Fizeram-no em 1820, arrancando do Porto, em resposta ao apelo dos magistrados liberais do Sinédrio; e, depois de 14 anos de Constituição, Carta, Absolutismo, Revolução, Contrarrevolução, Guerra Civil, o Liberalismo triunfou. E triunfou graças à incompetência dos generais miguelistas no cerco ao Porto e à competência do trio liberal – D. Pedro, Palmela e Terceira –, coadjuvado pelos barcos a vapor de Napier.
Em 5 de Outubro de 1910, com um jovem rei de recurso, uma mãe e uma avó traumatizadas pelo assassínio do Rei e do Príncipe Herdeiro no Terreiro do Paço e um chefe do Governo, Teixeira de Sousa, incompetente e de ideias confusas, a Monarquia foi derrubada pelo golpe audacioso de Machado Santos. E em Maio de 1926, os capitães e tenentes do RI8, de Braga, oficialmente liderados por Gomes da Costa, um general valente, mas com pouco tacto político, começaram uma revolução que, em poucos dias, fez a convergência do país sobre Lisboa.
Em 25 de Abril de 1974, foram umas centenas de soldados-recrutas, comandados pelos oficiais do MFA, que derrubaram o Estado Novo, iniciando um processo revolucionário que levaria rapidamente ao fim do Império português e de novo ao sonho ou ao pesadelo de uma República Socialista na Península. Depois de uma série de golpes e contragolpes pretorianos – e graças à reacção popular no Verão de 1975 – o 25 de Novembro veio pôr fim ao sonho dos que queriam “cumprir Abril” através de uma “democracia não representativa” e trouxe uma democracia representativa estabilizada.
Em Portugal, os regimes políticos sucessivamente derrubados estavam, quando não já acabados, suficientemente abalados e debilitados para que um pequeno sopro ou empurrão chegasse para os virar. Em qualquer dos casos, os responsáveis pelo poder tinham já grandes dúvidas sobre a própria legitimidade e as forças militares e de segurança estavam divididas. Quando veio a revolução do Porto, em 1820, D. João VI e Beresford estavam no Brasil, e na Guerra Civil os generais miguelistas não se entendiam; Teixeira de Sousa, o chefe do Governo de D. Manuel II, em Outubro de 1910, era amigo dos líderes republicanos e dialogante com a revolução; e em 1926, convergia contra os Democráticos a hostilidade de quase todos: da extrema-esquerda à extrema-direita.
A eutanásia do Estado Novo
O 25 de Abril foi um golpe militar que derrubou um regime criado e desenhado por Salazar e que só podia funcionar com ele. Marcelo Caetano tinha proclamado a “renovação na continuidade”, mas acabara a tentar um impossível salazarismo sem Salazar. De resto, depois da independência da Argélia, que deixara Lisboa como o último e único poder europeu com império colonial – e um poder autoritário –, os dados estavam lançados.
Assim, o 25 de Abril acabou por ser uma espécie de eutanásia aplicada a um regime débil e dividido. Veio da esquerda, ou foi convertido por uma esquerda que se transformou, rapidamente, em mentora do núcleo duro do MFA. Até porque o MFA era um movimento de reivindicação corporativa e qualquer solução à direita implicaria a continuidade da guerra de África – cujo fim era o principal objectivo de quem estava por detrás conspiradores. Daí a esquerdização progressiva do PREC, que só acabou duas semanas depois da independência de Angola, com o 25 de Novembro de 1975. O objectivo do Partido Comunista ou da URSS estava cumprido.
O homem do momento
Otelo Saraiva de Carvalho foi o “homem do momento”, um protagonista histórico na logística revolucionária ou o alegado cérebro de um golpe militar. Mas não se afastou, como Salgueiro Maia, nem foi afastado, como Gomes da Costa: antes se elevou e foi elevado a patrão do COPCON e a estrela da revolução radical, para acabar, nos anos oitenta, como inspirador de um grupo terrorista, autor de dezena e meia de assassinatos.
Assim, um homem comum, com uma folha de serviços banal, sem grandes ideias ou convicções, acabou por transformar-se no protagonista de acontecimentos decisivos. Quis o destino, os ventos da História e o absentismo dos responsáveis que tivesse sido ele o agente visível da eutanásia do Estado Novo marcelista. Mas eram males que vinham de longe e o veneno próximo já o tinha administrado o general Spínola, com Portugal e o Futuro, um livro que fazia a guineízação do Império Português, extrapolando a situação político-militar da Guiné a Angola e a Moçambique.
E se o 28 de Maio também já tinha sido uma revolução de capitães e tenentes, com um general, Gomes da Costa, para compor o retrato, e outro, Carmona, para assegurar a transição, em Abril, Spínola serviria para dar algum ar de respeitabilidade e tranquilidade ao “Ocidente”. Até porque uma revolução de capitães era mais uma coisa da Argélia ou da Líbia do que da metade norte do Mediterrâneo.
Têm, no entanto, razão os seus correligionários em homenageá-lo como “carismático condutor do golpe de Estado”, sobretudo por ter intuído que, apesar da superioridade material das “forças de ordem”, não havia vontade política que as comandasse; e por ter depois humilhado os generais sobreviventes que se deixaram humilhar. E ainda pela noite do 28 de Setembro, quando iludiu Spínola e os seus que, depois de o terem detido, o deixaram à solta para telefonar de Belém e mandar prender “preventivamente” centenas de “reaccionários”. Foi, de facto, também Otelo quem conseguiu a proeza de encher de presos políticos os cárceres da “jovem democracia”; presos que, cinco meses depois do 25 de Abril, já excediam largamente em número os que ali estavam no fim do regime deposto.
No tempo do poder de Otelo em Portugal eu estava em Angola, no Uíge, como voluntário. Foi aí que fiquei a saber que era um dos muitos que o então patrão do COPCON mandara prender em Lisboa, no 28 de Setembro, com os tais mandados em branco, por “associação de malfeitores”. E foi do exílio que fui seguindo o seu percurso de chefe pretoriano transformado em condottiere político-militar, o seu protagonismo em tempos trágicos, que só o facto de sermos uma nação muito antiga, onde os elementos identitários e o senso comum ainda prevaleciam na maioria do povo e da sociedade impediu que fossem mais sanguinários.
Já cá estava quando Otelo passou à acção directa, nos anos 80, já depois de estabilizado o regime democrático, chefiando ou patrocinando um movimento terrorista que matou, feriu, plantou bombas, assaltou bancos. A frio. Aprovando em reuniões de encapuçados listas de pessoas a eliminar. Já longe do calor da revolução e do tempo “do terrorismo de extrema-direita”, que acabou em 77.
As amplas liberdades democráticas de 74-75
Na boa tradição da Primeira República portuguesa, da jovem democracia da Terceira República começou também a emergir uma classe superior: uma classe de “democratas vigilantes” que, coadjuvados pela gritante extrema-esquerda, se encarregaram de perseguir e proibir forças políticas, como o Movimento Federalista Português/Partido do Progresso, que não se coadunavam com a sua índole ou criticavam o modelo de descolonização adoptado. E foi a burla do 28 de Setembro, com a prisão de centenas de suspeitos a partir de listas elaboradas por critérios de perigosidade latente. E aqui, o entretanto brigadeiro Otelo e o seu COPCON assumiram as funções de polícias, interrogadores, juízes, carcereiros e até de torturadores. E com o silêncio quase total dos partidos democráticos, poupados e assustados depois do episódio “maioria silenciosa”.
Mário Soares e o PS só começaram a defender activamente as liberdades públicas quando viram, nos princípios de 1975, que eram eles as próximas vítimas. E depois de uma outra intentona, a de 11 de Março, ter acordado a América e a Europa para um possível “golpe de Praga” lusitano, houve apoio externo e condições internas para a união nacional anticomunista.
No meio de tudo isto, subsistia Otelo, narcisista, eufórico, solipsista, excitado, um Otelo que no Verão de 75, com a fúria popular reactiva a descer de Norte a Sul sobre as sedes do PCP, se passeava por Cuba, onde ficou 10 dias, com tratamento VIP dos irmãos Castro e o próprio Fidel a conduzi-lo em viatura aberta.
A doença infantil do comunismo
Na altura, o comandante do COPCON oscilava entre as suas neo-inclinações radicais (imaginando-se o Fidel da Europa) e as ligações de amizade que mantinha com os que, no MFA, eram “os moderados”. Havia esperança entre os comunistas que a sua visita à Jerusalém mítica do esquerdismo revolucionário e as homilias de Fidel o iluminassem, fazendo com que o chefe do COPCON pendesse mais para o lado dos comunistas de Vasco Gonçalves.
Mas não. Otelo padecia daquilo a que Lenine chamara “a doença infantil do comunismo”. Por isso, no fim do Verão de 75, Álvaro Cunhal já não tinha dúvidas de que, se houvesse uma guerra civil em Portugal, os comunistas a perderiam. E, por isso, não a quis. Os soviéticos, que ainda existiam e mandavam, só queriam que Lisboa completasse a Descolonização. Depois, era para esquecer e para abandonar a testa-de-ponte lusitana com o mínimo de perdas. E foi o pós-25 de Novembro, com Eanes, Soares, Melo Antunes a evitarem o alargamento da confrontação e a salvarem o PCP da contrarrevolução, depois das companhias de Comandos de Jaime Neves e Victor Ribeiro terem limpado a casa.
Luto nacional
Otelo Saraiva de Carvalho, apolítico até 74, (há uma estranha passagem pela Legião Portuguesa nos anos 60) ficou ligado ao plano do 25 de Abril. O MFA, criado por razões essencialmente corporativas (o acesso dos oficiais do QEO às promoções que perturbava as Listas de Antiguidade), foi-se politizando e, na ausência de alternativa ideológica militar, esquerdizou-se.
Os dirigentes governamentais, pelos seus movimentos e inércia, arrastaram a rendição de forças sem comando nem controle. O golpe de Abril em Lisboa foi incruento, fora os mortos nos incidentes com a PIDE-DGS, seguindo uma tradição da Primeira República, em que os movimentos ou revoltas exclusivamente militares, sem civis armados, não tinham, geralmente, baixas significativas.
Otelo Saraiva de Carvalho, como comandante operacional e “cérebro da Revolução”, e depois como comandante do COPCON, tornou-se uma figura central do PREC.
Narcisista, emocional, dizem os seus amigos que ingénuo e mesmo “bom rapaz”, foi muito influenciado e até orientado pelo seu Estado-Maior, mais ideológico e mais determinado politicamente. Mas a sua assinatura está nos mandados de captura sem culpa formada, sem rúbrica de juiz, emitidos arbitraria e generosamente no Portugal de 1974-75, e na sua volátil e tristemente consequente “inconsequência”.
Em 1976 optou pela política como líder e emblema da “esquerda revolucionária” radical, sempre contaminado pela “doença infantil do comunismo” e pela sede de protagonismo. Tinha carisma e alimentavam-lhe a vaidade. Em 1976 teve grande apoio: mais de 16%, 800.000 votos, nas presidenciais. Em 1980 baixou para 1,4%.
Nos anos 80, depois do seu fracasso na democracia representativa e incapaz de deixar o palco, tutelou uma organização terrorista que assassinou dezena e meia de pessoas, que assaltou bancos, que plantou bombas.
Foi condenado em processo regular e resgatado por uma amnistia política ad personam, para que “não se falasse mais nisso”. A amnistia vinha com uma mensagem implícita do Regime: em Portugal, a democracia era o governo, não do povo, mas dos “democratas”. E eram, essencialmente, estes “democratas” quem dizia o que era e o que não era a democracia e o que devia ou não esquecer-se ou tolerar-se.
Ainda hoje é assim. São estes mesmos “democratas” – os mesmos que vêm a “ameaça da extrema-direita iliberal” e um “populista” em cada esquina –, que nos dizem agora que Otelo era popular e sentia e respondia ao apelo do povo; que queria, tão só, um “outro tipo de regime”, uma “democracia mais directa”, enfim, que “não acreditava na democracia representativa”. Que fora, depois, já nos anos 80, um sonhador deprimido pelo 25 de Novembro e pelo fim da “festa de Abril”, saudoso do PREC e das suas prisões, desmandos e sevícias; e que se limitara a continuar a sonhar e a prosseguir de forma ainda mais enfática o seu incansável combate contra a “ameaça fascista” da democracia representativa instituída. E que os seus crimes devem, por isso, ser recordados com um meio sorriso quase enternecido, como as pequenas travessuras de um “herói da Abril”.
Mas nem todos pensam assim. Para os mais moderados, a única coisa que a História, por enquanto, consegue apurar com clareza é que Otelo, no 25 de Abril, foi “o herói do momento”; sobre o resto, cai uma espessa amnistia amnésica, que só num futuro longínquo eventuais historiadores eventualmente menos amnésicos poderão, eventualmente, descortinar.
Decrete-se, por tudo isto, luto nacional. Bandeira a meia-haste.
Quanto a Otelo, paz à sua alma.