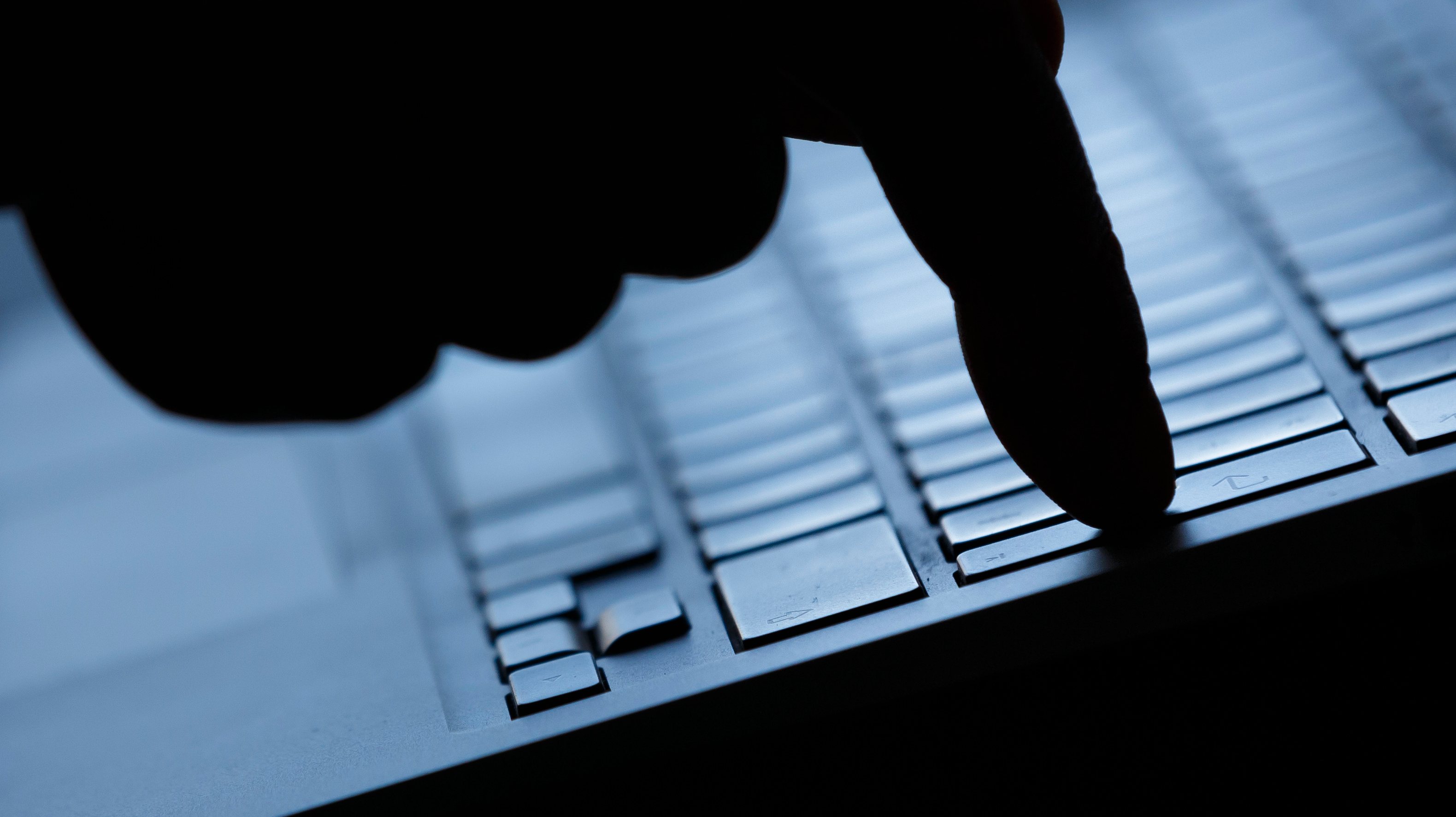É o mais democrático de todos os pratos. De norte a sul do país podemos encontrá-lo praticamente em todas as localidades, onde milhares de restaurantes o confecionam com regularidade, em dias específicos ou mediante encomenda, sempre num ritual programado e sujeito a uma liturgia cumprida por devotos “bandos de gulosos” que, por tão aguardado momento, são capazes de se deslocar centenas de quilómetros.
Se a verdade falasse mais alto que o pretensioso convencimento de que me encontro minimamente habilitado a falar deste prato, teria de admitir que durante anos não lhe reconheci nenhum encanto particular. Recordo mesmo que, quando criança, comer um “Cozido” significava infindáveis horas a uma mesa, horas onde se ingeria muito para além do fisiológico, e eu miúdo, inquieto por um desassossego que não me era permitido, ansiava pelo fim de um convívio cujo significado a ainda meninice não me permitia reconhecer. Foi quando a amizade e a confraternização com os outros os mais queridos e chegados, foi só quando a acendalha do convívio se ateou que entendi o desafio contido em – Vamos-Comer-um-Cozido, como uma disponibilidade para em tertúlia se debicarem palavras e afetos, sobre os que já partiram, os que não nos acompanharam, os cuja saudade nos cresce na memória e, no que é a principal razão para o convívio, o prazer de participar e em grupo comentar as mais prosaicas ou bizarras versões da atualidade. E sim, comer um “Cozido-à-Portuguesa” é um acto cívico, uma reflexão política, um direito que não nos pode ser “proibido” pelos níveis de colesterol, ácido úrico ou por essa traiçoeira hipertensão arterial.
Comer um cozido, um “Cozido-à-Portuguesa”, é muito mais que saborear um prato complexo, tão diverso nos constituintes e na confeção, que fica difícil, senão impossível, identificar um que sobressaia como a forma típica de o preparar, um que seja típico o suficiente para justamente ser apelidado de o “à Portuguesa”. Porém, a variedade e diversidade não são exclusivos da travessa. Comer um cozido é também ter à mesa, debaixo daquele mesmo pretexto, uma variedade de amigos que, “gulosos” uns dos outros, encontraram no desafio, a justificação suficiente para um aguardado reencontro. Diversos na origem, diversos nos gostos, nas inclinações políticas ou sociais, nada ali importa, a diversidade do prato inspira a própria diversidade de um grupo que doutra forma não estaria reunido. Vamos-Comer-um-Cozido é muito mais que uma procura gastronómica e a saturação das papilas gustativas, é uma ordem de reunião onde todos, independentemente das origens e destinos são impelidos a responder com a sua presença. O “Cozido-à-Portuguesa” é a democracia servida à mesa, um espírito democrático patente na diversidade e simplicidade dos alimentos, bem como nos convivas que sentados em seu redor, refletem os princípios de liberdade e fraternidade celebrados no Novo Testamento e reafirmados no século das luzes.
A designação de “Cozido-à-Portuguesa”, ou “Cozido Português” como prefere Nuno Diniz chamar-lhe, implica que outros haja noutras paragens que também tenham sido apropriados por nacionalismos regionais. Logo à partida vem-nos à memória o “Cozido Madrileno”, um prato típico da culinária espanhola, eventualmente com origens na tradição judaica, mas adulterado ao longo dos anos com a inclusão de múltiplas carnes. É um cozido com um ethos idêntico ao português, um prato onde se reúnem em cozedura conjunta muitos e variados elementos gastronómicos que de outra forma seriam confecionados isoladamente. Se a composição o remete para as classes mais abastadas, também o pathos que impregna é diferente. O dito “à Madrilena” não tem a mesma idiossincrasia que o nacional, não é democrático. Este cozido da região central da meseta ibérica tem uma conotação régia imposta pela presença de um elemento que aspira à preponderância sobre todos os restantes, o grão-de-bico. E esta filosofia na conceção da iguaria faz toda a diferença, pois recai nos ombros de um único elemento gastronómico toda a coesão e graciosidade do prato. E convenhamos, por muito que se goste de gravanço, ele, pelas suas qualidades e características organoléticas, ou pelo que desperta nas papilas gustativas, perde aos pontos para muitos outros constituintes. Contudo é assim que os espanhóis o apreciam, e assim, tal como fizeram com a monarquia, transformaram-no num símbolo nacional. Por entre as muitas “armadilhas” empratadas no “à Madrilena” tiveram sorte, podiam ter escolhido o nabo, e aí a comparação ficava estranha.
A preparação em simultâneo de uma diversidade grande de alimentos não é uma característica ibérica e várias são as culturas com abordagem gastronómica semelhante. Há geografias onde a confeção de diversos alimentos em simultâneo foi popularizada pela disponibilidade de equipamentos apropriados, como o “puchero” espanhol que se globalizou durante o período quinhentista, o “tagine” da áfrica mediterrânica ocidental e o “hotpot” disseminado no mundo asiático. Estes equipamentos permitem a confeção de vários alimentos em simultâneo, variando as designações e respectivas composições com a geografia. Numa perspectiva social destaca-se o “hotpot” asiático, um equipamento que permite a cada comensal escolher os ingredientes da sua refeição, para a confecionar em conjunto, o que confere ao ritual as características sociais que também assinalamos no “Cozido-à-Portuguesa”. Ninguém prepara um prato destes só para si, não faz sentido.
Para além das possibilidades oferecidas pelos equipamentos, podemos ainda incluir como manás similares o “Pot-au-Feu” belga, que utiliza carne cozida com vegetais; o “Hotpot do Lancashire” do Reino Unido que inclui cordeiro cozido com legumes e batata fatiada; o “Puchero das Canárias” com carne, batata-doce e legumes; o “Rheinischer Sauerbraten“ germânico um prato de carne marinada cozida com legumes; o “Boeuf Bourguignon” francês com carne bovina cozida em vinho tinto, vegetais e cogumelos; o “Sancocho” da América Latina com carne tubérculos e vegetais; o “Biryani” indiano que para além do arroz inclui carne, especiarias e vegetais cozidos em camadas; o “Hāngī” da Nova Zelândia, uma gastronomia Maori onde carne, vegetais e peixe são cozidos num buraco no chão aquecido por pedras; o “Gumbo” norte-americano, um protagonista da culinária cajun que inclui e carne, mariscos e vegetais cozidos em conjunto; os “Dolma” do médio oriente onde folhas de videira recheadas com carne, arroz e especiarias são cozidos em conjunto; e os “Tagine” de Marrocos onde num recipiente de cerâmica cônico, se confeciona carne, legumes e frutas numa cozedura conjunta e lenta.
Se pelo mundo a preparação dos alimentos depende de características regionais, sociais, religiosas e outras formas de expressão cultural, também no “pequeno retângulo” português encontramos muitas diferenças na forma de confecionar um “Cozido-à-Portuguesa”. Uma tal variedade que levou Nuno Diniz a propor a alteração do nome para “Cozido Português”, pois, diz ele com ironia, a diversidade é tal que em comum poderá ter apenas a água da cozedura. Desde o cozido das furnas, que para além de impregnar os paladares da grande variedade das carnes e legumes, é único por se deixar embeber pelos aromas geotérmicos circundantes, passando pelo cozido beirão caracterizado pela utilização exclusiva de carnes suínas, o minhoto, o alentejano, o portuense, uns com arroz, outros com feijão ou grão-de-bico, com carne de vaca, frango, ou borrego, enfim toda uma diversidade na composição, que reflete a disponibilidade da região e a época em que a preparação ocorre. Todavia, por mais diversa que a composição seja, há algo comum a todos eles. Começam todos pela “ordem a reunir” contida na expressão Vamos-Comer-um-Cozido.
Por vezes ocorrem inovações em que a dimensão social do prato é preservada, como é o “Cozido-à-Portuguesa” confecionado no pão. Esta forma de o preparar é uma novidade, mas uma que preserva o ritual da composição e da degustação. Já outras “inovações” como as que se baseiam na desconstrução da essência e da complexidade, ou nas com origem na cozinha molecular em que se tenta refazer os sabores e consistência, são adulterações que mitigam a democraticidade dos integrantes e que lhes retira a conotação social do apelo à reunião.
O “Cozido-à-Portuguesa” é como o sexo. Cada um come do que gosta e como quer. Há quem goste de “focinheira” então coma-a; há quem goste de couves, pois sirva-se; há quem goste de “embutidos”, pois vá em frente; há quem goste de tudo, então lambuze-se, ninguém repara; há quem “chuche” os ossos à mão, esteja à vontade; há quem não goste de se sujar e debique com talheres. Vai ficar para trás, mas que que não seja por isso. Há no “Cozido-à-Portuguesa” um sentimento de orgia onde cada um come o que lhe aprouver, como lhe aprouver, sem se sentir pressionado por uma qualquer crítica social. Cada um é livre de comer o que quer, e esta é uma característica da democracia de um prato onde numa apresentação de “tudo ao molho” cada um encontra a sua satisfação.
É impossível fazer uma comparação dos vários “Cozido-à-Portuguesa” de forma a eleger o mais saboroso e completo. Frequentemente ouvimos dizer, “comi um cozido fantástico”, ou comi um outro que “de aspecto era apetitoso”, mas que no pós gula apenas sobrou desapontamento. Frequentemente somos atraídos por um dado cozido, um cozido cujas imagens ou descrição nos despertou a atenção, mas quando o abordamos logo pela receção lhe antevemos o fracasso que nos espera. Porém se fomos até ali, se palmilhamos tantas horas para nos aproximar, não temos a lucidez de recuar e reconhecer que aquele não é para o “nosso estômago”. Ficamos alucinados pelo momento deixamo-nos envolver por um prato de que mais tarde nos vamos arrepender. É a vertigem da gula que nos faz sentir capazes de comer todos os cozidos do mundo, nunca o iremos conseguir. É ter mais olhos que barriga, quando muito podemos provar os que nos “caem no prato”. Comê-los a todos, está fora de questão.
Historicamente de origem desconhecida, o “Cozido-à-Portuguesa” pode ter a sua génese em tradições do norte de África, ou noutras espanholas ou italianas. Ao certo não se sabe. As primeiras referencias que se lhe reconhecem remontam ao século XVII, motivo pelo qual se pensa que o mesmo possa ter derivado de uma tradição espanhola importada durante a ocupação. É a favor desta hipótese o “cozido alentejano” uma variante que tem no gravanço um papel de destaque. Verdade ou não, a primeira referência que se lhe conhece é do século XVII de Domingos Rodrigues, cozinheiro da casa Real de Portugal, que se lhe refere como um prato riquíssimo à base de peças de caça como perdizes, coelho e pombo, acompanhado por castanhas, nabo e ervas aromáticas. Era um prato nobre na sua composição não estando por isso ao alcance da plebe. Se aristocrata na origem, com os anos a sua composição foi-se diversificando, e passou a incluir carnes “embutidas” e outras de proveniência diversa e mais acessíveis aos estratos sociais mais baixos. Nos lares mais humildes, este prato era ainda confecionado de acordo com uma “ecologia da necessidade” como forma de aproveitar restos de outras refeições que de outra forma seriam desperdícios. Eu gosto de pensar no cozido como uma refeição gizada pelo engenho do povo. Este é o meu cozido! Este é o meu Portugal!
Há assim um processo de popularidade crescente de um prato que tem raízes na nobreza e nos seus apetites, e que posteriormente se divulgou a ponto de se ter tornado um prato popular que as pulsões nacionalistas do século XIX trataram de incluir numa “simbologia fabricada” indispensável à consolidação da nacionalidade. É assim que o prato entra dentro do léxico popular enquanto símbolo nacional, elemento de coesão e de sentimento de pertença – o “Cozido-à-Portuguesa”, por oposição a outros pratos semelhantes que de outras geografias serão sempre vistos como dos “outros”.
Sendo o “Cozido-à-Portuguesa”, um símbolo nacional, seria de esperar que o mesmo atravessasse a nossa “alta-cultura” com alguma exuberância. Ora tal não aconteceu, e sua expressão na literatura é frívola e displicente. Os nossos escritores sempre foram mais ávidos a tratar dos assuntos do coração que os do conforto gástrico. Poucos foram os escritores que trouxeram para a literatura os hábitos gastronómicos nacionais. Eça de Queirós descreve-os nos seus romances mas centra-se nos hábitos alimentares de uma burguesia estrangeirada sem olhar para o “Cozido-à-Portuguesa” como um símbolo nacional. Outros como Aquilino Ribeiro referem-se-lhe enquanto uma gastronomia de proprietários agrícolas abastados e Júlio Dinis menciona-o com uma conotação mais popular. No conjunto são parcas as referências a um prato com a dignidade de símbolo nacional, um prato diversificado e constituído pelo que de mais genuíno germina no nosso campo, mas que também com uma dimensão social contida na ordem de celebração de Vamos-Comer-um-Cozido.
Noutras literaturas são exceção Miguel Esteves Cardoso e um Nuno Diniz, já citado e mais preocupado com a confeção, e outros como José Vilhena que o tratou o pelo lado brejeiro, ou Domingos Amaral que usa o epíteto como metáfora para uma caricatura nacional.
Ainda que muitos tentem eleger um “Cozido-à-Portuguesa”, como o típico da culinária portuguesa ou uma qualquer forma como a “mais tradicional” de o confecionar, o certo é que não há nenhum racional que justifique este exercício. A essência do prato assenta mais na diversidade dos seus constituintes e na participação social de uma partilha com raiz em celebrações religiosas, de comunhão com o passado, ou de coesão entre o alimento do corpo e do espírito. Uma comunhão celebrada em festejos populares como o “Panelo” do Chão da Ribeira na Madeira, ou o “Bodo” dos festejos de Espírito Santo dos Açores, ou ainda, em inúmeras localidades de um Portugal onde periodicamente se relembra ao comer um “Cozido-à-Portuguesa” que sem pessoas e o sentido comunitário do cuidar dos mais necessitados, a celebração religiosa só por si não teria sentido.