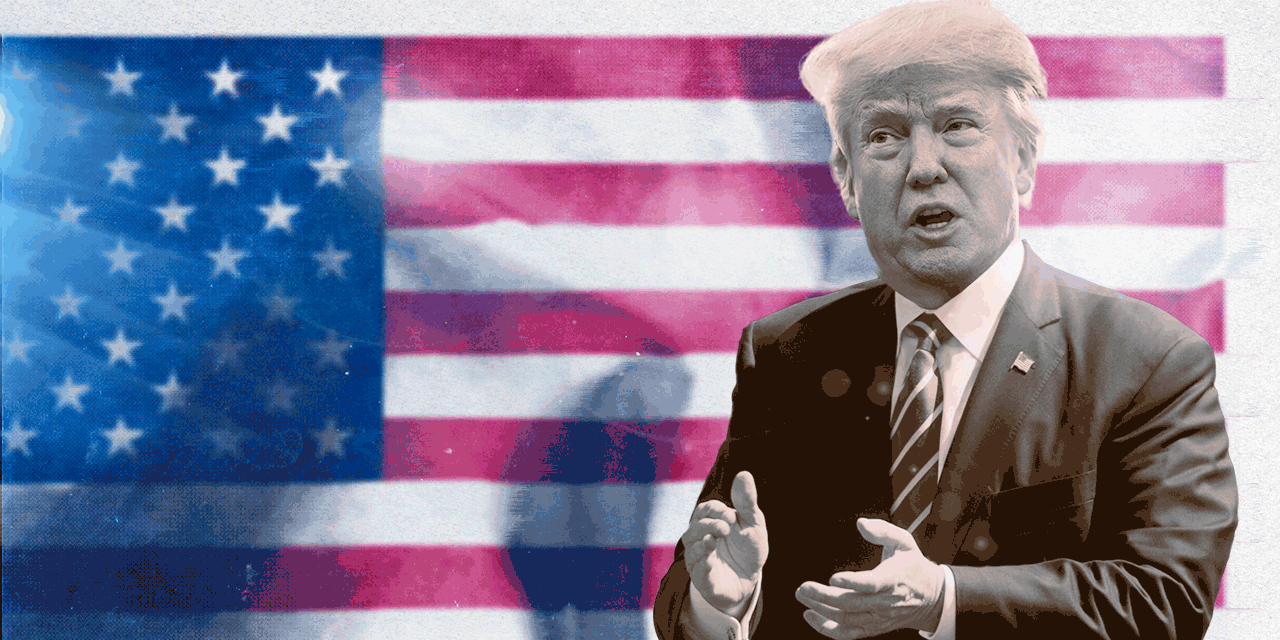É o livro mais polémico da actualidade e tem finalmente uma versão traduzida em português. “Fogo e Fúria” chega esta sexta feira, dia 23, às livrarias. “Fire and Fury”, no original, conta a história dos primeiros nove meses do mandato de Donald Trump enquanto Presidente dos EUA. O autor é Michael Wolff, jornalista com percurso feito em publicações como a “Vanity Fair” e a “New York”. Apesar de acusações de falta de honestidade dirigidas a Wolff, “Fogo e Fúria” transformou-se num bestseller. O Observador faz a pré-publicação de um excerto do primeiro capítulo, que faz revelações sobre o dia em que Trump venceu as eleições.

“Fogo e Fúria”, de Michael Wolff (Actual)
“Na tarde de 8 de novembro de 2016, Kellyanne Conway – diretora de campanha de Donald Trump e personagem central, ou, mais apropriadamente, estrela do Mundo Trump – instalou-se no seu escritório de fachada de vidro na Trump Tower. Até às últimas semanas da corrida, o quartel-general da campanha Trump fora um local incaracterístico. Tudo o que parecia distingui-lo de um backoffice empresarial eram alguns cartazes com slogans de extrema-direita.
O estado de espírito de Conway era agora notavelmente bem-disposto, considerando que se preparava para experimentar uma derrota retumbante, se não mesmo cataclísmica. Donald Trump iria perder a eleição – disso estava absolutamente certa –, mas a diferença situar-se-ia possivelmente abaixo dos 6 pontos. E isso representaria uma vitória substancial. Quanto à derrota iminente propriamente dita, minimizava o seu impacto: era culpa de Reince Priebus e não sua.
Dedicara uma boa parte do dia a telefonar a amigos e aliados políticos, com o intuito de lançar as culpas sobre Priebus. Agora, passava informações a alguns dos produtores e pivôs de televisão com quem construíra relacionamentos fortes – e junto dos quais, depois de com eles trocar ativamente informações ao longo das últimas semanas, se preparava para conseguir um lugar permanente no-ar após as eleições. Cortejara cuidadosamente muitos deles desde que se juntara à campanha Trump em meados de agosto e se transformara na voz fiável e combativa da campanha. E também, com os seus sorrisos espasmódicos e a estranha combinação de vulnerabilidade e imperturbabilidade, no seu rosto peculiarmente telegénico.
Para além dos outros horríveis erros na campanha, o problema real, nas suas palavras, era o demónio que não conseguia controlar: o Comité Nacional Republicano, dirigido por Priebus, pela sua braço-direito, Katie Walsh, de 32 anos, e pelo seu diretor de comunicação, Sean Spicer. Em lugar de estar completamente empenhado na campanha, o CNR, a grande ferramenta do establishment republicano, procurava antecipadamente minimizar as perdas, a partir do momento em que Trump conquistara a nomeação do partido no início do verão. Quando Trump mais precisava de um empurrão, não havia ninguém para o impulsionar.
Essa foi a primeira parte do raciocínio de Conway. A outra foi que, apesar de tudo, a campanha conseguira erguer-se penosamente do abismo. Uma equipa que padecia de uma grave falta de recursos, com, em termos práticos, o pior candidato da história política moderna – sempre que o nome de Trump era mencionado, Conway fazia a pantomina de revirar os olhos, ou simplesmente exibia um olhar mortiço – correra afinal extraordinariamente bem. Conway, que nunca participara numa campanha nacional e que, antes de Trump, dirigia uma pequena e insignificante firma de sondagens, tinha a perfeita noção de que seria no pós-campanha uma das principais vozes conservadoras nos canais de notícias por cabo.
Na verdade, um dos especialistas em sondagens de Trump, John McLaughlin, começara a sugerir, ao longo da última semana, que alguns estados fundamentais, até aí dados como perdidos, poderiam na verdade estar a mudar em favor de Trump. Mas nem Conway nem o próprio Trump, nem tão-pouco o seu genro, Jared Kushner – o verdadeiro diretor de campanha, ou, pelo menos, o encarregado pela família da respetiva monitorização –, vacilavam nesta certeza: aquela aventura inesperada em breve chegaria ao fim.
Apenas Steve Bannon, com a sua visão desalinhada, insistia em que os números se alterariam em favor de Trump. Mas o simples facto de ser esta a opinião de Bannon – de crazy Steve – era tudo menos tranquilizadora.
Quase todos os elementos da campanha, um grupo ainda muito reduzido, se consideravam uma equipa lúcida, perfeitamente realista acerca das suas hipóteses de vitória. O acordo tácito de todos era que não só Donald Trump não seria presidente, como provavelmente não deveria sê-lo. De forma muito conveniente, a primeira convicção significava que ninguém tinha de lidar com a segunda.
À medida que a campanha chegava ao fim, o próprio Trump sentia-se animado. Sobrevivera à divulgação da gravação Billy Bush, momento em que, no bruaá que se seguira, o CNR tivera o desplante de o pressionar a abandonar a corrida. O diretor do FBI, James Comey, depois de ter estranhamente colocado Hillary em lume brando ao afirmar que iria reabrir a investigação dos seus emails onze dias antes da eleição, ajudara a evitar uma vitória esmagadora de Clinton.
– Eu, se quiser, sou o homem mais teimoso do mundo – dissera Trump ao seu assistente intermitente, Sam Nunberg, no início da campanha.
– Mas quer ser presidente? – perguntara Nunberg (questão qualitativamente distinta do habitual teste existencial ao candidato: «Porque é que quer ser presidente?») Não obteve resposta.
A questão era que não tinha de haver resposta, visto que ele não ia ser presidente.
Roger Ailes, amigo de longa data de Trump, gostava de comentar que, para se entrar numa carreira na televisão, primeiro deve-se concorrer a presidente. Agora, Trump, encorajado por Ailes, deixava pairar rumores acerca de uma estação de televisão Trump. O futuro era grandioso.

▲ Roger Ailes, presidente da Fox News
Getty Images
Sairia desta campanha, assegurou Trump a Ailes, senhor de uma marca muito mais poderosa, e oportunidades inimagináveis. «Isto é maior do que alguma vez sonhei», disse-lhe em conversa uma semana antes das eleições. «Não penso em perder porque não se trata de perder. Vencemos em todas as frentes.» E mais do que isso, já tinha preparado a sua resposta pública para a derrota nas eleições: Fomos roubados!
Donald Trump e o seu pequeno grupo de guerreiros de campanha estavam preparados para perder com fogo e fúria. O que não estavam era preparados para ganhar.
***
Na política, alguém tem de perder, mas, invariavelmente, toda a gente acha que pode ganhar. E até é provável que seja impossível vencer a não ser que se ache que se vencerá – exceto na campanha Trump.
O leitmotif para Trump relativamente à sua campanha era a sua mediocridade, conduzida por falhados. Estava igualmente convencido de que os apoiantes de Clinton eram brilhantes vencedores – «Eles têm o melhor e nós temos o pior», dizia frequentemente. O tempo despendido junto de Trump no avião de campanha constituía amiúde uma experiência epicamente insultuosa: todos os que o rodeavam eram idiotas.
Corey Lewandowski, que desempenhara funções semioficiais como primeiro diretor de campanha de Trump, era frequentemente censurado pelo candidato. Meses a fio, Trump chamara-lhe «o pior de todos» até finalmente o despedir em junho de 2016. A partir daí, porém, passou a declarar constantemente a sua campanha condenada, devido à ausência de Lewandowski. «Somos todos uns falhados», dizia ele então. «Os nossos são terríveis, ninguém sabe o que está a fazer… Quem me dera que o Corey voltasse.» E rapidamente projetou igualmente o seu azedume sobre o seu segundo diretor de campanha, Paul Manafort.
Em agosto, seguindo atrás de Clinton por uma diferença de 12 a 17 pontos e confrontado com bombardeamentos diários de uma imprensa hostil, Trump era incapaz de conceber sequer um cenário longínquo de vitória eleitoral. Nesse momento sombrio, Trump, a um nível absolutamente essencial, vendeu a sua campanha perdedora. O bilionário de extrema-direita Bob Mercer, apoiante de Ted Cruz, mudara o seu apoio para Trump, com uma infusão financeira de 5 milhões de dólares. Convencido de que a campanha se estava a afundar, Mercer e a filha Rebekah voaram de helicóptero da sua propriedade de Long Island para uma sessão de angariação de fundos previamente agendada – enquanto outros potenciais doadores abandonavam o barco segundo após segundo – na residência de verão nos Hamptons de Woody Johnson, proprietário dos New York Jets e herdeiro da Johnson & Johnson.
Trump não tinha qualquer relação digna do nome nem com o pai nem com a filha. Limitara-se a algumas conversas com Bob Mercer, que se exprimia essencialmente por monossílabos; quanto a Rebekah Mercer, todo o historial da sua relação com Trump se resumia a uma selfie tirada com ele na Trump Tower. Mas quando os Mercers apresentaram o seu plano para assumirem o controlo da campanha e instalarem nos principais cargos os seus tenentes, Steve Bannon e Kellyanne Conway, Trump não ofereceu resistência. Limitou-se a expressar o seu espanto por alguém querer sequer fazê-lo. «Isto está tudo completamente lixado», disse ele aos Mercers.
Segundo todos os indicadores dignos de crédito, algo de mais avassalador que o simples pessimismo ensombrava aquilo que Steve Bannon designava «a campanha dos broke-dicks», campanha dos inúteis – uma noção de impossibilidade estrutural.
O candidato que se apresentava a si próprio como multimilionário – vezes sem conta – recusava-se sequer a investir o seu próprio dinheiro na campanha. Bannon comunicou a Jared Kushner – o qual, quando Bannon entrou na campanha, estava de férias na Croácia com a mulher, na companhia de David Geffen, inimigo de Trump – que, após o primeiro debate de setembro, necessitariam de 50 milhões de dólares suplementares para cobrir as despesas até ao dia das eleições.
– Só lhe conseguiríamos angariar 50 milhões se pudéssemos garantir que ele ganhava – respondeu Kushner sem deixar margem para dúvidas.
– E 25 milhões? – insistiu Bannon.
– Só se conseguirmos dizer que a vitória é mais do que provável.
Por fim, o melhor que Trump fez foi emprestar à campanha 10 milhões de dólares, na condição de os reaver assim que outras verbas pudessem ser angariadas. (Steve Mnuchin, então diretor financeiro, foi recolher o empréstimo com as instruções de transferência já prontas, não fosse Trump esquecer-se convenientemente de enviar o dinheiro.)
Não havia, na verdade, uma campanha real, visto não existir uma organização real – quando muito, uma organização singularmente disfuncional. Roger Stone, de início o verdadeiro diretor de campanha, despediu-se ou foi despedido por Trump – afirmando cada um dos dois ter batido com a porta ao outro. Sam Nunberg, um assistente de Trump que trabalhara para Stone, foi ruidosamente afastado por Lewandowski, após o que Trump aumentou exponencialmente a lavagem da roupa suja em público ao processar Nunberg. Lewandowski e Hope Hicks, a assistente de relações públicas adicionada à campanha por Ivanka Trump, tiveram um caso amoroso que acabou em briga pública em plena rua – um incidente citado por Nunberg na sua resposta ao processo movido por Trump. A campanha, manifestamente, não estava destinada a ganhar fosse o que fosse.
Mesmo depois de Trump eliminar os outros dezasseis candidatos republicanos, por mais implausível que isso pudesse ter parecido, o objetivo último de conquistar a presidência não parecia menos inconcebível.

▲ Ivanka Trump, filha de Donald Trump
ODD ANDERSEN/AFP/Getty Images
Se, por outro lado, ao longo do outono, a vitória parecera ligeiramente mais plausível, essa hipótese esfumou-se com o caso Billy Bush. «Sinto-me automaticamente atraído pelo belo – desato logo a beijá-las», disse Trump ao apresentador da NBC Billy Bush de microfone aberto, em pleno debate nacional sobre assédio sexual. «É como um íman. Beijo logo. Nem sequer espero. E quando se é uma estrela, elas deixam. Posso fazer o que eu quiser… Agarrá-las pela *****. Posso fazer o que eu quiser.»
Era um desenvolvimento operático. Tão constrangedor que, quando Reince Priebus, o presidente do CNR, foi chamado de Washington a Nova Iorque para uma reunião de emergência na Trump Tower, não conseguia levar-se a sair de Penn Station. Foram precisas duas horas para a equipa de Trump o convencer a atravessar a cidade.
– Mano – disse Bannon, desesperado, tentando persuadir Priebus ao telefone –, posso nunca mais o ver depois deste dia, mas tem de vir a este edifício e tem de entrar pela porta da frente.
***
O aspeto positivo da ignomínia por que teve de passar Melania Trump após a divulgação da gravação Billy Bush era que a eleição do marido se tornara agora verdadeiramente impossível.
O casamento de Donald Trump suscitava perplexidade junto de quase todos os que o rodeavam – ou, pelo menos, dos que não possuíam jatos privados e múltiplas residências. Ele e Melania pouco tempo passavam juntos. Decorriam dias e dias sem qualquer contacto entre ambos, mesmo quando se encontravam os dois na Trump Tower. Era frequente ela não saber onde ele se encontrava, sem se preocupar especialmente com o facto. O marido deslocava-se entre residências como poderia deslocar-se entre divisões da casa. E para além de pouco saber acerca do paradeiro do marido, pouco sabia também sobre os seus negócios, que não lhe suscitavam senão interesse moderado. Pai ausente para os seus primeiros quatro filhos, Trump foi ainda mais ausente para o quinto, Barron, que teve com Melania. Agora no terceiro casamento, confidenciava aos amigos que aperfeiçoara finalmente a arte: viver e deixar viver – «Faz o que te apetece.»
Era um famoso mulherengo e, ao longo da campanha, tornou-se possivelmente o assediador mais famoso do mundo. Se ninguém se lembraria de acusar Trump de sensibilidade relativamente a mulheres, tinha, no entanto, muitas ideias sobre como conviver com elas, incluindo uma teoria que discutia com os amigos, segundo a qual, quanto maior a diferença de idades entre um homem mais velho e uma mulher mais nova, quanto mais nova esta fosse menos levava a peito as traições.
Ainda assim, a ideia de que este casamento fosse meramente de fachada estava longe de ser verdadeira. Falava frequentemente de Melania quando esta não se encontrava presente. Admirava-lhe a beleza – muitas vezes, de forma constrangedora para ela, na presença de outros. Ela era para ele, proclamava com orgulho e sem ponta de ironia, uma «mulher-troféu». E embora pudesse não ter exatamente partilhado a vida com ela, partilhava de bom grado os despojos. «Uma mulher feliz é uma vida feliz» – dizia, fazendo-se de eco de um popular truísmo de ricos.
Procurava igualmente obter a aprovação de Melania. (Procurava, na verdade, a aprovação de todas as mulheres que o rodeavam, que tinham a sensatez de lha conceder.) Em 2014, quando começou a ponderar seriamente a candidatura, Melania foi uma das poucas que julgou possível uma vitória. Esse facto proporcionou uma punch line à filha de Trump, Ivanka, que se distanciara cuidadosamente da campanha. Sem esconder o desagrado que a madrasta lhe suscitava, Ivanka costumava dizer aos amigos: «A única coisa que é preciso saber acerca da Melania é que acha que se ele concorrer de certeza que ganha.»
Mas a ideia de o marido se tornar realmente presidente era, para Melania, assustadora. Estava convencida de que isso destruiria a sua vida cuidadosamente protegida – protegida, para começar, da família Trump alargada – quase exclusivamente concentrada no seu filho pequeno.
Não ponhas o carro à frente dos bois, dizia-lhe o marido, divertido, apesar de passar dia após dia na estrada, em campanha, determinando as manchetes dos noticiários. Mas o horror e o tormento dela só aumentavam.
Teve início uma campanha de rumores acerca dela, simultaneamente cruel e cómica nas suas insinuações. Teve início em Manhattan, e os amigos falaram-lhe nela. A sua carreira como modelo foi sujeita a intenso escrutínio. Na Eslovénia, onde crescera, uma revista de celebridades, Susy, passou ao prelo os rumores sobre ela, após a nomeação de Trump. De seguida, num sinal repugnante do que aí viria, o Daily Mail espalhou a história, alto e bom som, pelo mundo fora.
O New York Post deitou as mãos a excertos de uma sessão fotográfica a nu de Melania no início da sua carreira de modelo – uma fuga que todos, menos Melania, presumiram poder ser atribuída ao próprio Trump. Inconsolável, ela confrontou o marido. «É isto que nos espera?» E disse-lhe que não suportaria tal futuro. Trump respondeu à sua maneira – «Vamos processá-los!» – e entregou-a aos advogados. Mas foi também inesperadamente contrito. Aguenta só um pouco mais, disse-lhe. Estaria tudo terminado em novembro. E deu à mulher uma garantia solene: era simplesmente impossível ele ganhar. E mesmo para um marido cronicamente infiel – ele diria talvez incontrolavelmente infiel –, esta era uma promessa à mulher que parecia conseguir cumprir.
***
A campanha de Trump reproduzira, de forma talvez não totalmente inadvertida, o enredo de “Os Produtores”, de Mel Brooks. Nesse clássico, os heróis broncos e vigaristas de Brooks, Max Bialystock e Leo Bloom, vendem mais de 100 por cento da participação do espetáculo da Broadway que estão a produzir. Uma vez que só serão desmascarados caso o espetá-culo seja um sucesso, tudo nesse espetáculo é concebido com o objetivo de resultar em total fracasso. Com esse intuito, criam um espetáculo tão surreal que acaba por ter mesmo sucesso, assim tramando os nossos heróis.

▲ Michael Flynn, antigo conselheiro de Trump para a segurança
Getty Images
Os candidatos presidenciais vencedores – levados pela arrogância, o narcisismo, uma noção sobrenatural de destino – passam, com toda a probabilidade, uma parte substancial das suas carreiras, quando não a totalidade das suas vidas desde a adolescência, a preparar-se para o papel. Sobem os degraus dos cargos eleitos. Aperfeiçoam uma aparência pública. Estabelecem freneticamente redes de contactos, sabendo, como sabem, que o sucesso na política tem tudo a ver com quem são os nossos aliados. Fazem o trabalho de casa. (Mesmo no caso do desinteressado George W. Bush, contou com os amigos do pai para os fazerem por ele.) E apagam o seu rasto – ou, pelo menos, dão-se a grandes trabalhos para o encobrir. Preparam-se para vencer e governar.
Os cálculos de Trump, bastante conscientes, eram de outra ordem. O candidato e os seus braços-direitos acreditavam poder obter todos os benefícios de ele quase se tornar presidente sem terem de mudar uma linha que fosse no seu comportamento ou na sua visão essencial do mundo: não temos de ser coisa nenhuma que não quem e o que somos, porque já se sabe que não ganharemos.
Muitos candidatos a presidente apresentaram como virtude o facto de serem outsiders em relação a Washington; na prática, esta estratégia limita-se a favorecer governadores em relação a senadores. Qualquer candidato digno do nome, por mais que verbere e despreze Washington, conta com o aconselhamento e apoio dos insiders de Beltway. No caso de Trump, pelo contrário, quase ninguém do seu círculo mais chegado havia trabalhado em política a nível nacional – sendo que os seus mais próximos conselheiros não tinham de todo trabalhado em política. Ao longo de toda a sua vida, Trump teve muito poucos amigos de qualquer tipo, mas, ao iniciar a sua campanha para presidente, quase não tinha amigos na política. Os dois únicos verdadeiros políticos com quem Trump tinha proximidade eram Rudy Giuliani e Chris Christie, ambos, à sua maneira, peculiares e isolados. E afirmar que ele não sabia nada – absolutamente nada – acerca das fundações intelectuais básicas do lugar era um cómico eufemismo. No início da campanha, numa cena digna d’Os Produtores, Sam Nunberg foi enviado a Trump para lhe explicar a Constituição: «Consegui chegar à Quarta Emenda antes de ele começar a puxar o lábio para baixo com o dedo e a revirar os olhos.»
Quase todos os elementos da equipa de Trump traziam consigo o tipo de conflitos espalhafatosos capazes de causar danos a um presidente ou ao seu governo. Mike Flynn, o futuro Conselheiro de Segurança Nacional de Trump, que fora guindado ao papel de fazer a abertura dos comícios de campanha, e que Trump adorava ouvir queixar-se da CIA e da inépcia dos espiões americanos, fora desaconselhado pelos amigos a aceitar 45 000 dólares dos russos como pagamento de um discurso «Bom, só seria um problema se ganhássemos» – tranquilizou-os ele, sabendo que tal não constituiria, portanto, um problema.
Paul Manafort, o lobista internacional e operacional político que Trump conservara para lhe dirigir a campanha após o despedimento de Lewandowski – e concordara em não ser remunerado, com isso ampliando a questão das contrapartidas – passara trinta anos a representar ditadores e déspotas corruptos, amealhando milhões de dólares e deixando um rasto de dinheiro que há muito chamara a atenção dos investigadores dos EUA. A acrescentar a isto, quando se juntara à campanha, era perseguido, e todos os seus passos financeiros documentados, pelo multimilionário oligarca russo Oleg Deripaska, que afirmava que ele lhe roubara 17 milhões num esquema de vigarice imobiliária, e jurava uma vingança sangrenta.
Por razões bastante óbvias, nenhum presidente antes de Trump e poucos políticos alguma vez vieram do negócio imobiliário: um mercado pouco regulado, baseado em dívida substancial, com exposição a frequentes oscilações de mercado, depende frequentemente dos favores do governo, e constitui uma moeda de troca muito apreciada para dinheiros problemáticos – isto é, lavagem de dinheiro. O genro de Trump, Jared Kushner, o pai deste, Charlie, os filhos de Trump Don Jr. e Eric, a filha Ivanka, e mesmo o próprio Trump, todos basearam os seus negócios, em maior ou menor grau, no limbo duvidoso do cash flow internacional não limitado e no dinheiro «cinzento». Charlie Kushner, a cujo negócio imobiliário o genro de Trump, e seu importante assistente, estava completamente ligado, já cumprira pena numa prisão federal por evasão fiscal, manipulação de testemunhas e donativos de campanha ilegais.
Os políticos modernos e respetivas equipas realizam sobre si próprios as investigações mais consequentes a que habitualmente sujeitam os seus opositores. Caso a equipa de Trump tivesse analisado melhor o seu próprio candidato, teriam, com toda a razoabilidade, concluído que um aumento do escrutínio ético poderia facilmente comprometê-los. Mas
Trump, ostensivamente, não envidou qualquer esforço nesse sentido. Roger Stone, há muito conselheiro político de Trump, explicou a Steve Bannon que a constituição psíquica de Trump lhe impossibilitava lançar um tal olhar sobre si próprio. Nem sequer conseguiria tolerar que outrem pudesse saber muito sobre ele – e com isso obter vantagem. E, em todo o caso, porquê lançar um olhar tão próximo e potencialmente ameaçador, dada a escassa probabilidade de vitória? Trump não só minimizava os potenciais conflitos dos seu negócios e empresas imobiliárias, como recusava descaradamente divulgar a sua declaração de rendimentos. Porque haveria de o fazer, se, de qualquer forma, não iria ganhar?
Acresce que Trump recusou dedicar o mínimo tempo a ponderar, ainda que de forma hipotética, questões relacionadas com a transição, afirmando que «dava azar» – mas querendo com isso dizer, na verdade, que se tratava de um desperdício de tempo. Nem consideraria, ainda que remotamente, a questão das suas empresas e conflitos de interesses.
Ele não ia ganhar! Ou perder era ganhar. Trump seria o homem mais famoso do mundo – um mártir às mãos da patife da Hillary Clinton.
A sua filha Ivanka e o seu genro Jared ter-se-iam transformado de miúdos ricos relativamente obscuros em celebridades internacionais e embaixadores de marca.
Steve Bannon tornar-se-ia o verdadeiro chefe do movimento Tea Party.
Kellyanne Conway seria uma estrela das estações de televisão por cabo.
Reince Priebus e Katie Walsh conseguiriam recuperar o seu Partido Republicano.
Melania Trump poderia regressar aos seus almoços discretos.
Era esse resultado despreocupado que esperavam a 8 de novembro de 2016. A derrota seria boa para todos.
Pouco depois das oito horas dessa noite, quando a tendência inesperada – Trump poderia mesmo vencer – pareceu confirmada, Don Jr. disse a um amigo que o seu pai, ou DJT, como lhe chamava, parecia ter visto um fantasma. Melania, a quem Donald Trump dera a sua garantia solene, desfazia-se em lágrimas – e não eram de alegria.
Ali estava, no espaço de pouco mais de uma hora, observou Steve Bannon, não sem algum divertimento, um Trump atordoado a transformar-se num Trump incrédulo, e depois num Trump horrorizado. Mas faltava ainda a transformação final: subitamente, Donald Trump transformava-se num homem que acreditava merecer ser, e totalmente capaz de ser, o presidente dos Estados Unidos.”