Título: Crónicas de Fotografia e Património
Autor: José Pessoa
Apresentação: Manuel Augusto Araújo
Editor: Chiado Books
Páginas: 168
Preço: 12 €
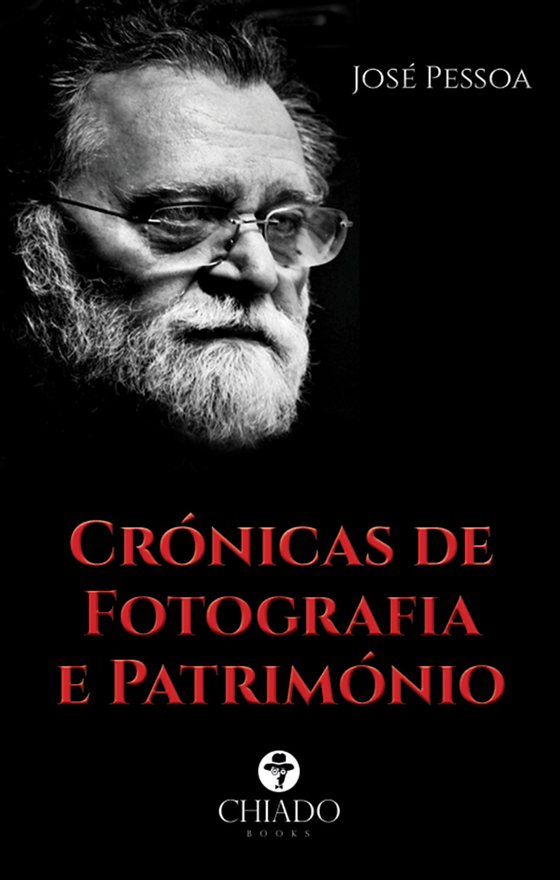
A capa de “Crónicas de Fotografia e Património”
A quem por dever de ofício ou gosto da curiosidade tenha procurado no obsoleto e antiquado MatrizNet imagens de arte e artistas pertencentes a museus públicos portugueses, ou tenha recebido protocolos de reprodução de imagens adquiridas à DGPC ou ao antigo IPM, o nome José Pessoa apareceu-lhe certamente na ficha técnica da larga maioria do que encontrou, como fotógrafo a serviço duma instituição do Estado a quem foi concedido — e bem — o privilégio de assinar os seus trabalhos como se de um profissional privado se tratasse. José Manuel Pinto Albuquerque Pessoa, de 72 anos, que actualmente ensina fotografia documental no Museu do Douro, no Peso da Régua, depois de em 2008 ter preferido o Museu de Lamego ao serviço da divisão de documentação fotográfica do Instituto Português de Museus, em Lisboa, acumulou sem dúvida uma experiência invulgar de contacto técnico e humano — inclusive como radiografista do Instituto José de Figueiredo, onde começou, estagiário, com 23 anos — com esculturas, pinturas, outros objectos artísticos, antigos e modernos, ou bens arqueológicos, e decidiu “não deixar morrer comigo esses episódios que espero sejam tão fascinantes para os leitores como foi para mim vivê-los”. “Espero não trair a memória daquela noite, mas achei que o nosso privilégio devia ser contado e repartido”, escreve a certo passo (p. 75). “Eis o cenário do encontro que vos quero contar, que penso ter o dever de transmitir” (p. 110).
São nove crónicas-memórias, escritas em três ciclos (1996-2001, 2008 e 2020), quase sempre em pausas de verão ou de final de ano, portanto sem o propósito editorial directo de quem um dia se sentou decidido a desbobinar em papel o quanto teve a sorte de viver. Quem contava — e eu contei — que este livro tratasse do triste declínio do Arquivo Nacional de Fotografia e de outras instituições que Pessoa ajudou a criar, a que deu colaboração decisiva e onde teve posição de destaque durante muitos e largos anos, terá de esperar por um segundo volume, para o qual guardou, diz, “a descrição das grandes tarefas e das violências que testemunhei ou de que fui alvo, causadas pelo preconceito, crendice, trauma e pela ignorância” (p. 7).
Testemunhos deste tipo, muito raros e sem tradição entre nós, são todavia indispensáveis ao verdadeiro escrutínio do serviço público genericamente considerado, a que o campo tão específico — mas quão relevante para o país — da actividade do seu autor acrescenta aqui um algo mais que importa pesar e elogiar.
E se a publicação deste ou destes livros se faz através duma chancela em que, como é conhecido, editados pagam a bom preço a impressão dos seus trabalhos e isso lhes garante a mais saudável independência absoluta, também é verdade que estes registos memorialísticos e críticos de José Pessoa mereciam ser publicados pela instituição que ele devotamente serviu, tanto mais que o afã editorial da actual Direcção-Geral do Património Cultural parece não conhecer limites (forjado, aliás, em “parcerias” de fachada a que fornece todos os meios necessários). Seria no mínimo o reconhecimento duma contribuição fundamental para o porvir dessas organizações patrimoniais, e no máximo uma prova de que a democracia, com o seu visceral e indispensável confronto de ideias e opiniões, pulsa de facto onde se diz que ela é garantida todos os dias a todos e em toda a parte. Pelo contrário. No nosso actual tempo político vigora um drástico correr de cortina que oculta erosões e precaridades estruturais, divergências e conflitos, mas onde se beneficiaria bastante de um ambiente de debate livre sobre tudo que envolve e importa fazer — é imenso, e é essencial — por património, conservação de bens culturais móveis e museus. (Além do sigilo a que o funcionalismo está forçado, bloqueando a divulgação do que no fundo se passa, não devem ser esquecidos o grave diferendo entre António Filipe Pimentel e a ministra sobre a expansão, autonomia administrativa e internacionalização do MNAA, o desrespeito de Graça Fonseca por mecenas do nosso primeiro museu nacional e o abafamento — com cumplicidades na imprensa — do livro MNAA 2010-2019. Para a história do Museu Nacional de Arte Antiga do agora novo director do Museu Calouste Gulbenkian.)
“A ronda da noite”, a primeira destas crónicas, escrita nas Azenhas-do-Mar, em Agosto de 1996, é quase um divertimento autobiográfico, em espelho. Conta insólita jornada do guarda de noite dum museu, que pistas deixadas aqui e ali no texto permitem identificar como sendo o Museu Alberto de Sampaio, em Guimarães. O “vulto franzino” — bem oposto ao do autor — de Aníbal conhece como ninguém os cantos à casa, evita carregar consigo o molho de chaves de modo a “evitar qualquer ruído no seu movimento”, tal como o fotógrafo tem cuidados radicais quanto à iluminação dos objectos que trabalha (“a sua grande arma, na falta de outra, é a escuridão”, p. 19), e, também nisto irmanado com ele, “ninguém avalia justamente o amor que tem pelas colecções do querido Museu, único que as pode fruir na lentidão e exclusividade da noite” (p. 20), fazendo mesmo referência a “esculturas flamengas tisnadas pelo tempo” (p. 26), sabendo-se que a arte da Flandres foi dos pontos centrais do reconhecimento profissional do fotógrafo-cronista (“do que eu mais gostava, e ainda prefiro”, p. 90; “os flamengos nada faziam por acaso”, p. 99). No fim da estória narrada, enquanto o assistente descarrega as películas e José Pessoa, sentado, fuma um cigarro, narrador e personagem conversam, fundem-se “quase na obscuridade”, “num dos muitos serões de trabalho que acontecem nos museus” (p. 30).
Esse gosto pessoal e a vantagem técnica de trabalhar na paz nocturna são várias vezes sublinhados neste livro. “Realmente, a noite dos museus tem magias que o visitante desconhece” (p. 69). “A descoberta nocturna de certos locais [onde obras de arte vivem (ou esperam pela vida)] trouxe-me numerosas surpresas e experiências inolvidáveis” (p. 138). O episódio ocorrido em 1993, no Museu Nacional de Arqueologia, durante o delicadíssimo processo de fotografar a múmia do sacerdote Osíris Pabasa e o seu sarcófago — uma doacção do Duque de Palmela — para o catálogo da grande exposição “Antiguidades Egípcias”, comissariada por Luís Manuel Araújo, é disso bom exemplo. Do sarcófago retiraram a múmia até que, “lentamente e com todos os cuidados, há outro vulto humano que se integra no nosso grupo”, “o sacerdote, que agora nos fita frontalmente, de pé como nós”, “fazendo-me sentir a rigidez penetrante do seu olhar” (p. 71). No grande ciclorama de papel branco, “fundo infinito onde tudo pode acontecer”, enquanto a figura embalsamada rodava sobre uma prancha com rodas para as diferentes fotografias a fazer, de repente, do nada, o egiptólogo, apaixonado como “um noivo em véspera de casamento” (p. 70), começou a ler de forma pausada, serena, “quase sem hesitações” várias inscrições no corpo mumificado do filho de Hor, fazendo-o reviver por palavras e “sons que nos chegam da noite da História e nunca repetidos até ao dia de hoje” (p. 73).
A fortuna desse convívio respeitoso e amoroso com a arte dos antigos também teve na Sé Velha de Coimbra um caso memorável, “um fenómeno de comunicação com os flamengos que por ali trabalharam há cerca de quinhentos anos” (p. 102). No verão de 1974, José Pessoa integrou uma brigada móvel do Instituto José de Figueiredo com a função de documentar a limpeza e tratamento do grande retábulo esculpido da capela-mor, onde sob séculos de pó e gordura “latejava ainda o ouro e a policromia”. Trezentas imagens desse objecto “forjado no seio duma estrela que explodiu há muito, muito tempo” (p. 101) foram captadas sobre uma precária estrutura de andaime erguida a intimidantes 25 m de altura, processo durante o qual surgiu um “belo morcego” revestido a folha de ouro esculpido em recanto oculto ao olhar humano desde o piso térreo. Discutiu-se se seria assinatura oficinal, sigla de autor ou acto herético deliberado, mas só no último momento da campanha fotográfica veio a explicação provável da figura esvoaçante e estridente. “Os flamengos eram artistas, com os seus caprichos” (p. 103).
Outras vezes é o próprio acesso a templos muito estimados pelas gentes locais que coloca o fotógrafo de património perante obstáculos que parecem intransponíveis. Numa pequena igreja do concelho de Cuba — não especificada mas que poderá ser a Ermida de Nossa Senhora da Represa, perto de Vila Ruiva —, destaparam-se casualmente pinturas murais seiscentistas, que brigadas de “restauradores de bisturi em punho, cortando cuidadosamente camadas” de cal espessa (p. 54), durante meses se empenhariam a revelar na totalidade. Apesar disso, a população prezava acima de tudo a cuidada e irrepreeensível alvura da sua igreja, e só um astucioso argumento numa reunião comunitária que parecia condenada a um impasse foi capaz de fazê-la aderir à conservação e exibição dos frescos. Em 1992, José Pessoa teve de ir fotografar in situ, no Estreito da Calheta (ilha da Madeira), uma Adoração dos Reis Magos, “em belíssimas esculturas de Antuérpia”, um retábulo seiscentista cujo restauro em Lisboa havia documentado exaustivamente quando “dava os primeiros passos como fotógrafo especializado” (p. 108). Quando lá chegou, a obstinada resistência da mulher que guardava as chaves da capela parecia invencível, e só a evocação dos pormenores cromáticos das figuras bíblicas limpas pelo Instituto José de Figueiredo em 1971 e um “Não gosta mais do retábulo do que eu!” (p. 114) fez rodar a porta nos seus eixos.
Para quem trabalha fora de horas em museus ou monumentos de considerável dimensão, sobretudo se sozinho, esclarece José Pessoa, o medo faz — pelo menos, da primeira vez — “a sua gelada aparição” (p. 140), como em Março de 1974 lhe sucedeu na abadia de Alcobaça, onde, em frente do panteão real, decorriam trabalhos de restauro de terracotas do século XVII. Em duas noites consecutivas, o solitário fotógrafo do Instituto José de Figueiredo experimentou o “fantástico horror, digno de ser vivido” que lhe foi induzido pelo “inferno de tensões ao cair das sombras” (pp. 148, 144), que de vez em quando lhe fizeram deitar “um olhar inquieto às trevas que rondavam as minhas costas”… Mas à saída acabou, ele próprio, por pregar um susto de morte “a dois vultos fumando a sua beata e conversando debaixo de um candeeiro” (pp. 146, 148).
O livro contém ainda duas narrativas que é justo referir. A primeira, história digna de romance, diz respeito à inesperada encomenda — feita “com grande subtileza e inteligência” (p. 31) por suíço hospedado num dos melhores andares do Hotel Ritz, que de início lhe inspira as maiores reservas (também políticas; estava-se no ano 1975…) — de um álbum fotográfico dos interiores e exteriores duma mansão na Lapa, que foi afinal a maneira de o generoso e enigmático encomendante se colocar à prova como fotógrafo amador que afinal também era. E a segunda descreve a ridícula saga de um “funcionário público da velha guarda”, iludido pela fantasia absolutamente patológica de possuir um quadro de Goya, que “passou anos a visitar-me” (p. 85) para tentar provar o que todos os exames lhe negavam, e a quem, no final, o jovem radiografista-fotógrafo recomenda que o venda e o esqueça para se sentir “feliz e aliviado” (p. 87).
Com este pequeno livro — contaminado por gralhas, desleixo editorial e uma banalidade gráfica que certamente agridem o zelo técnico do seu autor, grande oficial de uma outra arte —, José Pessoa não deu ainda o cabal retrato dos seus “cinquenta anos” de “fotógrafo razoavelmente bem sucedido”, mas deixa sem dúvida uma boa impressão, e um sólido estímulo, a quem queira prosseguir a vida aventurosa da nobre profissão que foi a dele.


















