Título: Tom: ilustração e design
Textos: Jorge Silva e José Bártolo
Editor: Arranha Céus
Páginas: 256, ilustradas
Preço: 30 €
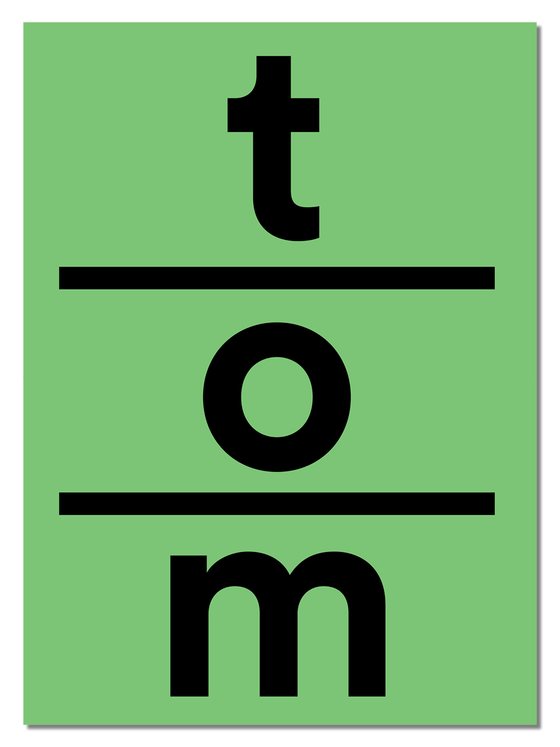
A capa de “Tom: ilustração e design”
Duas décadas depois de em Lisboa ter ajudado a colocar a banda desenhada e a nova ilustração portuguesa no lugar de destaque que a sua qualidade merece, Jorge Silva vai ano após ano a Setúbal — no quadro do festival “É preciso fazer um desenho?”, que ali ganha tradição e público crescentes — apresentar exposições e catálogos monográficos que resgatam a presença e a memória de artistas influentes de outras eras, construindo assim, figura a figura, alicerce a alicerce, uma nova história das artes gráficas, do design e da ilustração do nosso país.
Qual solitário sprinter de montanha (montanha corresponde aqui ao muito por fazer, e sprint à urgência em recolher depoimentos vívidos e materiais perecíveis em risco…), ganhou enorme dianteira sobre o MUDE, o museu municipal lisboeta que a pretexto de infindas e obscuras obras na sua sede abandonou ou estagnou pesadamente a sua função historiográfica essencial, perdeu abruptamente todos os créditos que parecia querer merecer e agora definha num quanto possível discreto isolamento burocrático sem fim à vista nem cuidado ou escrutínio político que lhe acuda. Em compensação, a lúcida parceria estabelecida entre o festival setubalense e a Casa do Design, de Matosinhos (também ela um museu municipal), tem permitido não apenas replicar a norte cada uma destas exposições, numa itinerância curta mas exemplar, como fazer imprimir álbuns profusamente ilustrados a cores, doravante obras de referência absoluta para o conhecimento dos artistas em causa.
Se Manuel Lapa (1914-79) e Tóssan (António Fernando dos Santos, 1918-91) mereceram tudo isto, Thomaz de Mello — o Tom (1906-90) — não o merece menos, pois, como muito bem logo adverte José Bártolo nas primeiras linhas dum importante ensaio preliminar:
“Em 2006, o centenário do nascimento de Tom ocorreu marcado por uma absoluta indiferença. Nenhuma publicação ou exposição lhe foi dedicada, nenhum artigo jornalístico lhe deu nota. — Dir-se-ia que a efeméride foi largada na vala comum do esquecimento” (p. 9).
E precisamente, como este livro demonstra, a obra de Thomaz de Mello caracteriza de modo especial a transversalidade oficinal dos decoradores modernistas, que aspiraram o ar de todos os tempos e o devolveram em realizações com assinatura pessoal inconfundível, inventando-se e reinventando-se muito aquém e bastante além do seu trabalho com o SPN-SNI (1933-55), pelo qual — todavia — foram carimbados com o anátema do colaboracionismo e esmagados pela brutalidade dos insensatos, que tentaram tornar o virtuosismo do seu trabalho plástico uma irrelevância no contexto geral das artes plásticas e das artes gráficas da primeira e segunda metade do século passado.
Nesse sentido, a arqueologia artística que Jorge Silva desenvolve há muito no seu projecto Biblioteca Silva — identificando e valorizando produções dispersas ditas menores, respigando originais de leilões ou de bancas de feira da ladra, contactando herdeiros e amigos sobrevivos, debatendo com investigadores de interesses comuns (neste caso, Leonardo de Sá muito em particular e alguns outros, como também sucede comigo, hélàs!) —, sem correr o mínimo risco de ser acusada de cumplicidade ideológica ou de saudosismo político, constitui já hoje um contributo inestimável e claríssimo para a honestidade intelectual com a qual é necessário observar o passado, nestas áreas culturais e estéticas.

Cenografia e figurinos teatrais, ou decoração de stands em feiras, vão ocupá-lo nos primeiros anos, além de exposições de caricatura, desenhos, reportagens gráficas e anedotas para jornais e revistas, ilustração de livros infantis e alguma publicidade
Thomaz José de Mello nasceu no Rio de Janeiro a 11 de Agosto de 1906, bisneto do rei D. Miguel. O avô materno tinha fundado em Lisboa a primeira agência de publicidade em Portugal. Com interesses muito precoces em tipografia e teatro, chega a Lisboa em 1926, integrado profissionalmente na companhia de seu padrinho, o celebrado actor Leopoldo Fróis (1882-1932; contracenou com Beatriz Costa num filme da Paramount) para uma temporada no Teatro Nacional. Um irrepetível ambiente de empatia luso-brasileira, que a viagem aérea de Coutinho e Cabral de 1922 ajudara a criar, franqueou-lhe portas já entreabertas por créditos familiares, materiais e de prestígio.
Cenografia e figurinos teatrais, ou decoração de stands em feiras comerciais, vão ocupá-lo nos primeiros anos, além de exposições de caricatura em parceira, mas também abundantes desenhos, reportagens gráficas (como a do julgamento do falsário Alves dos Reis, 1930; p. 18) e anedotas para jornais e revistas, ilustração de livros infantis e alguma publicidade. O facto de ter sido sócio fundador, com António Pedro (1909-66), da primeira galeria de arte moderna no nosso país, a UP, em 1932, diz bastante acerca do seu espírito empresarial inovador (muitas vezes retomado, como na década de 1960, com a representação exclusiva da Letraset britânica; p. 16), tanto quanto a vasta colaboração plástica n’O Papagaio. Revista para miúdos (1935-36), dirigida por Adolfo Casais Müller, sublinha a sua capacidade de se interessar e potenciar meios em expansão.
A propriedade do semanário Cinelândia, ainda que de vida efémera (1928-29), mostram-no actualizado com o espírito do tempo. Capas de livros como Tourear e Farpear de D. Bernardo da Costa (1933; p. 80), em técnica pouchoir, com as técnicas gráficas em voga. É, pois, com naturalidade que integra a equipa dos decoradores do pavilhão de Portugal na Exposição Internacional de Paris de 1937 e das versões seguintes em Nova Iorque e San Francisco (1939), e em especial a Exposição do Mundo Português em Lisboa, 1940.
“Hábil intérprete do seu tempo — escreve José Bártolo a p. 12 —, Tom alinhar-se-á ao movimento de revivescência da cultura popular estimulado pelo SPN”. Merchandising nórdico observado em feiras internacionais ajudara-o certamente a desenvolver o projecto das miniaturas folclóricas portuguesas (primeira série em 1939-40, com 39 peças; segunda série em 1969, com 27), cujas figuras iniciais em madeira de pinho (depois também em faia), geometrizadas por torno mecânico e alacremente coloridas à mão, irresistivelmente empáticas e divertidas, foram produzidas “aproveitando as boas graças do regime” (Bártolo, p. 15) — relançadas hoje, em modo revivalista, dariam um lucro chorudo e a ninguém incomodariam… Embora não subsistam registos comerciais que o quantifique, o sucesso foi tal (“uma próspera indústria”, p. 100), que bonecos afins viriam a ser adaptadas por Adega Machado, Loja das Meias e outras empresas comerciais (p. 90).
Tom também acumulou um extenso arquivo fotográfico pessoal, pouco conhecido mas “repleto de apontamentos de arquitectura, trajes e costumes populares” (Silva, p. 118), que certamente muito lhe valeram na hora de preparar desenhos e aguarelas. Tão genuíno apreço por artesanato e arte popular daria pano para muitas mangas, como o belo cartaz de Tom para a respectiva exposição de 1943 em Madrid (p. 88), e transbordaria para a forte propaganda turística nacional do pós-guerra europeu e ibérico, entre cartazes, desdobráveis e brochuras ilustradas, de que são bons exemplos o papel de embrulho do SNI em 1949 (pp. 130-31), a capa do guia Arrábida-Palmela-Cezimbra (1946; p. 129), o cartaz de 1965 para a campanha “Winter Holidays in Algarve Portugal” (p. 141) ou o admirável saco de papel para a Direcção-Geral do Turismo em 1969, reproduzido na p. 197.
Dois álbuns de desenhos, Por Terras de Portugal, de 1948, apresentado por Diogo de Macedo, e dez anos depois Nazaré (que rivaliza — Jorge Silva não o notou — directamente, ombro a ombro, com o do fotógrafo Artur Pastor, também saído logo depois da visita da rainha Isabel II de Inglaterra a Portugal em 1957), surgem marcados por súbita e muito nítida adesão à densa estética neo-realista, portanto em radical “rota de colisão com a visão idílica” oficiosa, crente “da pureza de costumes e do heroísmo do povo” (Silva, p. 170). Além de tais visões, como sucedera às varinas de Tom exibidas na galeria do SNI em 1955, não terem sido impedidas de exposição nos circuitos habituais, importa fazer notar que essa década — como quem inaugura um novo ciclo e parte em múltiplas direcções consecutivas ou simultâneas — foi de enorme experimentalismo formal, com intervenções em jarras cerâmicas antropomórficas de curioso efeito (v. p. 167) ou pratos de suspensão com motivos de Alfama (39 cm, 1955) produzidas na SECLA, nas Caldas da Rainha, e garrafas, copos e ânforas de vidro soprado ensaiados numa fábrica da Marinha Grande, quando simplesmente quis “revolucionar a arte do vidro”, domínio em que “a Suécia nos fornece exemplos admiráveis” (entrevista de Abril de 1952, citada na p. 162).

Os seus derradeiros anos de vida são marcados pelo “ostracismo dos seus pares, que deixaram Tom de fora de alguns dos eventos ligados à emergência de uma nova geração de designers e da consciência do design como disciplina”
“Tom continua fiel a si mesmo e capaz de adaptar o seu discurso gráfico ao sabor dos tempos”, reconhece Jorge Silva à p. 196. De facto, essa abertura a novas tendências fica bem patente em três cartazes absolutamente pop art para campanhas de turismo em 1969 (v. pp. 198-99, 201), e — muito mais ainda — nas dez soberbas «composições gráficas» que em 1972 ilustraram versos de Camões muito à maneira vitralista dos emergentes Gilbert & George britânicos (pp. 205-10 — Jorge prefere aproximá-lo a João Abel Manta), ou na não menos impactante parede estampada a preto sobre chapa metálica que ornamentou a escadaria da agência bancária Pinto e Sotto Mayor na praça do Município em Lisboa (p. 188).
A curiosidade pelo humano não desapareceu entre o severo frenesi da direcção artística da Feira Internacional de Lisboa (1960-71), a geometrização imaginária de panoramas lisboetas (1987) e a representação de mobiliário contemporâneo importado na loja Artécnica, que criou em 1970 na Rua Capelo para servir também de galeria de arte, replicando, portanto — quase porta com porta, pois a outra ficava na Rua Serpa Pinto, 28-30 —, a galeria UP de três décadas e meia atrás. Tom voltou a desenhar e pintar gente inspirado durante uma viagem profissional a Angola em 1965 (em que surpreende de novo pela técnica cromática que criou) e duas visitas a São Salvador da Bahia em 1982 e 1984. Com o jeito para o negócio que nunca perdeu, o álbum de litografias e desenhos que agrega estes dois conjuntos pictóricos, visualmente muito distintos entre si, contou com o abono prefacial de Jorge Amado — cujos “livros baianos”, convém também lembrar, tinham então enorme recepção no nosso país, sobretudo depois da telenovela Gabriela, Cravo e Canela (1977) — e foi lançado pela Galeria de Arte do Casino do Estoril enquadrado num ciclo itinerante de exposições, obtendo absoluto sucesso de vendas. Tapeçaria de grandes dimensões baseada num dos seus melhores trabalhos angolanos (Feitiço, 1965; v. p. 191) apareceu há meses numa leiloeira em Lisboa, múltiplos em papel ocorrem regularmente e em abundância nesse comércio, mostrando quanto Thomaz de Mello se desdobrou nesse mercado de arte acessível a um maior número, particularmente activo no último terço do século passado.
Se o abstraccionismo duma grande tapeçaria de Portalegre (1971, p. 241), vendida há oito anos num leilão Cabral Moncada por 16 000 €, o dobro do seu valor-base, nos dá conta da grande evolução plástica do pintor, e se o luxuoso álbum camoniano de 1972, já referido, constitui “o canto do cisne do ilustrador” (Silva, p. 204), Jorge sublinha o longevo trabalho expositivo de Thomaz de Mello, “talvez o mais relevante de todo o design português da especialidade”, por vezes “agregando competências de ideólogo, comissário e arquitecto” (p. 214). Todavia, os seus derradeiros anos de vida são marcados pelo “ostracismo dos seus pares, que deixaram Tom de fora de alguns dos eventos ligados à emergência de uma nova geração de designers e da consciência do design como disciplina”, o mais significativo dos quais, certamente, foi a criação da Associação Portuguesa de Designers em 1976, de cujo movimento ele foi excluído “sem grande surpresa” (Bártolo, p. 16). De pouco lhe valeu ter sido “um designer imprescindível” (Bártolo, p. 9), “parceiro ideal das grandes empresas e instituições públicas” (Silva, p. 214). Assim se compreende, afinal, o silêncio a que tem sido votado e que este notável livro põe agora fim, abrindo também caminho a novas e continuadas inquirições.


















