Raymond Aron era filósofo, cientista, jornalista e professor universitário. É, segundo Carlos Gaspar, “o último dos grandes intelectuais que marcam a história do século XX”, um século que Aron descreveu como “o século das guerras totais e das revoluções totalitárias e como o princípio da história universal”. A Guerra Fria, fruto da divisão entre Estados Unidos e União Soviética, foi para o francês um marco que definiu como “paz impossível, guerra improvável”.
O Observador faz a pré-publicação do capítulo “A decadência da Europa”, do livro de Carlos Gaspar “Raymond Aron e a Guerra Fria”, publicado pela Alêtheia Editores. Na obra, o assesssor do Instituto de Defesa Nacional aborda a vida e o pensamento do intelectual no pós Segunda Guerra Mundial. “Para Aron, o fim da Europa é o seu princípio”.
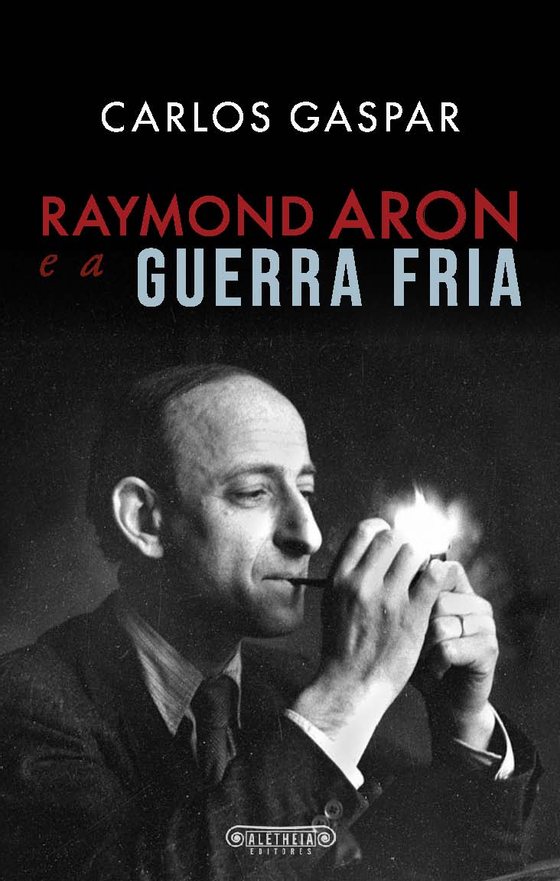
“Raymond Aron e a Guerra Fria” é publicado pela Alêtheia Editores
A decadência da Europa
O declínio da Europa no século XX é evidente. Entre 1914 e 1945, a segunda «Guerra dos Trinta Anos» parece confirmar a profecia de Spengler sobre a morte da civilização, ou da cultura ocidental e acelera a emergência dos novos impérios – os Estados Unidos e a União Soviética – cuja linha de demarcação estratégica divide a Europa depois da destruição do III Reich. No fim da II Guerra Mundial, nenhum dos vencedores é uma potência europeia, ou exclusivamente europeia, e a vaga de descolonização do post‐Guerra confirma de que lado da história estão as novas super-potências e completa a retracção das velhas potências imperiais, que voltam ao seu ponto de partida no fim da «era gâmica».
Para Aron, o fim da Europa é o seu princípio. Pela primeira vez na história, os Estados europeus não podem fazer a guerra entre si, sob pena de cometerem suicídio. Em 1945, a alternativa é a união da Europa Ocidental – uma união incompleta, por definição, face à divisão da Alemanha e à separação entre a Europa Ocidental e a Europa de Leste. O fim da unidade alemã é o princípio da construção europeia, se não se perder a oportunidade histórica para reconciliar a França e a Alemanha, os «inimigos hereditários» cujas guerras destruíram a Europa.
Raymond Aron é um europeu — nenhum outro intelectual do seu tempo está igualmente à vontade na França, em Inglaterra, na Alemanha ou nos Estados Unidos: estudou em Paris, viveu em Berlim, esteve no exílio em Londres, fala e escreve nas três línguas, trouxe a sociologia weberiana para a universidade francesa, é o único europeu convidado pelo Comité das Relações Internacionais em Nova York, reconhecido como um par pela comunidade dos estrategas nucleares e cujos livros são imediatamente traduzidos e publicados em todas as línguas ocidentais e, até, circulados em samizdat na Europa de Leste.
Patriota francês, Aron é um defensor da Europa, sem ser um federalista. Na reconstrução europeia, a prioridade é a restauração dos Estados nacionais, das democracias pluralistas e da economia ocidental, necessária para travar a expansão soviética, a vaga comunista e o desespero dos Europeus. A Europa nunca foi uma entidade política, nem há um «patriotismo europeu» em que se possa fundar uma «Europa europeia». A nova Europa é, e não pode não ser, a velha Europa das nações, que tem de se reconfigurar como parte de uma «civilização atlântica», ou de uma «união ocidental», se não quiser ser absorvida pelo império soviético.
Contra os nacionalistas e os neutralistas, é partidário da aliança entre a França e a Grã‐Bretanha, assim como da reconstituição da Alemanha e da reconciliação entre os rivais europeus, tornada possível pelo resultado da guerra: «No dia em que todas as nações europeias foram vencidas, quando nenhuma delas pode escolher soberanamente o seu destino, o nacionalismo tornou‐se um anacronismo». No mesmo sentido, considera indispensável o alinhamento com os Estados Unidos e a intervenção norte‐americana na reconstituição das democracias europeias: é partidário do Plano Marshall e da concertação entre Washington, Londres e Paris para formar a República Federal — a divisão da Alemanha dura enquanto durar a divisão da Europa. O Tratado de Bruxelas e o Pacto do Atlântico consolidam a aliança ocidental, o Plano Schuman é um passo ousado e decisivo para a reconciliação entre a França e a Alemanha: o pool do carvão e do aço não pode falhar.

▲ Raymond Aron em 1983 com Henry Kissinger, antigo secretário de Estado dos Estados Unidos
AFP/Getty Images
No princípio da Guerra Fria, descreve a contradição entre a fragmentação política da Europa e a necessidade de formação de um grande espaço económico como um «absurdo mortal». Nesse contexto, admite que os Europeus possam encontrar na vontade de resistir à União Soviética o élan necessário para realizar a sua unidade na organização do Ocidente, como defende a principal potência democrática: «Quer se queira, quer não, só os Estados Unidos dão à Europa uma hipótese de realizar o seu velho sonho de unidade». Porém, a unificação europeia no quadro das instituições do Plano Marshall não se vai realizar e o modelo alternativo, cujo artífice principal é Monnet, não entusiasma Aron, que não se revê nem na visão política de uma Europa unida para separar os dois blocos rivais, nem na estratégia que visa criar a união política como um resultado da interdependência económica entre os Estados europeus, nem no desígnio irrealista de entregar o comando da política europeia a uma burocracia iluminada, sem poder, nem legitimidade.
A Comunidade Europeia de Defesa (CED) marca a separação entre Aron e os europeístas. É partidário do rearmamento da Alemanha, mas, por um lado, não concebe a formação de forças armadas conjuntas sem a união política da Europa dos Seis, na ausência da qual serão os Estados Unidos a comandar o Exército europeu e, por outro lado, não percebe como se pode, simultaneamente, integrar o Exército francês no Exército comum e manter as missões de soberania nos territórios ultramarinos, que mobilizam a maior parte das tropas francesas. A CED é uma péssima alternativa à adesão da República Federal à NATO e, retrospectivamente, Aron considera que o seu fim marca o fracasso do projecto de integração comunitária.
Essa posição excessiva pode justificar a indiferença ostensiva no momento da assinatura do Tratado de Roma, mas não explica a defesa reiterada de uma arma nuclear e de uma force de frappe europeias, tão importantes para garantir a defesa da Europa Ocidental, como para assegurar o seu estatuto como o «Quarto Grande». No mesmo sentido, defende o alargamento das Comunidades Europeias à Grã-Bretanha sem ilusões sobre o europeísmo dos Britânicos, salvo excepção – e, mais tarde, à Grécia, a Portugal e à Espanha, na sequência das transições post‐autoritárias. Mas isso não o impede de escrever um ensaio sobre a Europa onde nunca se refere às instituições comunitárias, senão para afirmar que «a Europa dos Seis ou dos Nove não constitui uma entidade política e, até onde a vista pode alcançar, não vai constituir uma entidade política». Em 1977, reitera a sua análise inicial: «Os Estados Unidos da Europa podiam ter sido possíveis, mas essa possibilidade desapareceu com a Comunidade Europeia de Defesa».
Na mesma altura, numa conferência sobre o sionismo, exprime com frontalidade o que considera essencial: «Pessoalmente e como intelectual, estava fascinado e convencido pela ideia europeia. Teria sido uma obra histórica incomparável criar uma nação composta pelas nações europeias. Para dizer a verdade, nunca acreditei nisso, embora, em geral, tenha militado a favor. Nunca acreditei porque sempre tive o sentimento de que o que fazia a especificidade e a originalidade da Europa era a pluralidade das nacionalidades e das soberanias estatais. Para criar uma soberania estatal incluindo a diversidade das nações seria necessária uma ameaça urgente, ou um federador todo‐poderoso.»
A sua obsessão é o futuro da Europa, ameaçado pelos demónios nietzschianos ou marxistas. O século XX europeu decorre sob o signo das profecias sobre o fim da civilização ocidental – Spengler, desde antes do massacre das trincheiras, Toynbee, depois da I Grande Guerra, que compara à Guerra do Peloponeso. A vertigem da catástrofe marca o momento inicial em que ele próprio reconhece a sua paixão política: a tomada do poder nazi antecipa a II Guerra Mundial, em que o genocídio dos Judeus soma à ruína material a ruína moral que completa a decadência da Europa.
No fim da guerra, Aron reconhece a pertinência da previsão de Spengler: as hierarquias tradicionais foram destruídas, perdeu‐se a ligação do homem à terra e às comunidades tradicionais, as massas urbanas, desenraizadas e gregárias, foram manipuladas pelos agitadores, os partidos tornaram‐se exércitos ao serviço dos chefes, o reino do dinheiro precipitou a desagregação dos parlamentarismos que se transformaram em cesarismos. O resultado são os escombros do Atlântico ao Vístula, que confirmam o declínio da velha civilização como um facto consumado: “Le déclin de l’Europe n’est pas devant nous mais derrière nous”.
Porém, recusa o «fatalismo da morte»: «O fim da nossa cultura não está escrito no Livro do destino. A Europa está devastada mas não está esgotada». A sua criatividade, as suas ideias e o seu saber não deixaram de existir e a sua difusão à escala global garante a reprodução da civilização europeia, ou ocidental, não só nos Estados Unidos, para onde partiram os melhores sábios europeus, mas também na União Soviética.

AFP/Getty Images
Na visão do «filósofo da sageza», o facto decisivo do seu tempo é a aventura da ciência e da técnica, que, por um lado, está na origem da crise das sociedades europeias e da ameaça de morte que paira sobre a Europa e, por outro lado, torna possível a sua reconstrução e o progresso da civilização: «O que Spengler interpreta como a dissolução da vida colectiva surge, na perspectiva do progresso económico, como as perturbações inevitáveis que acompanham o amadurecimento de uma ordem nova». Essa nova ordem, que deve combinar a sociedade industrial, a democracia pluralista e o equilíbrio entre as potências, está ameaçada pela «grande cisão» entre os Estados Unidos e a União Soviética. Mas, se for possível escapar à catástrofe apocalíptica da guerra atómica, o mesmo progresso técnico que torna possível as armas de destruição maciça pode garantir os meios de curar a pouco e pouco os males inseparáveis do seu triunfo e restaurar a esperança numa sociedade humana.
Dez anos depois do fim «da mais inútil e terrível das guerras, a Europa continua a ser um fragmento do império involuntariamente edificado pelos Estados Unidos». Mas a sua recuperação espectacular justifica a recusa do catastrofismo: «No século da revolução industrial, o declínio não impede as nações europeias de nunca terem sido mais prósperas e menos infiéis aos seus valores». Não aceita «nem o optimismo marxista, nem o pessimismo apocalíptico de Spengler». O determinismo marxista que postula o fim do capitalismo e o advento da classe operária como uma classe redentora define a missão dos regimes comunistas sem conseguir explicar o dinamismo das economias de mercado, que ultrapassa a evolução soviética, retardada pelo modelo burocrático da planificação; a reacção spengleriana contra a democracia liberal e a modernização não é nem refutável nos seus próprios termos, nem pertinente para compreender o curso histórico.
Para Aron, o declínio da Europa não é sinónimo de decadência: «A perda incontestável de poder implica a decadência? Se se admitir que a grandeza de uma cultura é inseparável da sua força militar, a resposta é evidente. Se se recusar essa confusão, o futuro continua em aberto».
Como no fim da história hegeliana, os Europeus são vencidos pela sua vitória. A reprodução à escala mundial da revolução industrial e a globalização forçam as potências europeias a regressar ao seu espaço de origem. A Europa Ocidental só pode estar à escala dos grandes do século XX se a Europa dos Seis se constituir como uma unidade política, o que é improvável na ausência de um «patriotismo europeu» e perante a ressurgência dos Estados nacionais no post‐Guerra. Mas, se o século das guerras tiver chegado ao fim e as sociedades industriais confirmarem a sua vocação pacifica, «as nações europeias podem ser historicamente grandes sem voltarem a ser grandes potências».
No mesmo registo, o fim dos impérios ultramarinos não tem o mesmo significado do que a decomposição dos impérios no passado. Os impérios europeus eram «essencialmente transitórios», no sentido em que a sua «missão civilizadora» teria de ter um fim, ou com a integração das antigas colónias nas metrópoles, ou com a criação de novos Estados independentes: a atribuição da independência, como o reconhecimento do direito de cada povo tomar o seu lugar na sociedade internacional, é a via do futuro. Pelo contrário, a permanência dos impérios coloniais é um desastre moral para a consciência liberal, um impasse perigoso para os regimes democráticos e um contrassenso numa economia industrial avançada, onde a produtividade e a eficácia da organização do trabalho substituíram a conquista territorial ou a exploração das matérias‐primas como os critérios da riqueza das nações. Pela sua parte, o totalitarismo stalinista recusa‐se a pôr em prática as ideias que proclama, por sua conta e risco: «Não é possível continuar indefinidamente a impor a pobreza em nome da abundância e a dominação em nome da independência nacional: o império soviético não pode permanecer invulnerável ao espírito do tempo».
Nos Colóquios de Cérisy, em 1958, Aron vai mais longe e sublinha a preponderância da civilização ocidental no post‐Guerra preponderância absoluta na versão alargada, que inclui as duas grandes civilizações industriais, os Estados Unidos e a União Soviética, preponderância relativa na versão restrita, que reúne as democracias industriais mais avançadas, sem deixar de reconhecer os perigos da civilização técnica que constrói a unidade planetária e, ao mesmo tempo, agrava os problemas das sociedades modernas.
Em qualquer das duas versões, a preponderância ocidental nega as teses clássicas da decadência. Quando muito, «a única “decadência” manifesta é a dos pequenos povos da Europa que perderam peso no novo universo». Mas, «num Ocidente integrado, em que as velhas nações europeias estão longe de ter uma posição negligenciável, a redução relativa da sua dimensão mundial é um fenómeno regional». O juízo severo sobre o declínio da Europa tem como corolário a preferência evidente pela aliança com os Estados Unidos e pela ordem ocidental.
A angústia com a decadência europeia regressa vinte anos depois. Em 1975, como em 1933, volta a ter o mesmo pressentimento, que exprime evocando, mais uma vez, a fórmula de Toynbee: «History is on the move again». Aron regressa à questão do declínio, primeiro com a tese sobre o fim da hegemonia norte‐americana, depois com uma nova reflexão sobre a decadência europeia, tema do seu curso no Collège de France em 1976‐1977 e do ensaio em defesa da Europa liberal.
O problema principal da crise é a perda de confiança dos Europeus em si próprios, inseparável da crise económica, política e social, que mina as democracias. Em 1973, a crise energética precipita a primeira recessão económica ocidental depois de quase três décadas de crescimento permanente – as «Trente glorieuses». Nos anos seguintes, a ascensão dos partidos comunistas, a radicalização da esquerda e a polarização dos sistemas políticos em Itália e na França podem justificar a referência ao «síndrome de Weimar»: «Uma distribuição dos sufrágios tal que a democracia fica reduzida à escolha entre duas formas de suicídio: ou entrega o poder aos que a vão destruir, ou viola o seu próprio princípio de legitimidade». Paralelamente, instala‐se uma crise social, ou moral, onde os excessos da liberdade, o culto do hedonismo e os ídolos da modernidade diluem os valores tradicionais que sustentam a autoridade e a ordem, como nas “crises de civilização” descritas por Pareto: «A liberdade dissolve os preconceitos e as crenças, precipita o colapso da ordem existente e torna inevitável a ascensão de uma outra minoria dirigente, menos céptica e mais brutal».
As três crises convergem numa crise de legitimidade das democracias europeias, expostas à «lei de Tocqueville» sobre as «liberalizações falhadas» e ameaçadas pelo risco de uma ruptura. A revolução portuguesa é, ao mesmo tempo, a mais recente demonstração da tese sobre os perigos da liberalização tardia e a prova da força da democracia pluralista nas sociedades ocidentais, confirmada pelo sucesso das transições na Grécia e na Espanha. De certa maneira, a liberalização na Europa do Sul marca o fim da era das revoluções ou, em todo o caso, do mito da revolução.
Para os mais optimistas, as elites nas sociedades modernas da Europa de Leste, idênticas aos seus pares na Europa Ocidental, dispensam a ideologia comunista, enquanto a crescente afluência económica torna supérfluo o regime repressivo leninista: entre a modernidade industrial e a monotonia ideológica, os regimes comunistas vão ceder ao espírito do tempo. Esses argumentos prolongam as teses sobre a sociedade industrial de Aron, que reconhece as tendências de liberalização na Polónia, na Hungria ou Checoslováquia, mas não acredita numa mudança de regime na União Soviética: «Um regime situado no prolongamento do despotismo asiático ou, se preferirem, um império militar submetido a uma burocracia centralizada é uma das formas políticas mais estáveis e mais duradouras que a história pode conhecer, desde que a classe dirigente mantenha a sua coerência». Na conjuntura dominada pelo declínio norte‐americano e pela ascensão soviética, não é possível excluir a possibilidade de um suicídio europeu – «A Europa brilhante pode ser a Europa condenada». Todavia, os perigos não são imediatos.
O declínio europeu é irrecusável, mas a Europa não está em decadência. O declínio é um fenómeno normal e frequente: as potências não têm sempre a mesma categoria na hierarquia internacional e não é razoável tirar conclusões excessivas do seu «abaissement». A diminuição do poder relativo dos Estados pode ser avaliada com um certo rigor quantitativo nas suas dimensões materiais – militares, económicas, demográficas, científicas – enquanto a decadência é uma mudança qualitativa que se refere à virtú de Maquiavel – à criatividade das elites, à vitalidade histórica da comunidade política e à capacidade de acção colectiva dos Estados. O declínio é material, temporário e reversível, a decadência moral, definitiva e terminal.
Entre Spengler e Toynbee, Aron escolhe a «esperança racional», mais próxima da sua formação kantiana e da realidade mutante da civilização técnica. O declínio da Europa na balança internacional é incontestável, mas o destino do Ocidente, como Toynbee defendeu contra Spengler, ainda não está decidido.
No fim, o realismo e a moderação temperam o pessimismo. Raymond Aron conclui que, até ao fim do século XX, é improvável que o impasse prolongado entre a decadência incompleta da democracia europeia e a estabilidade ofensiva do império soviético possa dar lugar a uma decisão catastrófica: «Se os Soviéticos pensam conquistar a Europa Ocidental sem a destruir, os próximos anos não parecem ser uma oportunidade excepcional que não se possa perder». A inércia da continuidade é a tendência mais forte nos últimos anos da Guerra Fria, nas vésperas da viragem interna da União Soviética acelerar, mais uma vez, o curso da história.
















