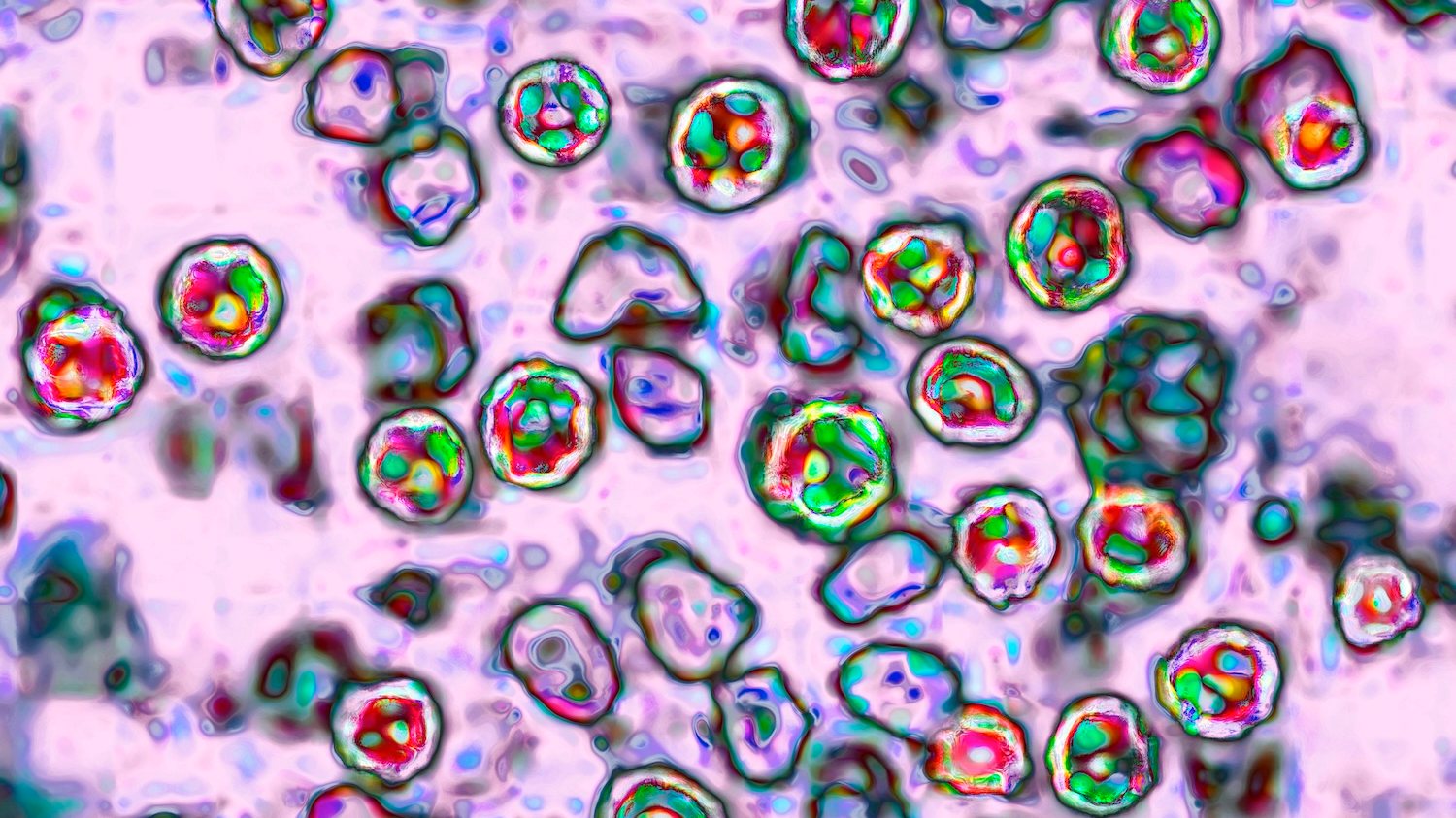A frase «as imagens não são apenas coisas para representar», da autoria do filósofo e historiador da arte Georges Didi-Huberman, nunca foi tão actual como nos últimos dias. O modo vertiginoso como a imagem da morte assola os biliões de ecrãs existentes, essa espécie de universo pan-óptico digital e de «enxame», no entender de Byung-Chul Han, quebra definitivamente o véu de pudor naquilo que opõe a visualidade da vida, do seu perfeito oposto, ou seja, do corpo destroçado, inanimado, soterrado ou tornado objecto. Encontramo-nos plenamente no território de recepção que Walter Benjamin definiu como choque em oposição à contemplação. Contemplação exige lentidão, estaticidade, longa duração… Constitui um apelo à sensibilidade, à reflexão profunda, à inteligência. Já o choque acelera a precipitação, constitui um apelo directo à reacção irreflectida, ao imediatismo. Será necessário edificar uma ética da imagem?
De facto, qual a intenção de mostrar um vídeo de um homem a ser decapitado com uma enxada em plena assembleia das nações unidas? Precisamente irreflexão e imediatismo. Em última análise, é jogar o jogo da morte oferecido de bandeja por quem cometeu tamanha atrocidade e a filmou. A que ponto de insanidade chegámos? No dia 26 de Outubro, no centro da Ágora simbólica das Nações Unidas, o embaixador Gilad Erdan ostentou um QR Code que dava acesso a um grupo de imagens das atrocidades cometidas pelo Hamas no passado dia 7 de Outubro, enquanto afirmava: “Podemos ver um civil terrivelmente ferido – ensanguentado, mas vivo – deitado no chão enquanto um selvagem do Hamas, gritando Allahu Akbar, bate repetidamente no pescoço do homem com uma enxada de jardim para o decapitar”. Servirá essa imagem de contraponto aos milhares de corpos que, entretanto, foram igualmente destroçados, desumanizados?
Um QR Code. A morte digitalizada, asséptica, distante. Feita com o propósito único de arregimentar argumentos. O sentido iconológico das mesmas encontra-se, aparentemente, ausente. Quem se encontra aí representado? Quem mata? Quem morre? A fadiga da informação gera indiferença… O valor tipológico da imagem da morte encontra-se remetida para uma dimensão quase medieval. Os dois actos, acção e divulgação, traduzem um inegável declínio civilizacional. Byung-Chul Han fala-nos precisamente dos perigos que este tipo de mobilização encerra: «As ondas de indignação são extremamente eficazes na mobilização e aglutinação da atenção. Mas, devido ao seu carácter fluido e à sua volatilidade, não são adequadas para a configuração do discurso público, do espaço público». A morte de um homem não é adequada para o espaço público. Torna-se num convite tácito a mais morte, a mais destruição…
A iconologia da morte, constitui, de facto, um dos mais interessantes campos de estudo da historiografia da arte. Mas numa dimensão asséptica – historicamente remota – anónima por natureza – metafisica na sua essência. Em Suspended Animation, Robert Mills fala-nos da dimensão simbólica que as imagens da dor sempre representaram na iconografia e iconologia medieval europeia. Revelava-se a morte sobretudo para atormentar, chantagear, iludir, glorificar, santificar… Em quase toda a pintura, sobretudo medieval, mas também da idade moderna, abundam as imagens de decapitações, mutilações, incinerações, quebra de corpos, desmembramentos, etc. No entanto, habituámo-nos a contemplar esses actos como fontes de virtudes. São santos aqueles que sofrem. Demónios aqueles que perpetram tamanhas atrocidades. Habitam os dois, um espaço comum e interdependente. O santo precisa de quem cometa o acto para se tornar santo. A atrocidade torna-se num mal menor, numa via de ascensão para a virtude. Assim sendo, serão as imagens mostradas na assembleia das nações unidas, uma espécie de via-sacra? Um caminho necessário para a virtude última do castigo, da aniquilação? Quem é o homem que surge a ser decapitado? Quem é essa figura santificada no altar do mundo?
Este homem seria, segundo a agência Reuters, um operário oriundo da Tailândia. Tal rectificação não reduz em nada o horror do acto cometido e da exibição pretendida, mas não deixa de constituir um símbolo sólido e mais uma camada de leitura iconológica da imagem. De facto, e de acordo com Primo Levi, Se Isto É Um Homem, no horror da condição de vítima e de carrasco, a sua origem, natureza, religião ou qualquer outra condicionante que o quotidiano impõe, não deveria possuir nenhum significado. Mas assim sendo, qual o intuito de revelar a sua macabra morte em plena assembleia das nações Unidas? Será que se tratando de um cidadão israelita, a imagem teria sido revelada? A dúvida persistirá insondável. A questão impõe, porém, uma reflexão obrigatória em torno da relevância das imagens na edificação de narrativas. Neste caso, o mesmo conjunto de imagens serve as duas narrativas opostas: a dos terroristas que cometeram esses macabros actos enquanto perpetuação do horror; a do estado de Israel que procura aí uma espécie de justificação de futuras acções. Uma só sequência – dois propósitos.
Assim se vê a importância da imagem e a sua supremacia sobre os demais códigos. Os relatos dos horrores cometidos serão sempre passiveis de interpretação, seja da intenção de quem os produz, seja na intenção de quem os ouve. As imagens, porém, essas possuem uma crueza extrema, são imbatíveis na arregimentação. São valiosas para ambos os lados… Devemos, no entanto, questionarmo-nos acerca da razão desta partilha despudorada da morte de um homem.
Será no intuito de explorar a velha iconologia do sofrimento? É milenar, mas incrivelmente persistente nos dias que correm… A Iconologia compreende a ciência das figuras alegóricas. Um símbolo ou conjunto de símbolos que pretende representar uma ideia complexa. A divulgação daquelas imagens no âmbito de uma iconologia do sofrimento torna-se óbvia. Mas será lícita? A simples imagem, real ou concretizada unicamente na mente, de crianças decapitadas, de corpos desmembrados e/ou soterrados constituem só por si uma justificação para mais corpos desmembrados e decapitados? Existe algum diferencial valorativo nesta iconologia do sofrimento? Quem filmou a acção? Um dos terroristas do Hamas… Não será a revelação do vídeo a consumação de um ideário de morte enquanto ritual diário e absolutamente anódino?
Não deveria antes existir uma reserva natural, uma escassez visual capaz de dignificar a imagem enquanto símbolo real da morte? Uma preservação última da humanidade?
Regressemos a Georges Didi-Huberman. Em 2004, o filósofo e historiador da arte efectuou, em Images malgré tout, uma análise iconológica de quatro fotografias tiradas clandestinamente no campo de concentração de Auschwitz-Birkenau por um Sonderkommando – um grupo de prisioneiros judeus responsável pela remoção dos corpos das câmaras de gás. Estas quatro fotografias, enquanto testemunho imagético da “Shoah”, constituem o único documento visual dos eventos ocorridos. Foram feitas por um prisioneiro judeu com o enquadramento possível. Mostram a cremação de cadáveres numa fogueira e um grupo de mulheres despidas, prestes a entrar numa câmara de gás. O silêncio visual de um horror indizível… Didi-Huberman aborda a relação entre as imagens enquanto «instante de verdade» e o inimaginável, o impensável e o irrepresentável. As quatro imagens são lacunares, imprecisas, abertas à imaginação: «Imaginar, apesar de tudo, (…) exige de nós uma ética difícil da imagem: nem invisível por excelência (a preguiça do esteta), nem o ícone do horror (preguiça do crente), nem o simples documento (preguiça do erudito)». A iconologia do sofrimento possui uma imanência sagrada que convida ao pudor. A estética da morte, a preguiça do pensamento e da linguagem, e a alavancagem da imagem enquanto argumento histórico, constituem traços mais do que evidentes de uma falência civilizacional emergente.