Estes últimos tempos têm sido particularmente férteis em discussões sobre as migrações. Angela Merkel cedeu ao seu parceiro de coligação, a CSU, e anunciou que a Alemanha deportará imigrantes registados noutros países da União Europeia (são muitos). No Conselho Europeu, as discussões não satisfazeram de modo algum os adeptos de uma política de abertura integral à imigração que Merkel havia proposto em 2015. António Costa apelidou a reunião do Conselho Europeu de “horrível” e Augusto Santos Silva, concordando com Costa, declarou que, apesar de tudo, o resultado não havia sido “desastroso”. Desastroso, acrescentou Marcelo, teria sido não ter havido acordo nenhum.
No meio disto tudo, não faz mal ler livros que, embora apresentando uma visão particular da situação, deixem ouvir as várias vozes e os vários argumentos usados no debate. Foi o que eu fiz, para tentar pôr, na medida do possível, as ideias em ordem, e tirei da pilha de livros para ler um livro que estava lá há muitos meses. Trata-se de uma obra publicada no ano passado por Douglas Murray, um jornalista da revista Spectator, A estranha morte da Europa. O livro, de resto, foi traduzido recentemente em português e publicado pela editora Desassossego. Já agora, a tradução do subtítulo contém uma variação significativa em relação ao original inglês. Enquanto que neste se lê: “Imigração, Identidade, Islão”, a tradução portuguesa apresenta: “Imigração, Identidade, Religião”. Ignoro se esta modificação foi acordada com o autor. De qualquer maneira é estranho, porque o argumento central do livro gira em boa parte em torno da questão da compatibilidade do Islão com os nossos hábitos civilizacionais e nenhuma outra religião é, nesse contexto, especificamente discutida.
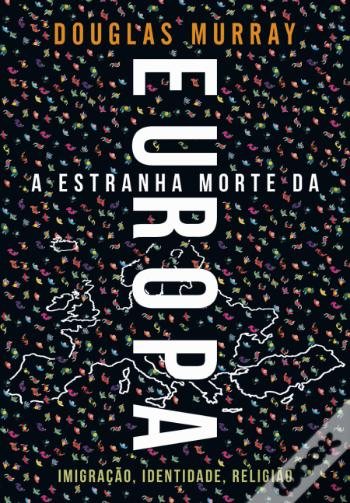
E é difícil, a este respeito, não nos lembrarmos do que o próprio Murray escreve a propósito da tentativa de silenciamento por parte da polícia e das autoridades de várias localidades do norte da Inglaterra das violações sistemáticas e em grande escala de muito jovens raparigas praticadas desde o início de 2000 por gangs de paquistaneses e de indivíduos oriundos do norte de África. Razão do silenciamento? Obviamente, o receio de contribuir para a “islamofobia”. Estes receios vêm, é claro, de atrás. Em 1999 Christian Jelen havia denunciado, em A guerra das ruas. A violência e “os jovens”, a táctica utilizada pelo jornalismo francês que consistia em atribuir um certo número de episódios de violência aos “jovens” em geral quando estes encontravam a sua origem numa reduzida faixa destes: crianças e adolescentes oriundos das imigrações magrebina e africana. A razão é sempre a mesma. Murray tem óptimas páginas em que explica este fenómeno: tende-se a atacar os problemas secundários (a suposta ou real “islamofobia”) em vez do problema principal que se encontra na sua origem. A inversão da atenção provoca nos críticos da “islamofobia” o sentimento de uma “elevação moral” que a discussão do problema principal não permitiria nunca. Claro que tal atitude tem consequências: a deterioração da linguagem num sentido traz consigo fatalmente a sua deterioração no sentido oposto, nomeadamente a identificação de todos os imigrantes com terroristas. Com o espúrio argumento de não se fazer o jogo da extrema-direita, faz-se o jogo da extrema-direita.
Murray encontra-se, é claro, nos antípodas dessa posição. Entre as melhores páginas do livro encontram-se os relatos das chegadas de imigrantes a Lampedusa e a Lesbos. Há relatos de refugiados absolutamente aterrorizadores. E Murray não cessa também de sublinhar a extraordinária e heróica resiliência e capacidade de ajuda das muito exíguas populações locais face ao extraordinário número de refugiados que lá chegavam quotidianamente às mãos de traficantes que em muitos casos cobravam preços astronómicos. Mas o saber isso e o perceber isso não impede Murray de reconhecer que entre os migrantes se encontravam vários posteriores fautores de ataques terroristas na Europa. E, sobretudo, que a identidade europeia corre, por via das migrações, o risco de uma transformação que a deixe verdadeiramente irreconhecível. O argumento “foi sempre assim ao longo da nossa história”, frequentemente utilizado, não colhe e não é de socorro algum.
Esse é o verdadeiro tema do livro. E a discussão processa-se pelo menos em dois planos. Primeiro, num plano que se poderia chamar filosófico; depois, num plano mais propriamente político. No plano filosófico, Murray constata que a tendência para não conseguirmos pensar a nossa própria identidade senão a partir do modelo de uma consciência culpada, junta às utópicas e nefastas miragens do chamado “multiculturalismo”, nos deixa praticamente inermes face às tendências mais agressivas do Islão. Exemplos dados são várias reacções à fatwalançada sobre Salman Rushdie em 1989 e ao célebre episódio dos cartoons dinamarqueses: os mecanismos de “compreensão” da agressividade muçulmana funcionaram em pleno. Acresce a isto uma forma selvagem de cosmopolitismo que vê na existência de fronteiras a origem de todos os males e que perverte o cosmopolitismo kantiano e a ideia de uma “hospitalidade universal”.
No plano político, o que o preocupa é o total desrespeito pelos sentimentos partilhados por faixas em muitos casos maioritárias de várias populações europeias que sentem, em grau variável, a ameaça da destruição do seu modo habitual de viver. Esse desrespeito, esse desprezo, manifesta-se entre outras coisas nas acusações perpetuamente pronunciadas de “xenofobia”, “racismo” e “fascismo” a quem exprime tais medos.
O livro sugere, com mais cepticismo do que verdadeira persuasão (Murray encontra-se perto da visão de Michel Houellebecq em Submissão, ao qual dedica óptimas páginas, bem como, embora menos, da do clássico maldito de Jean Raspail, O Campo dos Santos, de 1973) algumas soluções para as actuais dificuldades. Mas o essencial consiste verdadeiramente na apresentação dos vários aspectos do problema e na decisão de não calar nenhum deles: dito de outra maneira, de olhar a realidade de frente. Vale mesmo a pena ser lido, embora seja duvidoso que possa ser verdadeiramente compreendido pela maior parte dos políticos contemporâneos. Como de costume, uma visão das coisas a preto e branco é declaradamente mais fácil. E quando tem o efeito infalível de sublinhar a nossa superioridade moral, nem se fala. Mas se se quiser encontrar a solução possível para um problema desta grandeza, atravessado por dilemas dilacerantes, a pior atitude imaginável é mesmo fechar os olhos e limitarmo-nos a invocar grandes princípios, sobretudo quando estes são palpavelmente falsos, como é o caso da fé jurada numa harmonia pré-estabelecida entre todas as culturas.












