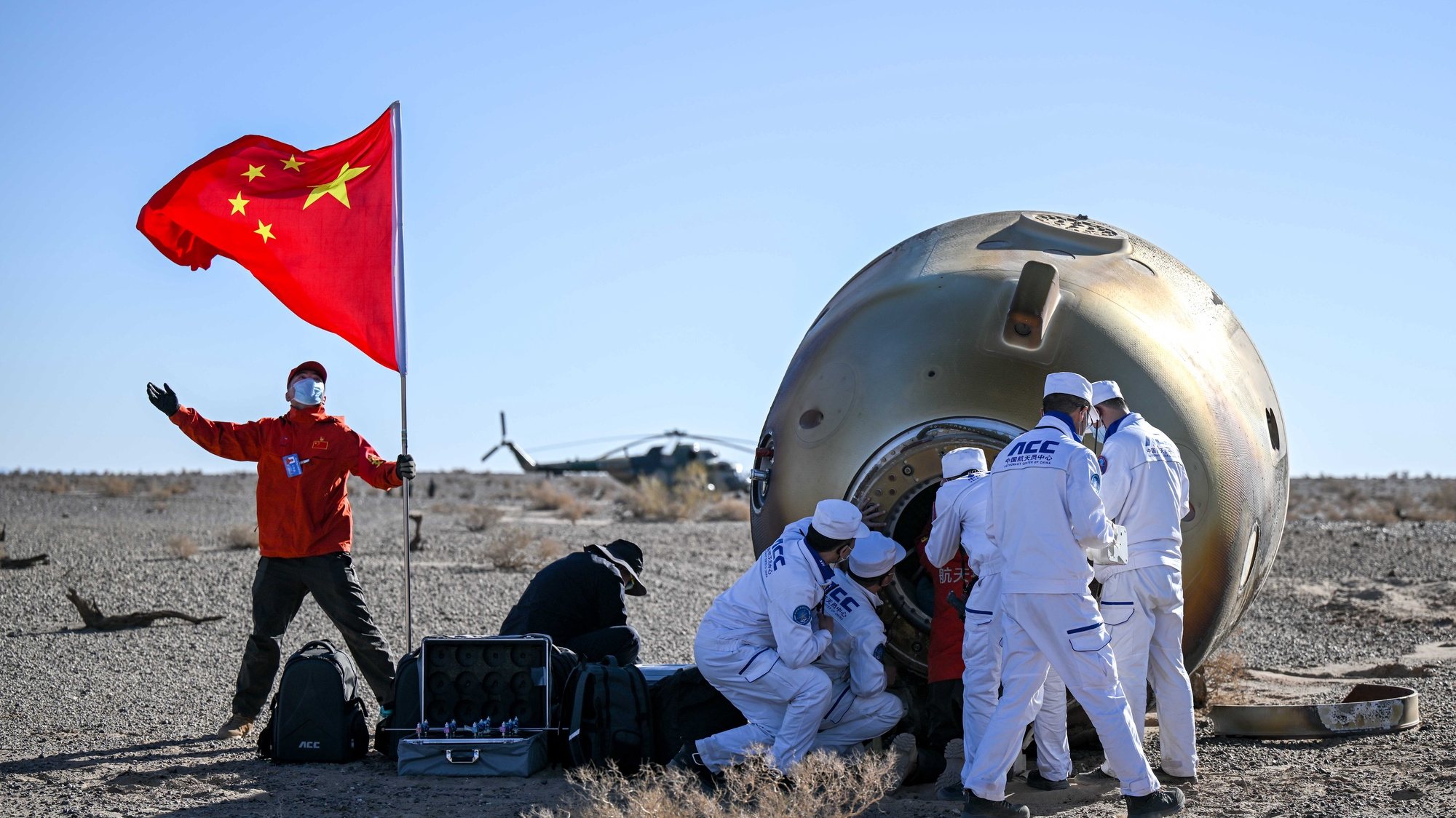Não sei se era inocência minha, se de toda uma época, mas houve um tempo em que palavras, t-shirts e canções pareciam ter alguma espécie de poder para mudar o mundo. Na verdade, era apenas a segunda vez que acontecia, e talvez já sem que tivesse sequer o impacto dos profetas pop inaugurais dos anos 60. Todavia, naqueles dias do fim de século, da passagem dos anos 80 para os 90, do fim do Apartheid, da queda do Muro, da emancipação das antigas repúblicas soviéticas, dos Live Aids e afins, a palavra, o mantra, o refrão certos, pareciam ter a capacidade de pôr em marcha independências, libertações, acordos de paz, mudanças de comportamento de milhões. Hoje, 30 anos passados pelo escriba e pelo planeta, vemos os U2 papaguearem umas coisas em Las Vegas sobre a morte de Alexei Navalny na Sibéria e apetece perguntar-lhes se sabem que horas são.
É como uma arma, há muito descarregada, que insiste em disparar. Uma atracção mecânica num parque de diversões abandonado, que o último zelador deixou ligada à corrente por pirraça ou desesperado gesto poético. A mesma música repetida a tocar para ninguém. “Parece que Putin nunca diz o seu nome. Temos de dizer o seu nome! Alexei Navalny!”, atira Bono Vox, atrás dos mesmos óculos, do mesmo cabelo, de todo o mesmo look do tempo de “Miss Sarajevo” que insiste em manter e que, um dia, foi a coisa mais cool que havia. Não ajuda a esta vaga sensação de anacronismo que, de repente, nos dá a volta à barriga. Como é que é, Las Vegas, quero ouvir! Na melhor das hipóteses, soou a obrigação, cumprimento do caderno de encargos de se ser os U2; na pior, a demagogia, futilidade, acessório sério com que enfeitamos a vestimenta de “activistas”.
Ficámos cínicos – mas se, ao menos, tivéssemos sido só nós. Foi todo o mundo que descreu. Do tempo do fim da História, em que tudo parecia caminhar num determinado sentido e para uma determinada conclusão, passámos a este, que só um dia, lá mais para a frente, gente mais competente saberá dissecar. Demasiadas desilusões políticas, demasiados ídolos caídos em desgraça, demasiada indignação de rede social, demasiado gosto pelo autodestrutivo desporto da iconoclastia. Quase tudo nos parece ingénuo ou inútil. Discutimos ardentemente um assunto durante 24 horas e logo baixamos os braços.
Mas essa, dirão, é só uma pequena parte da questão, o amarelecido sentimento de um ocidental, uma queixa de primeiro mundo. De facto, há tudo o mais: um planeta onde, por toda a parte, foram despontando, um a um, figuras e regimes que deixaram de ter medo das palavras, de se desviarem das canções. Que perceberam que as t-shirts, afinal, eram só isso: t-shirts, peças de roupa que não lhes podiam fazer nada, provavelmente produzidas na terra deles, por gente pouco mais do que escrava. Que já não precisavam sequer dos clientes desse mundo espalhafatoso. Que as ditaduras tinham muito mais decibéis do que os refrões. A cantiga, ao contrário do que um dia se cantou por aqui, já não é arma alguma. E isso, camaradas no cinismo, é trágico.
Ah, o americanófilo de luto pelo fim da velha era… Não, camaradas. O mundo multipolar trouxe certamente coisas boas, sobretudo ao nível do bem-estar económico de muitas populações, mas o que a morte de Navalny nos vem lembrar é que não é mais justo nem mais livre do que a velha era da potência única, porque as potências que emergiram não são menos imperfeitas do que a América – muito pelo contrário.
A audácia para nós quase incompreensível de Navalny, a coragem de marchar, e cair, e voltar a levantar-se e continuar a avançar até à morte certa, dispensa o altifalante dos U2 porque se tornou mais famosa do que os U2 (e eis, pelo menos, uma vantagem do mundo em que toda a gente tem no bolso uma câmara de filmar no bolso e no computador um meio de comunicação social inteiro ao seu dispor. Mas não serve de nada se a acharmos uma coisa distante, lá no Ártico, negócios como de costume, mais um dia na vida segundo Putin. Não é para irmos a correr fazer canções nem estampar o rosto do “herói”, cheio de defeitos como qualquer outro humano, em t-shirts. É “apenas” para continuarmos a zelar pelas democracias. A não cairmos por um segundo no engodo de quem diz que é tudo igual: americanos, russos, chineses, laicismo ocidental e fundamentalismo religioso, democracias liberais e “musculadas” (oh, eufemismo visível da Lua).
A morte de Navalny deixa menos um homem entre nós e um mundo em que se pode mandar prender por chorar, prender por pôr flores, prender por acender velas, matar por escrever, matar o adversário, matar as crianças da escola de Beslan, matar as famílias no teatro Dubrovka, matar na Ucrânia, na Síria, na Venezuela, matar de tristeza e impotência as mães a quem não se deixa sequer chorar sobre o corpo dos filhos.
Aqui e ali, atribuiu-se por estes dias a Alexei Navalny a declaração: “É um pouco pomposo o que vou dizer, mas prefiro morrer de pé a viver de joelhos”. Por essa admirável internet afora, encontramo-la atribuída também a Roosevelt, Zapata – até a Che Guevara. Na verdade, foi dita garantidamente por outro homem, mesmo que citasse, sem saber, algum dos anteriores: Stéphanne Charbonnier, director do “Charlie Hebdo”, em 2012, depois de mais um ataque com cocktails molotov à redacção do jornal. Na altura, o “Charlie” respondera à polémica espoletada pelo desenho de um Maomé com um turbante em forma de bomba, feito por um caricaturista dinamarquês, com outro cartoon, um em que um redactor beijava um muçulmano, e a legenda: “O amor é mais forte do que o ódio.”
“Charb”, como sabemos, acabaria assassinado três anos mais tarde, apenas uma das 12 vítimas mortais do mais célebre ataque terrorista ao “Charlie”, corria Janeiro de 2015 e já o mundo era o que hoje temos, invasão russa da Ucrânia incluída, e nós é que ainda não tínhamos dado por nada. Tinha 47 anos, exactamente como Navalny. E também morreu de pé, perante os algozes de tiranias que, por cansaço, cinismo ou em nome de uma noção totalmente enviesada de tolerância, deixámos de combater.
Na semana em que morreu o mais visível opositor de Putin, em que Zelensky pareceu mais cansado do que nunca nos nossos ecrãs, o putativo futuro líder dos EUA andou entretido a vender sapatilhas. Sapatilhas douradas, com o nome dele e a bandeira da América pespegada.
Se amamos a liberdade e a democracia, é bom que as começamos a defender com um bocadinho mais do que o Bono.