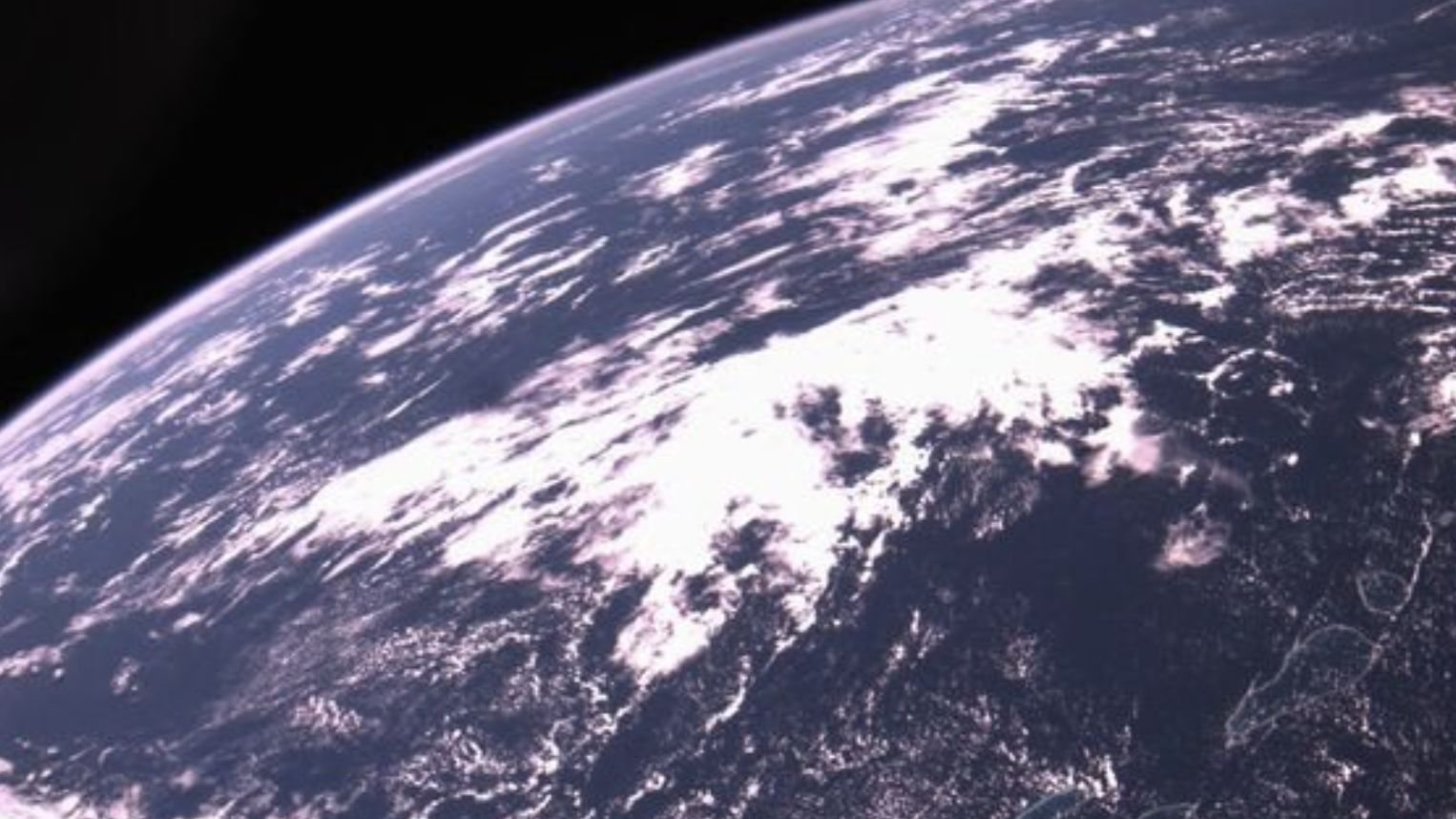1 Num recente artigo, publicado no jornal “Público”, a colunista Maria João Marques cita-nos, a certa altura, que «Portugal já saiu do Estado Novo mas o Estado Novo não saiu de Portugal». Concordo e aplaudo: é verdade que o Estado Novo ainda não saiu de Portugal. É verdade que continuamos a ter uma escolaridade obrigatória oficial de «Educação nacional», tal como tivemos no Estado Novo. Mudou nos conteúdos, mas mantém-se no autoritarismo que foi a principal marca negativa do Estado Novo.
Maria João Marques escreveu isso referindo-se ao caso do gravíssimo conflito judicial do Ministério da Educação contra a Família Mesquita Guimarães, de Famalicão, em que se discute a questão de saber quem é que tem «a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos» dessa Família: se o Estado, se os seus Pais.
2 Ora, esta questão está expressamente resolvida a favor dos pais, no art. 26.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz assim: «Os pais têm a prioridade do direito na escolha do género de instrução que será ministrada aos seus filhos». E também está resolvida a favor dos pais na nossa Constituição, quando, no art. 68.º, afirma que a acção educativa dos pais em relação aos filhos é insubstituível pelo Estado, por estes termos: «Os pais e as mães têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível acção em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação […].» Aliás, esta limitação funcional do Estado está muito nítida na proibição constitucional de o Estado programar a educação: «O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.» Repito muito isto, eu sei, porque parece que ninguém liga nenhuma a esta proibição constitucional. Esperemos pelos Tribunais.
Por sua vez, a Convenção dos Direitos da Criança reconhece à criança o inato e inviolável direito humano-pessoal de ser educada pelos pais, por estes dizeres: «A criança é registada imediatamente após o nascimento e tem desde o nascimento o direito a um nome, o direito a adquirir uma nacionalidade e, sempre que possível, o direito de conhecer os seus pais e de ser educada por eles.» E não lhe reconhece nenhum direito, nem nenhum dever, de ser educada pelo Estado.
3 Mas então, quanto ao Estado? Quanto ao que, correspondentemente, compete ao Estado, nesta matéria, diz assim o art. 5.º da Convenção dos Direitos da Criança, já ratificada por Portugal, que portanto é direito vigente entre nós: «Os Estados Partes respeitam as responsabilidades, direitos e deveres dos pais e, sendo caso disso, dos membros da família alargada ou da comunidade nos termos dos costumes locais, dos representantes legais ou de outras pessoas que tenham a criança legalmente a seu cargo, de assegurar à criança, de forma compatível com o desenvolvimento das suas capacidades, a orientação e os conselhos adequados ao exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pela presente Convenção.»
Ora, um direito que é expressamente reconhecido à criança pela Convenção é, como vimos, o de ser educada pelos seus pais. Que, por sua vez, têm o direito prioritário de escolher o género de educação a dar aos seus filhos. A Constituição Portuguesa também impõe ao Estado que deve cooperar com os pais na educação dos filhos, no art. 67.º: «Incumbe designadamente ao Estado […] cooperar com os pais na educação dos filhos». E, como também já vimos, na educação dos filhos que é insubstituível pelo Estado.
4 Acrescente-se ainda a autoridade da Lei de Bases do Sistema Educativo, que é uma lei de valor reforçado, isto é, lei que tem de ser respeitada pela legislação ordinária, e portanto pelo Ministério da Educação. Nessa Lei de Bases, que a Constituição impõe como reserva absoluta da competência da Assembleia da República, definem-se muito especificadamente (no seu art. 7.º) quais são os «objectivos do ensino básico» (sic). E enumeram-se nada menos do que catorze objectivos. Pois bem: para um único desses objectivos, a Lei estabelece expressamente uma reserva, a reserva da liberdade de consciência. E é exactamente para o penúltimo desses objectivos, nestes termos: «Proporcionar, em liberdade de consciência, a aquisição de noções de educação cívica e moral». Portanto, aplicável à educação para a cidadania.
E quem são as pessoas humanas a quem assim se reconhece expressamente o exercício da sua liberdade de consciência? São, evidentemente, todos os professores, alunos e pais dos alunos sob tutela parental, do ensino básico. Porque eles são, evidentemente, os únicos sujeitos jurídicos das relações jurídicas do ensino básico escolar.
5 Isto é tudo muito claro. E em nenhuma outra parte ou lugar (excepto eventualmente na imaginação anti-liberal de algum articulista) se encontra uma norma de Direito constitucional português ou de Direito internacional vigente em Portugal, que, ao contrário do que está na Convenção dos Direitos da Crianças (que é muito actualizada porque foi adoptada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de Novembro de 1989 e ratificada por Portugal em 21 de Setembro de 1990), dê às crianças o direito ou o dever de serem educadas pelo Estado, e ao mesmo tempo dê ao Estado o direito de educar as crianças.
O que se nota, em tantas e tantas intervenções a favor do Estado-educador, como no artigo de Maria João Marques, é que muita gente afirma opiniões acerca da educação das crianças como se educação fosse o mesmo que ensino. Mas não é. A educação tem nevralgicamente a ver com valores, valores religiosos, valores morais e valores cívicos que não podem ser autoritariamente impostos a ninguém, numa democracia baseada na dignidade da pessoa humana e nos seus direitos e deveres inatos, invioláveis, inalienáveis e irrenunciáveis. Enquanto que o ensino não implica necessariamente com as opções de valores.
6 A cidadania não é uma ciência; é uma consciência, embora o seu exercício necessite de conhecimentos, e portanto de ensino, porque é racional. Desde logo, necessita de conhecimentos de Direito constitucional, que é o mínimo comum da cidadania dos portugueses. Coisa a que a nossa disciplina de «Educação para a cidadania» dá menos importância do que dá, por exemplo, a uma endoutrinação amoral de sexualidade. Como se a vida sexual dos seres humanos não fosse questão ética e de valores, mas fosse apenas questão técnica e de sabores.
A cidadania é «questão de cidade» — isto é, de sociedade — não é «questão de Estado-Educador». É a cidadania da sociedade que deve educar o Estado; não é o Estado que deve educar a cidadania da sociedade. Na Declaração de Direitos do «Bom Povo da Virgínia», de 1776, que foi a primeira das Declarações que abriram o constitucionalismo da nova era da Revolução Liberal, consta esta sentença que é cheia de sabedoria: «Nenhum povo pode ter uma forma de governo livre, nem os benefícios da liberdade, sem a sua firme adesão à justiça, à moderação, à temperança, à frugalidade e à virtude, e se não regressar constantemente aos princípios que são fundamentais»: «Section 15. That no free government, or the blessings of liberty, can be preserved to any people but by a firm adherence to justice, moderation, temperance, frugality, and virtue and by frequent recurrence to fundamental principles.»
7 Sem dúvida não faltam, como experimentamos entre nós, derivas ideológicas autoritárias opostas a esta sabedoria de cidadania de cidadãos, e favoráveis a uma endoutrinação de súbditos pelo Estado. Mas, por outro lado, também se fazem progressos notáveis. Por exemplo, nos importantes desenvolvimentos filosóficos e jurídicos sobre «princípios constitucionais», de que aliás a nossa Constituição dá alguns bons exemplo. Notemos dois deles, que a colocam entre as melhores. O «princípio da democracia participativa», constante do art. 2.º, e o «princípio da subsidiariedade do Estado», constante do art. 6.º. O problema é que somos muito avançados na teoria e na letra da Constituição, mas depois não ligamos nada à Constituição. Quem é que entre nós se tem empenhado em cumprir estes dois princípios constitucionais?
E contudo os princípios constitucionais são obrigatórios, e não apenas meros conselhos. Diz assim o art. 277.º da nossa Constituição: «São inconstitucionais as normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consignados.»
8 Comparemo-nos com a Itália, único país, além de nós mas depois de nós, e apenas com o precedente da União Europeia, que introduziu expressamente na Constituição o princípio da subsidiariedade. Foi com base no princípio da subsidiariedade que, desde 1997, com a histórica Lei Bassanini, se iniciou uma reforma do sistema educativo italiano, que um muito conhecido manual de Legislazioni scolastica resume assim: «Com esta reforma, optou-se por um sistema organizativo não piramidal, mas de tipo horizontal, no qual a escola deixou de ser um terminal passivo de normas, circulares e regulamentos, e se tornou num centro de prestação de serviços, uma entidade protagonista, capaz de projectar e programar percursos didácticos, de elaborar novos métodos e, finalmente, de enfrentar necessidades de investigação e de experimentação» (cf. Legislazioni scolastica, Nápoles, Edizione Simone, 2020, p. 32].
Em correspondência a este estatuto de «autonomia funcional» das escolas públicas italianas, de todos os graus de ensino, todas as escolas são obrigadas a publicar o seu projecto educativo próprio, em que participam as famílias, e a instituir um chamado «Pacto Educativo de Corresponsabilidade», que tem por finalidade legal «definir de modo detalhado e condividido, os direitos e os deveres na relação entre a instituição escolar autónoma, os estudantes e as suas famílias» (cf. Legislazione scolastica, Nápoles, Edizione Simone, 2020, p. 188).
A que enorme distância está o nosso anti-liberalismo escolar, em Portugal, pelos vistos apoiado por ilustres colunistas que se julgam muito progressistas e muito liberais.
9 E já que estamos em maré de citações, e em crítica ao Estado Novo que subsiste em Portugal, também eu citarei Benjamim Constant, do seu clássico livro intitulado Da liberdade dos antigos e dos modernos. Escreveu ele assim: «A independência individual é a primeira necessidade dos modernos […]. Tal é para a educação, por exemplo; quanta coisa não nos dizem sobre a necessidade de permitirmos que o governo se aproprie das gerações nascentes para as modelar segundo o seu alvitre, e com quantas citações eruditas não apoiam esta teoria! […] Nós somos modernos, cada um de nós quer gozar os seus direitos fundamentais e desenvolver as suas faculdades como bem lhe parece, sem lesar os outros; […] não temos necessidade da autoridade pública para a nossa educação, a não ser para aceitarmos dela os meios materiais que ela pode fornecer, tal como os viajantes também aceitam da autoridade pública uma rede suficiente de estradas sem que por isso sejam dirigidos por essa autoridade pública nas rotas que cada um quer seguir.»
Aqui temos: se o Estado não se permite programar imperativamente o exercício das liberdades fundamentais de pensamento, de expressão, de imprensa e comunicação social, de religião, de opinião, de consciência, e por aí adiante, porque razão é que se arroga o poder de programar as liberdades de educação? O ensino básico obrigatório não é uma contradição das liberdades de educação. Que o Estado regule as liberdades e os deveres de educação, e o ensino básico obrigatório, como também regula o exercício de outras liberdades e deveres fundamentais, está muito bem; mas isso é exactamente para proteger o exercício desses direitos e deveres entre todos os cidadãos. Regular o seu exercício não é programar o seu exercício, nem muito menos executar imperativamente uma programação estadual por via de uma Administração Pública.
Mas não salta à vista que só para a programação do exercício das liberdades de cultura e de educação é que, no art. 43.º, a Constituição teve o cuidado de especificar severamente que «O Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer directrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas»? Porquê só para estas liberdades, e não também para outras, uma tal proibição? A resposta é evidente: por causa da triste e penosa história do Estado-educador e do Estado-cultural.
Aliás, a Constituição a Constituição é muito cautelosa sobre a restrição e a suspensão dos direitos, liberdades e garantias. Quanto à restrição, expressamente impõe, no art. 18.º, que só podem ocorrer «nos casos expressamente previstos na Constituição», e mesmo assim sem nunca «diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais».
10 Voltando, para finalizar, ao texto de Maria João Marques, depois destas considerações, reafirmo que ela tem razão quando cita que o Estado Novo permanece entre nós. Mas não, evidentemente, para criticar a Família Mesquita Guimarães. Isso é um disparate. Não é a Família Mesquita Guimarães que reproduz actualmente o Estado Novo. O que esta Família reproduz é a situação das famílias durante a «educação nacional» do «Estado Novo». Porque é o nosso Novo Estado Novo, como continuação do Estado-educador, que reproduz uma nova «educação nacional» autoritária pela acção directa de um «Ministério da Educação» — tal como fazia o «Estado Novo».
O que faz a Família Mesquita Guimarães é lutar contra o Novo Estado Novo. É invocar os seus direitos fundamentais, e resistir a uma dominação do Estado-educador contra os seus direitos de liberdade de educação. E ao abrigo do seu direito constitucional de resistência: «Todos têm o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda os seus direitos, liberdades e garantias… » (art. 21.º).
11 Os pais da Família Mesquita Guimarães já invocaram expressa e reiteradamente, perante a escola e também perante o Tribunal, a sua liberdade de consciência para justificar que não aceitam os objectivos da disciplina escolar obrigatória de educação para a cidadania e o desenvolvimento, ao abrigo da Declaração Universal, da Convenção dos Direitos da Criança, da nossa Constituição e da Lei de Bases do Sistema Educativo.
E o mesmo fizeram os filhos, note-se bem. Recorde-se o que diz o art. 12.º daquela Convenção: «Os Estados Partes garantem à criança com capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade.» Ora os filhos dos Pais Mesquita Guimarães, em causa, já têm suficiente capacidade de discernimento, e mais do que suficiente conhecimento da questão que sem dúvida sofridamente defrontam, para serem respeitados nas suas opções. E não são.
12 Mas então, com que razões Maria João Marques opina agressivamente sobre estas questões de direito constitucional, aliás pendentes em Tribunal, sem minimamente fundamentar, com razões de Direito constitucional, as suas tão furiosas teses? E como se atreve a ofender criminalmente o bom nome e a dignidade da Família Mesquita Guimarães, quando trata as suas legítimas e honradas acções por estas palavras: «a bacoca contestação às aulas de Cidadania obrigatórias por um casal de fundamentalistas católicos»? Do mesmo passo que presume que o Estado Português é por definição um bom Estado-educador?
A ilustre colunista que assim opina em termos excessivos sobre o que deve ser a educação para a cidadania, devia pelo menos conhecer a Constituição, que manifestamente não conhece, porque comete o feio crime de chamar à colação a religião das pessoas da Família Mesquita Guimarães. E se a Família fosse de comunistas, ou de ciganos, ou de muçulmanos, também lhe fazia esse reparo? Não fazia, pois não? Ora, assim se vê como é a sua educação para a cidadania.
13 Termino por lhe oferecer uma transcrição parcial do art. 41.º da Constituição, para sua leitura e meditação durante as férias, sobre a cidadania e acerca do respeito que lhe devem merecer as «convicções» e a «religião» dos membros da Família Mesquita Guimarães.
«(1) A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável. (2) Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa [permito-me sublinhar: convicções ou prática religiosa]. (3) Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder. […] (6) É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei».
ADENDA — Indesculpavelmente, tinha-me passado despercebido, e agora alguém me lembrou. A Doutora Teresa Violante, ilustre constitucionalista, também publicou um artigo, no Jornal “Público”, em referência ao caso da Família Mesquita Guimarães. Fui ler e, se bem interpreto, preferindo claramente dar importância a uma certa corrente de doutrina e de jurisprudência estrangeira e internacional, que de facto existe mas não é única, e omitindo tratar mais a fundo da questão à luz do Direito Constitucional Português. «É certo — escreve ela — que à luz da nossa Constituição, o Estado Português apresenta vinculações que estão ausentes noutras ordens jurídicas.» Mas depois, quando exemplifica essas vinculações, esquece a principal de todas, que é a do n.º 2 do art. 43.º, que proíbe o Estado de programar a educação. E escolhe uma outra, que não é nada específica, e pelo contrário é genérica, e não favorece a sua posição, porque o dever de o Estado «promover a democratização da educação» não se pode interpretar como poder o Estado impor uma única educação obrigatória para todos. Essa seria a igualdade soviética. A igualdade de oportunidades que a Constituição prescreve não é uma igualdade de uma única oportunidade, é igualdade de oportunidades no plural, isto é, respeitando o pluralismo democrático e as liberdades de consciência.
«Obviamente — reconhece a ilustre constitucionalista — a educação não é um processo alheio a valores. A educação não pode ser ideologicamente programada, como o impõe o artigo 43.º, n.º 2, mas isso não significa que seja valorativamente assética. Como reconhece o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) […]».
Mas esta não é a questão. A questão é que há educação e há ensino, que são coisas distintas. E que há valores e valores, também muito distintos. Terá sido por isto que o art. 43.º especifica as directrizes proibidas à programação da educação. Por sua vez, a Lei de Bases do Sistema Educativo, quando — interpretando a Constituição — inclui nos objectivos do ensino básico a educação moral e cívica, diz expressamente que um tal ensino deve respeitar a liberdade de consciência. Coisa que não diz para o ensino de outras disciplinas. Isto é uma importante distinção legal.
Finalmente, não vem para o caso lembrar que «A ação do Estado visa precisamente permitir que a liberdade de consciência dos pais não interfere na liberdade de consciência dos filhos, garantindo que os alunos podem formar livremente as suas convicções, dando-lhes condições para virem a ser adultos livres.» Porque a acção do Estado também deve garantir que os pais, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, exerçam efectivamente o seu direito prioritário de escolher o género de educação a dar aos seus filhos. Uma coisa não anula a outra. Mas lembrar a primeira coisa, e não lembrar a segunda, resulta objectivamente em tomar partido sobre a questão de facto. Ora, de facto, os Pais dos filhos da Família Mesquita Guimarães não estão a ser violados na sua consciência, como os próprios filhos declaram e se pode comprovar. Se os Pais Mesquita Guimarães quisessem sequestrar os filhos dos contactos sociais, não os tinham matriculado numa escola pública, nem os deixavam, como deixam, conviver socialmente fora da escola com toda a normalidade.
Sim, é bem sabido e não vale a penas disfarçar: esta questão é divisiva desde pelo menos o Despotismo educativo de Estado Iluminado. Mas o que nos deveria guiar, neste terceiro milénio, era a procura de uma concordância prática baseada não em deveres e poderes de Estado, que são meramente instrumentais e por isso institucionais — mesmo quando são interpretados por juízes constitucionais que nem por isso deixam de ser Estado. Mas sim nas liberdades essenciais da pessoa humana, aquelas que a Declaração Universal diz que são inatas e invioláveis. E quando se trata de crianças, não tenho dúvidas: excepto nos tristes casos de excepção, que são raros, ninguém ama mais e melhor as crianças e quer o seu bem do que os seus pais. O Estado não ama ninguém. Nem é amado, embora tenha idólatras.
E decisivamente, como escreveu uma grande figura moderna de cultura e de espiritualidade, «só o amor é confiável». Sim, em última análise, só o amor é confiável.