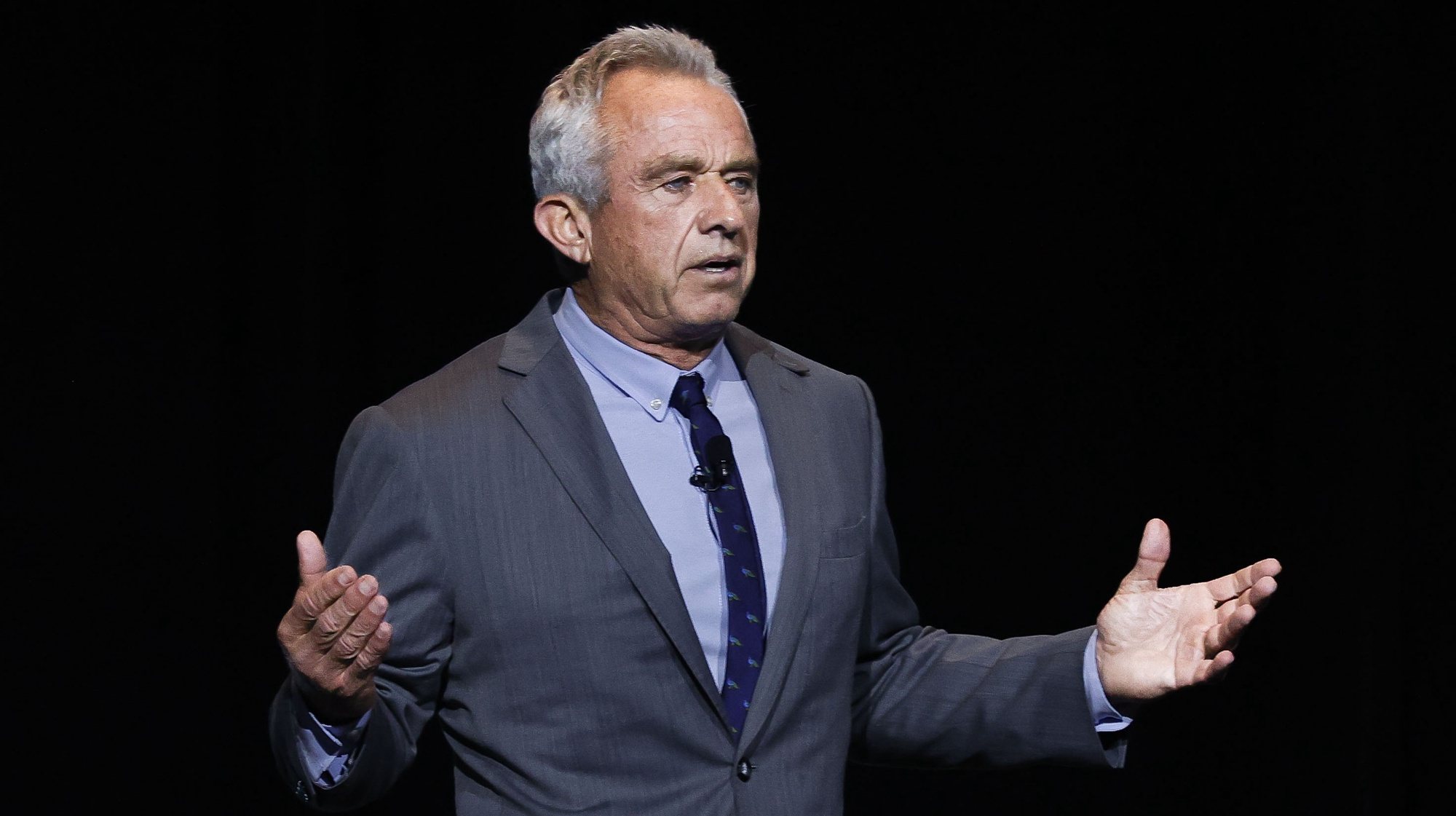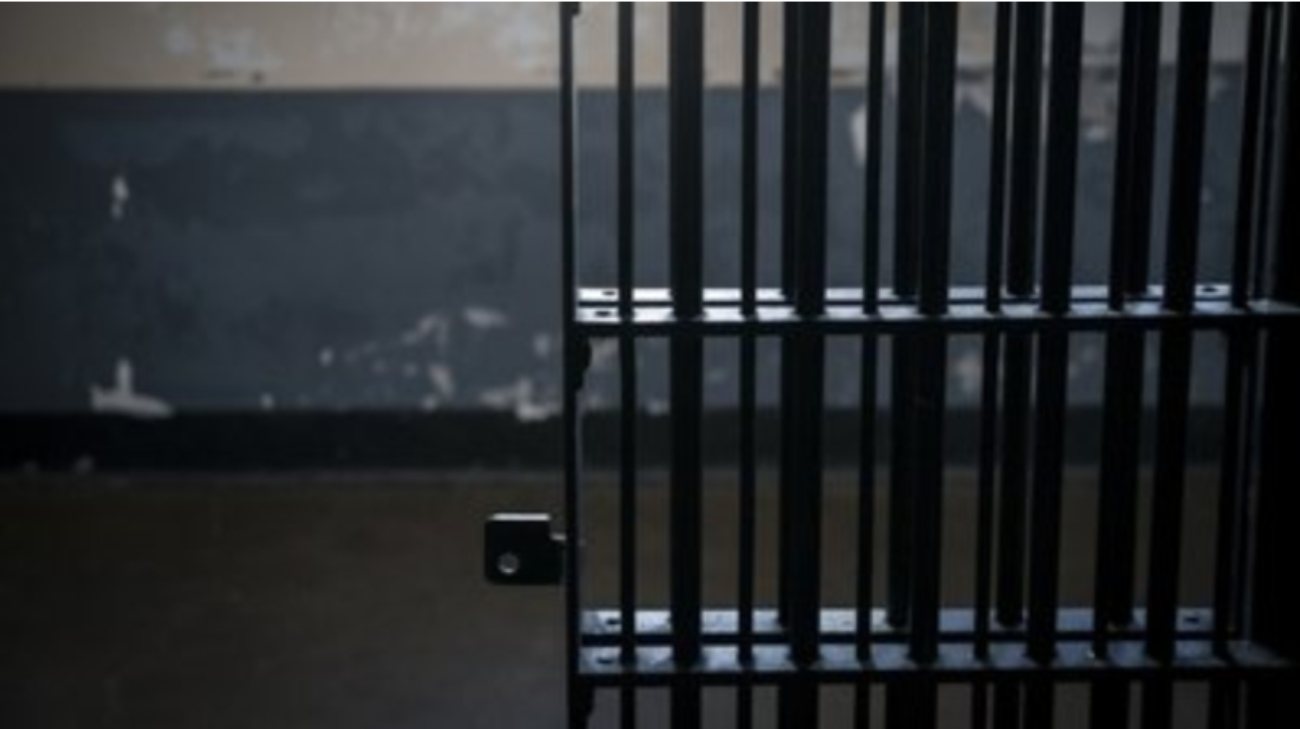Em 2016, meses depois de formado o Governo da geringonça, o Bloco de Esquerda propunha retirar do documento de identificação dos cidadãos portugueses o termo Cartão de Cidadão. Este ostentaria “linguagem sexista”, desrespeitadora da “identidade de género” de metade da população portuguesa. É certo que grande parte desta população, incauta e desatenta, não cogitara ser agastada na sua identidade pela própria língua materna e não levou a sério o problema. Mas o assunto, embora o parecesse, não foi um arroubo inócuo e inconsequente.
O tema da identidade de género, devidamente instrumentalizado, é aquele que hoje em dia, pelas emoções que suscita, permite privilegiadamente à esquerda radical encontrar um Ersatz da revolução e transformá-la em “combate cultural”. Neste quadro substitutivo, em vez da velha concepção da luta de classes, mas reproduzindo a visão do mundo que lhe está subjacente, promove-se a imagem de uma sociedade dividida entre uma espécie de maioria burguesa dominante e as reivindicações emancipatórias de minorias por si aviltadas, humilhadas e ofendidas. No lugar do velho Partido, vanguarda do proletariado alienado, aparecem então benevolentes humanistas encarregados de despertar a consciência de vítimas que ainda não sabem que o são. E em substituição da igualdade universal, presente no fim da história, emerge uma sociedade em permanente mea culpa, infinitamente expurgada sob a terapia receitada pela diligente vigilância de intérpretes alçados em voz de minorias silenciadas.
As questões de género regressam agora a Portugal, no fim da legislatura, no terreno onde a questão é mais sensível: na educação. Por isso, não se trata hoje de um inusitado fait divers. Trata-se de introduzir, pela coerção que a lei impõe, a obrigação de pensar e falar de acordo com uma concepção particular sobre o género: a concepção de que este é “autoatribuído” e consiste num mero direito de “autodeterminação” e “expressão”. Segundo a lei, instituições e agentes educativos partirão de um tal princípio como se fosse um facto. E o argumento é, naturalmente, o de que a simples discussão do assunto constitui a violação de direitos de cidadãos particularmente vulneráveis. Por esta razão, o grupo de deputados portugueses que se atreveu a fazer perguntas, solicitando a fiscalização da lei pelo Tribunal Constitucional, pôde ser imediatamente apupado como um bando de conservadores ignaros que não hesita em sobrepor os seus atávicos preconceitos à protecção de potenciais alvos de bullying escolar e discriminação social. Música para os ouvidos de quem se acha representante do bem, dos direitos e das pessoas reais contra o peso tenebroso de obscurantismos passados.
Na visão da esquerda radical, a questão da “identidade de género” deve ser resolvida antes de sequer ser levantada. Isso permite-lhe reduzir a pergunta pela constitucionalidade da lei a uma provocação intolerante, ofensiva e ultramontana. Contudo, uma atitude intelectualmente honesta não pode deixar de reconhecer que não é assim; que há aqui matéria para discussão e que seria desejável abordá-la sem os falsos melindres que habitualmente condicionam o debate. Marcado por discussões filosóficas e estudos culturais, o conceito de género não pode ser naturalizado ou dissociado da crítica.
O fundamento deste conceito é a noção de um “sujeito não-substancial”, configurado por discursos, práticas, instituições e normas que constituem aquilo a que, na linha de Michel Foucault, se pode chamar dispositivos de subjectivação: um “sujeito” entendido no duplo sentido tanto daquele que protagoniza e reproduz as práticas sociais e discursos que o moldam como daquele que lhes está submetido. Partindo desta perspectiva, a evocação da “identidade de género” aparece muitas vezes associada ao imaginário de uma libertação do indivíduo das práticas e dos discursos naturalizados de que é sujeito e a que está sujeito. Para os promotores desta visão, o agente desta libertação deverá ser um Estado terapêutico, consciente de que as práticas sociais nada têm que ver com a natureza e podem ser alteradas no sentido de criar um “homem novo”, livre e emancipado das violências do passado.
A partir daqui, o conceito de género – forjado para evocar o simples facto, óbvio e indesmentível, de que a sexualidade humana se relaciona com práticas sociais – diz hoje algo mais do que esta simples obviedade. Sugere que a noção de sexo, ligado a determinações biológicas, evoca uma violência que cinde binariamente os corpos sexuados entre masculino e feminino. Afirma que o género, por contraste, se deve referir exclusivamente a uma identidade performativa cultivada por práticas e discursos que são sempre politicamente determinados. E pressupõe que a sociedade é opressora, constituindo um conjunto de práticas que, uma vez naturalizadas e radicadas numa ontologia substancialista, estabelecem uma estrutura de dominação.
É neste registo que uma autora interessante como Judith Butler pode falar explicitamente de uma “descontinuidade radical entre corpos sexuados e géneros culturalmente construídos”. Assumida como ponto de partida, a afirmação desta “descontinuidade radical” justificar-se-ia pelo seu potencial transformador no plano das relações pessoais, sociais e políticas. E é aqui que reside o interesse da “teoria de género” para a esquerda radical. Livre da divisão biológica binária entre masculino e feminino, em que ainda seria pensado numa relação mimética com o sexo, o género torna-se um conceito instrumental para “perturbar” uma sociedade concebida como conflito permanente entre uma maioria opressora imaginária e a multidão indefinida das suas vítimas. As “perturbações de género”, diz-nos Butler no seu famoso livro Gender Trouble, visam “a possibilidade de subverter e deslocar as noções de género naturalizadas e reificadas que suportam a hegemonia masculina e o poder hetero-sexista”.
Frases como esta são suficientes para mostrar que o uso político da “teoria do género” não está centrado na ideia de que as pessoas devem ser livres e respeitadas nas suas opções sexuais. Este uso centra-se antes na ideia dogmática de que o respeito pela liberdade e pelas opções sexuais de cada um depende da aceitação de uma teoria segundo a qual as funções sociais do masculino e do feminino são mera construção cultural, e de que as instituições, os costumes, as tradições e a educação têm no seu fundamento a reprodução de um sexismo hegemónico que deve ser infinitamente exorcizado. As duas ideias não são identificáveis nem confundíveis. Se a primeira constitui um imperativo ético, político e jurídico incondicional, a segunda não pode deixar de surgir como um pressuposto dogmático contestável.
O respeito por pessoas homossexuais ou transsexuais é imperativo e nesse campo muito trabalho há ainda por fazer (a resistência em relação à adopção por famílias homossexuais, mesmo depois do reconhecimento legal do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é disso um exemplo eloquente). Mas este respeito não exige a admissão acrítica de um dualismo excludente, cientificamente desmentido, entre o cultural e o biológico, e muito menos permite ou torna aceitável que o Estado intervenha para condicionar o pensamento e impor por lei uma linguagem e uma visão do mundo. Para reconhecer os direitos das mulheres não é necessário compreender a chamada família tradicional, as relações heterossexuais e a colaboração milenar entre fêmeas e machos na reprodução da espécie como expressão de uma “dominação patriarcal”. Do mesmo modo, para respeitar os direitos de homossexuais ou transsexuais não é preciso apelar a uma “coligação de minorias sexuais” – a formulação é ainda de Judith Butler – que se proponha transformar o Estado e a lei em agentes promotores de uma visão do mundo. Pensar desta maneira o respeito pelas minorias sexuais significa instrumentalizá-las e é este o pequeno passo que ameaça converter as “teorias de género” em ideologia.