Título: “Arqueologia nos Açores. Uma breve história”
Autor: José Luís Neto
Editora: Instituto Açoriano de Cultura
Páginas: 127
Preço: 10€
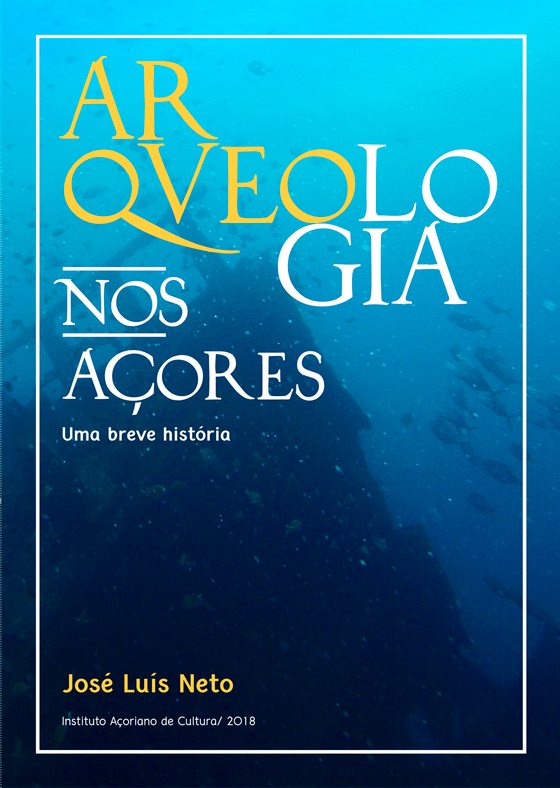
Grémio literário de antiga tradição, o Instituto Açoriano de Cultura desenvolve um contínuo calendário de conferências, exposições e edições que transcende muito o âmbito da Ilha Terceira em que foi criado em 1955. Não apenas pela acuidade dessas iniciativas, mas também pelo mais recente quase arrojo visual delas, que contrasta de imediato com arcaísmos estéticos ainda tão incrustados na maioria das práticas locais, municipais e regionais, onde a chegada do grande design ao regular serviço corrente das comunidades (com toda a sua crescente panóplia de recursos técnicos, cada vez mais pró-criativos e qualificantes) está ainda muito longe de cumprir-se. E isso não é pouco, porquanto o que ou quem bem merecia tal qualificação moderna é travado pelo ressequido amadorismo insane, um nivelar por baixo que tantas vezes resulta do mais grosseiro facilitismo institucional. (E é bem pior do que as ementas das cervejarias rabiscadas em má caligrafia sobre toalhas de papel fixadas com fita-cola nas vitrinas, que Miguel Esteves Cardoso elegeu há anos como o contributo tipicamente português para o design comercial…)
É notável o que este Instituto faz, pois também refuta a olhos vistos o Azorean torpor ou o isolamento ilhéu, demonstrando que antípodas ultraperiféricos podem ser hoje razoavelmente compensados por uma globalização bem medida e pensada, que a tecnologia trouxe a quem queira ou saiba fazer bom uso dela. E se no caminho entre dois grandes continentes os Açores parecem estar “na moda”, como ilhas desconhecidas por descobrir, então são as instituições culturais e patrimoniais do arquipélago, públicas e privadas, grandes e pequenas, novas ou antigas (como esta é), que em primeira linha podem mostrar aos que agora chegam e aos que ali moram, não apenas as boas curiosidades duma história que dá ufania conhecer — e Descobrimento Científico dos Açores. Do povoamento ao início da erupção dos Capelinhos, de Luís M. Arruda (também IAC, 2014, 424 pp.) faz seguramente parte desse processo de consciência colectiva —, mas que ali se pratica e persiste um debate atento, contínuo, fundamental — são as sessões intituladas Grémio das 9, às sextas-feiras — acerca dos problemas do presente e do futuro, da região e do mundo.
Ora, pode bem dizer-se que se tal debate fosse um alvo, este livro de José Luís Neto seria uma flecha que acerta e fica a vibrar no 10…
Porto de passagem das rotas marítimas entre Europa, América do Norte, Brasil e Ásia, escala dos navios da célebre Carreira da Índia como de cargueiros de todo o tipo no século passado, o arquipélago acumulou uma quantidade assinalável de embarcações naufragadas nas suas águas territoriais ou mesmo nas baías dos seus principais portos (“um milhar de naufrágios”, p. 15), um espólio extraordinário que atraiu caçadores de tesouros e outros aventureiros de igual pinta (um “resistente espectro”, p. 12; “actividade predatória”, p. 23), tanto quanto a riquíssima biodiversidade das suas águas — por conjugação de correntes oceânicas — fascinou e fascina biólogos do mundo inteiro.
Aliás, a primeira reserva arqueológica subaquática do país foi criada na baía de Angra e das Águas, por dois ministérios de Lisboa inspirados em Fevereiro de 1973 pela “profética e preclara visão” (sic) de Manuel Baptista de Lima (1920-96, director do Museu de Angra do Heroísmo), de modo a favorecer a investigação científica — sobre arquitectura naval, por exemplo — e a salvaguarda de bens culturais naquele que José Luís Neto considera ser “um dos locais mais promissores da arqueologia subaquática portuguesa, europeia e mundial”, “um património de extraordinária grandeza científica, bem como de rara beleza” (p. 38), condensado na “grandeza da capital da navegação do Atlântico Norte” (p. 48). Hoje são visitáveis cinco parques arqueológicos subaquáticos, criados em 2005, 2012, 2014 e 2015 na Ilha Terceira, Flores, Santa Maria e São Miguel, o Roteiro do Património Cultural Subaquático dos Açores abrange 30 sítios (e pode crescer), e centros interpretativos estão a ser preparados para oferecer em algumas zonas portuárias “as histórias que vêm do fundo do mar” (p. 16) ou “a história das navegações nos Açores e no mundo” (p. 38).
O que no fim das contas (e na conclusão deste livro, p. 99) está em causa é “o paradigma social vigente na relação entre a matéria-prima da arqueologia — as coisas de antanho — e a economia local, as estratégias do turismo, o enquadramento de criação de emprego, a sustentabilidade ambiental, a revitalização das estruturas museológicas e o contexto da formação académica de Humanidades à escala regional”. Na história relativamente adulta da autonomia administrativa dos Açores, avanços e recuos em gestão patrimonial e em habilitação técnico-científica para intervenções arqueológicas (tantas vezes dependentes, ainda, de empresas especializadas do continente ou até de estrangeiros academicamente vinculados) foram marcados por fenómenos naturais, como o terramoto de 1 de Janeiro de 1980, que desmoronou parcialmente a cidade de Angra do Heroísmo, mas também por grandes obras infra-estruturais portuárias ou rodoviárias (abençoados fundos comunitários…), e campanhas de reabilitação monumental, sobretudo em igrejas, conventos, chafarizes e fortificações, para além de protocolos da chamada “arqueologia de emergência ou prevenção” em área urbana, fixados por regulamentos nacionais e comunitários.
Ainda que em fase “muitíssimo precoce” (p. 62), trabalhos de “arqueologia da água” para consumo urbano — do sistema gravitacional ao abastecimento por pressão — parecem estar a pôr a descoberto em Angra do Heroísmo uma “rede absolutamente extraordinária”, levando Neto a acreditar que um acréscimo da actividade arqueológica sistemática pode criar “novos pontos de interesse no tecido urbano”, em que certa “mestiçagem transgeracional” (sic) cruze “raízes totémicas das origens” com “criação contemporânea”, levando à “capitalização turística” e à “bem planeada regeneração dos centros históricos”, com a consequente “sustentabilidade das actividades económicas dessas áreas” (p. 49).
Importa dizer que a tutela do património dito arqueológico passou para o governo dos Açores em Agosto de 2000, e que o autor considera a legislação regional, aprovada quatro anos depois, “mais vanguardista que a nacional” (p. 64), sobretudo no que diz respeito tanto às compensações como às penalizações concebidas a descobridores fortuitos, declarados ou omissos, de achados subaquáticos de valor patrimonial, ou que as intervenções no Forte de Santa Clara (2010) e no Recolhimento de Santa Bárbara (2007-8), ambos em Ponta Delgada — o primeiro, um caso de “excelência técnica” e “uma intervenção de referência nacional, em estruturas arquitectónicas, que deveria ser bem mais conhecida” (p. 68) — são paradigmáticas do rápido salto qualificativo realizado pelo “fenómeno arqueocultural açoriano” (p. 71), impulsionado — um ano antes e da pior maneira possível — pelo colapso do convento de São João Evangelista, para construção do novo Teatro Micaelense.
Naturalmente, todo este súbito acréscimo de intervenções arqueológicas de salvaguarda ou prevenção, com os seus “processos lentos”, tantas vezes inconvenientes, precisa de ser “partilhado com as pessoas”, até com os efeitos mais surpreendentes, como o daquele segundo canhão em bronze descoberto por mergulhadores desportivos em Ponta Graça (Vila Franca do Campo, São Miguel), que o município conseguiu resgatar para o museu local, com manifesto sucesso de visitas.
José Luís Neto também nos diz que o cenário arqueológico nas restantes ilhas “tem pouco de semelhante” com o que descreve para Terceira e São Miguel, mostrando que a centralidade de umas é a debilidade de outras e que a coesão territorial permanece — também neste domínio — um grave problema deste arquipélago, tanto em domínio marítimo como terrestre. No Corvo, onde em 1978 e 1986 se procuraram indícios de navegação da Antiguidade, buscaram-se em 2014-15 vestígios da antiga ermida de Nossa Senhora do Rosário, dessacralizada em 1690 em favor da igreja matriz actual, na expectativa da descoberta de “formas de trocas culturais e de miscigenações feéricas” (p. 97) ali testemunhadas pela presença de escravos subsarianos, seus primitivos colonos. Ainda assim, cooperação internacional como o projecto Azores Shipwreck Survey (1996-98) permitiu localizar a fragata inglesa Pallas, um navio de 728 toneladas, 36 armas e 240 oficiais e marinheiros que participou nas guerras dos sete anos e da independência norte-americana mas acabou os seus dias arrastado por uma tempestade violenta até à baía da Calheta, em São Jorge.
Outra parceria, com a Fundação Rebikoff-Niggeler (sediada na Horta), permitiu estudar em 1998 a fragata francesa L’Astrée, que corroída por vermes xilófagos das águas quentes das Caraíbas — donde precedia com carga de café e açúcar em 1796 —, metendo água e muito fustigada pelo mau tempo, decidiu lançar-se contra a costa da ilha do Pico, perto de São Roque, para grande mortandade dos seus passageiros e tripulantes (e salvamento de uns poucos). Em 1998-99 várias prospecções com colaboração internacional foram feitas nas baías de Porto Pim e Horta, na ilha do Faial. Em 2011, colaboração da DRAC com a Missão M@rbis, localizou o Olympia, naufragado junto aos ilhéus das Formigas, em Santa Maria. (Infelizmente, a Cronologia fica-se por 2015-16, quando seria curial — e vantajoso — actualizá-la até à data da edição.)
José Luís Neto escreveu um livro para “dar, de forma despretensiosa, testemunho do que foi e têm sido os trabalhos arqueológicos nos Açores” e, deste modo, ser “apenas mais uma pedrinha para a construção da noção de comunidade” (pp. 7, 8), mas um invulgar e ambicioso programa de lançamentos-apresentações (Angra, Ponta Delgada, Horta; Lisboa, há bem poucos dias), favorecendo a divulgação do que foi feito e o debate do que fazer no futuro, permite projectá-lo bem para além disso. Todavia, o papel — central? — da Universidade dos Açores na formação teórico-prática de novas gerações de arqueólogos, capaz de reduzir a evidente dependência externa (certamente mais onerosa para a Administração e os privados), e como catalisadora de parcerias internacionais ficou claramente por equacionar, ainda que a questão surja com clara evidência para a sustentabilidade insular. Talvez possa ser tema de novo capítulo em segunda edição, a par de índices onomástico e toponímico que tornem o livro de mais profícua e rápida consulta.


















