Título: 365 Dias que Mudaram as Nossas Vidas
Fotografia: Clara Azevedo
Prefácio: António Costa
Design: Leonel Duarte
Editora: Imprensa Nacional
Páginas: 132
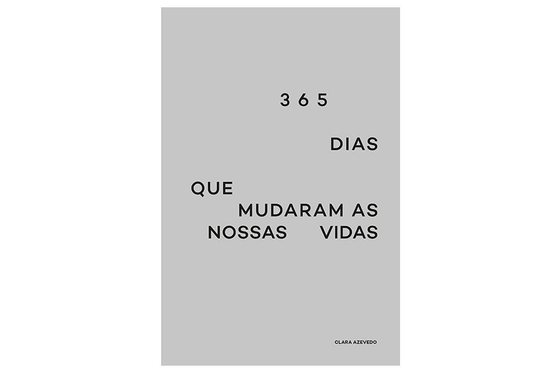
A pandemia de covid-19 criou um enorme sobressalto nas artes & letras, colocadas diante duma experiência pessoal e colectiva de que não havia memória, e isso estimulou-as a reagir ao que de repente trouxe ao quotidiano de todos em todas as latitudes preocupações, angústias e medos, ao mesmo tempo que uma audaciosa possibilidade de reexame e vontade de mudança. Escritores, pintores, bailarinos — entre outros — foram postos diante de novos desafios de observação e comentário dum mundo em que doença, morte, devastação, confinamento e teletrabalho, ciência e anti-ciência, egoísmo e solidariedade, prudência e bom senso ganharam uma premência que dificilmente se adivinhava no horizonte. Entre nós — sem esforço de inventário — podem apontar-se as crónicas expressas de Gonçalo M. Tavares, o álbum de desenhos brancos de António Jorge Gonçalves, o Cidade Suspensa: Lisboa em estado de emergência de Miguel Valle de Figueiredo e Bruno Vieira Amaral, as fotografias de Lisboa-Vik de David Cachopo e de Um Dia a Cidade Parou de Rui Pedro Esteves, ou o diário luso-britânico de Clara Macedo Cabral, como ensaios interpretativos dum tempo inusitado e excepcional, repleto de perplexidades com que ninguém imaginaria confrontar-se. Familiares, vizinhos, desconhecidos passaram a cruzar-se ou a conviver debaixo duma ameaça de contágio suave ou letal, quase anónimos mascarados que, ainda por cima, respiram mal. Para um fotojornalista, essa nova realidade irreal convida facilmente ao sair à rua para tentar registar e interpretar o que veio “mudar a nossa vida”, mas seria preferível dizer que a ameaçou.
Clara Azevedo — não duvido um segundo — é uma excelente fotógrafa, uma profissional experiente e dotada de grande talento, e é precisamente por isso que este seu pequeno livro merece atenção. Fotógrafa oficial do primeiro-ministro António Costa, acompanha-o quotidianamente desde Março de 2016 num paroxismo de registos cuja necessidade ou utilidade legitimamente se pode e deve questionar (não é, todavia, este o lugar para discutir isso), e depois, algures nos interstícios desse frenesim político, volta, digamos, ainda que em momentos pessoais de lazer e pausa, ao seu natural profissional, disparando a sua máquina fotográfica numa variedade de momentos e ambientes em que busca identificar — ou catalogar — o que o vírus veio trazer às nossas vidas. Porém, a sua posição especial confere-lhe uma ambiguidade que não pode ser ignorada, e mais ainda quando de vários lados, e repetidamente, saltam denúncias duma tentativa de instrumentalização política das artes pelo Estado, seja em representações internacionais de prestígio, como a da Bienal de Veneza, seja na vinculação politicamente correcta da agenda cultural e do apoio financeiro concedido a grupos ou indivíduos artísticos. Neste domínio, caberia até perguntar se qualquer outro fotógrafo, com um projecto idêntico, relacionado com a pandemia, alcançaria da editora pública aprovação e uma tão evidente prioridade para que livro deste tipo e cariz se publicasse em poucos meses, nos finais de 2021. A resposta só pode ser uma: não alcançaria.
Não estamos a falar do interessantíssimo projecto do ministro Manuel Heitor, que no mesmo período pandémico convidou Luísa Ferreira — também uma ex-fotojornalista, e creio que da mesma geração que Clara Azevedo — a visitar laboratórios, hospitais e centros universitários de ciência, para a realização dum foto-livro, A Ciência Cura. O conhecimento no combate à covid-19 em Portugal, igualmente editado — e bem — pela Imprensa Nacional (em cuja loja online o nome desta fotógrafa continua a não ser registado devidamente como autora, vá lá saber-se porquê). E também não podemos compará-lo ou confundi-lo com Design em São Bento. Traços da Cultura Portuguesa. Residência oficial do Primeiro-Ministro (Dezembro de 2021), um álbum de propaganda e demagogia, dispendioso e inútil, que visa demonstrar “a vitalidade que permeia [sic] a cultura portuguesa contemporânea” e exibir o “design como factor estratégico de inovação, competitividade e sustentabilidade”, muito embora coubesse questionar quanto daquilo se transfere de facto — mas é rigorosamente nada! — para instituições públicas como tribunais, bibliotecas, universidades, etc., onde ainda hoje têm de dar, e dão boa conta de si mobiliário, iluminária e tapeçaria dos anos 1950-60, portanto do malfadado Estado Novo… (Azevedo fotografou a instalação da exposição que lhe correspondeu, em Outubro passado, mas 365 Dias… fica-se por Março de 2021.)
O primeiro-ministro aparece em 21 das 101 imagens, ora sozinho, ora conversando com ministros, ora em cimeiras, no parlamento ou em videoconferências — sim, lá estão, muito significativamente, as bandeiras da República Portuguesa e da União Europeia a tapar parcialmente uma tela de Eduardo Batarda… (pp. 84-85) —, até mesmo a fazer um teste (p. 94), ou a triste figura de fotografar com telemóvel a chegada dum avião com máscaras e demais protecção individual (27 de Março; p. 11). Uma das fotografias tem como legenda: “Dias de decisões difíceis” (13 de Novembro; p. 83). O elogio do chefe do governo vai ao ponto de captá-lo, solitário, a ler enquanto sobe uma escadaria do parlamento, no “dia de debate para a renovação do estado de emergência” (1 de Dezembro; pp. 90-91), ou, descendo escada estreita, a combinar-se com a ministra Ana Mendes Godinho aquando do “lançamento de programas de reforço dos equipamentos sociais”, em Agosto (pp. 62-63). Um pequeno passo apenas, dir-se-ia, para o homem providencial…
A elegância cromática das fotografias de Clara Azevedo não nos dá a gravidade do que se passou. Não há nem velhos nem pobres, não há filas de ambulância à entrada de hospitais, o sobreloteamento de comboios suburbanos — que tantas vezes vimos repetido na televisão — é trocado pelo pólo oposto, a excepção da bela arquitectura contemporânea do terminal rodoviário de Tavira, com muito pouca gente (“Continuam os condicionamentos nos transportes públicos”, 25 de Julho, pp. 52-53), e do desastroso fecho de museus e galerias a referência dada é apenas a da sua reabertura, mas… em Haia, Holanda (p. 49). O colapso dos centros de saúde — e o dramático e desesperante adiamento de cuidados não-covid, com as consequências para a saúde pública hoje devidamente estabelecidas — também foi posto sob eclipse: na p. 87 pacientes esperam numa cómoda sala da Unidade Oftalmológica de Coimbra, e é tudo. A primeira vez que aparecem médicos e enfermeiros é a 30 de Dezembro (pp. 98-99) e vistos de costas, num corredor hospitalar, e “os heróis” que eles efectivamente são, numa foto de grupo perfilado — sem traços de exaustão — só a 2 de Março, no Curry Cabral, em Lisboa (pp. 122-23). Dos hospitais privados como almofada para as insuficiências do serviço público de saúde, nem sinais, pois então…
Num ano fortemente marcado pelo escândalo das estufas em Odemira, em Maio, Clara Azevedo prefere mostrar-nos que “à noite a comunidade do Bangladesh encontra-se para jogar futebol de rua” no Martim Moniz, em Lisboa (14 de Junho, pp. 36-37). De tudo o que que se passou e viu a 1 de Maio, na Alameda D. Afonso Henriques, a única imagem dada é a dum anoraque pendurado numa viatura da CGTP (p. 22). A manifestação contra o racismo, a 6 de Junho, na Avenida de Almirante Reis, está representada por um abraço entre negros e num bebé de fralda que à janela é exibido pela mãe segurando cartaz com “Descolonizar currículos já!” (pp. 32-33). E para que nada falte ao elenco dos temas da moda, duas jovens mulheres beijam-se junto à Fonte Luminosa, debaixo duma Tágide jactante que parece sorrir-lhes (“Sem máscara”, p. 81), e a “cidade multicultural” — esse grande cartaz publicitário — é-nos resumida a uma mãe muçulmana na Rua do Benformoso (p. 126).
A Lisboa à beira-rio no Parque das Nações e em Belém está em evidência nos registos de Clara Azevedo, onde passeios solitários, exercício físico e desportos radicais são modalidades de alongamento físico e mental face ao constrangimento pandémico. Figuras recortam-se a contraluz sobre céus crepusculares na Araujinha, São João do Estoril (11 de Março; p. 134) ou na Fuzeta algarvia (3 de Setembro; p. 65), enquanto outras se lançam à água na Baía de Cascais (“Mergulhar no mar liberta”; p. 64) e alguém “dança ao vento” na Comporta (28 de Junho; p. 42). O país em desespero e em risco nunca passa verdadeiramente por aqui. “Finalmente dias de sol” mostra-nos o luminoso arco-íris do painel de azulejos de Eduardo Nery na Avenida do Infante Santo, e para mim esta imagem é o retrato absoluto deste diário fotográfico de quem viu e atravessou a pandemia do ponto de vista que, por simplificação, poderíamos chamar da “esquerda caviar”, comodamente instalada no aparelho do Estado, a grande distância das incomodidades do desemprego, da falência e da crise sanitária. O idílio de luz e mar que protege as figuras de poder que no terraço ou varanda da Fundação Champalimaud observam o voo duma gaivota (29 de Setembro; p. 69), é também o retrato em indisputável classicismo estético que quer transmitir a ilusão de boa governança num país que — muito pelo contrário — precisa urgentemente de se reformar, para sobreviver. Compará-lo com a fotografia de Salazar no forte de Santo António do Estoril não me parece tão descabido quanto isso.


















