Sobre a génese, o percurso, a filosofia e a importância histórica da editora ECM, fundada em Munique em 1969 por Manfred Eicher, já aqui se escreveu quando da saída dos primeiros 25 títulos da série económica Touchstones (ver ECM: Há 50 anos a redefinir o jazz). Do novo lote de 25, seleccionaram-se os 12 títulos que se seguem.
Nota 1: salvo indicação em contrário, as datas associadas aos álbuns referem-se ao ano de gravação, não ao de edição.
Chick Corea/Gary Burton
“Crystal silence”, 1972
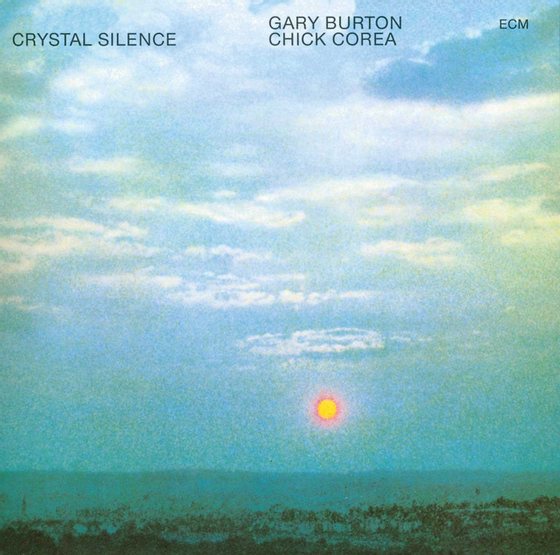
Chick Corea/Gary Burton, “Crystal silence”
A história do jazz regista raros inícios de carreira tão avassaladores quanto o de Chick Corea. Nascido no Massachusetts em 1941 (e baptizado como Armando Corea) numa família onde se mesclavam sangue italiano e espanhol, estreara-se como líder com o lançamento em 1968 de dois álbuns de surpreendente maturidade: Tone’s for Joan’s bones (gravado dois anos antes) e Now he sings, now he sobs.
[“Matrix”, de Now he sings, now he sobs, com Miroslav Vitous (contrabaixo) e Roy Haynes (bateria):]
Nesse mesmo ano, Miles Davis recrutou-o para o corpo de elite com que iria lançar uma revolução que mudaria para sempre o rosto do jazz e que gravaria, entre outros álbuns, os seminais Filles de Kilimanjaro (1968), In a silent way (1969), Bitches brew (1969), Live at the Filmore East (1970) e Jack Johnson (1970). Em 1969-72, também na qualidade de sideman, Corea gravou uma revoada de discos sob a liderança de Marion Brown, Larry Coryell, Richard Davis, Joe Farrell, Elvin Jones, Eric Kloss, Rolf Kühn, Hubert Laws, Airto Moreira, John Surman e Sadao Watanabe, a maior parte deles filiados nas franjas mais vanguardistas do jazz de então.
[Chick Corea em 1969, quando fazia parte do grupo de Miles Davis]
Poderia julgar-se que esta preenchida agenda manteria Corea ocupado e limitaria a sua criação própria, mas este período assistiu ao registo (com edição por vezes diferida) dos seus álbuns:
Is (1969, Solid State) e Sundance (1969, Groove Merchant), por um super-septeto com Woody Shaw, Hubert Laws, Bernie Maupin, Dave Holland, Jack DeJohnette e Horace Arnold;
The Song of Singing (1970, Blue Note) e A.R.C. (1971, ECM), em trio com Holland e Barry Altschul;
Circling in (1970, Blue Note), Circulus (1970, Blue Note), Paris Concert (1970, ECM) e Circle 1 e 2 (1970 e 1971, CBS/Sony), pelo quarteto Circle, resultante da adição de Anthony Braxton ao trio anterior;
E ainda Piano Improvisations 1 e 2 (1971, ECM), em piano solo.
[“Where are you now?”, de Piano Improvisations 1]
Em 1972, Corea fundou o projecto Return To Forever, com Joe Farrell, Stanley Clarke, Airto Moreira e Flora Purim, cujo álbum de estreia, homónimo, seria gravado em Nova Iorque em Fevereiro e lançado em Setembro pela ECM. Dois meses depois, Manfred Eicher, tirando partido do período de esfuziante criatividade que Corea atravessava, fê-lo entrar novamente em estúdio, desta feita no Rainbow Studio de Oslo, para um duo com o vibrafonista Gary Burton.
Em 1972, Burton (n.1943) ainda não chegara aos 30 anos, mas estava longe de ser um caloiro: após estrear-se em nome próprio aos 18 anos, com New vibe man in town (1961), gravara 17 álbuns como líder ou co-líder e em 1968, com 25 anos, fora eleito “Jazzman do Ano” pela revista Downbeat (o mais novo de sempre a receber tal distinção). E se começara em território convencional, foi, no final da década, fazendo apostas arriscadas: em 1967 formou um quarteto com o guitarrista Larry Coryell, com uma sonoridade prenunciava o jazz-rock, e registou uma ousada “ópera sem palavras” composta por Carla Bley, A genuine Tong funeral (1967-68, RCA), em que o quarteto era reforçado por um quinteto de sopros e pela própria Carla Bley.
[“The opening/ Shovels/ The survivors/ Grave train”, de A genuine Tong funeral]
O quarteto de Burton ficou sem Coryell em 1969, mas entretanto ganhara o baixista Steve Swallow (outra figura central da música desta época), e, em 1969-70, com diversos guitarristas a suceder-se no posto de Coryell, gravou com Stéphane Grapelli (1969, Atlantic) e Keith Jarrett (1970, Atlantic). Como contrapartida para esta intensa actividade colaborativa, em 1971 Burton registou, ao vivo no Festival de Montreux, um disco de vibrafone solo, apropriadamente intitulado Alone at last (Atlantic).
Crystal silence é, assim, o encontro entre dois jovens mas já firmados criadores no auge das suas capacidades. O encontro é menos electrizante e original do que os antecedentes de ambos e a insólita combinação piano + vibrafone deixariam antever, mas é cativante, sobretudo nas composições da autoria de Corea – Burton não tem contributo neste domínio e é Swallow, seu parceiro de quarteto, o 2.º compositor do programa. “Señor Mouse” e “Play today”, de Corea, abrem e fecham o disco com discreto toque latino e hábil articulação rítmica dos dois instrumentos, e “Children’s song” (também de Corea) é uma pequena jóia, ingénua e límpida.
[“Children’s song”, de Crystal silence:]
Em 1972, seria legítimo antever que Corea e Burton teriam pela frente os seus anos de ouro, mas a marcha do tempo revelaria algo bem diverso.
Corea reformularia os Return To Forever com um pendor mais funk e rock, tornando-os no paradigma da “jazz fusion” enfadonha, estridente e vã, e desbarataria o seu talento em discos da mais variada natureza (latina, acústica, electrónica, orquestral), sempre recheados de super-músicos e virtuosismo a rodos, mas sem alma (e melhor será fazer descer o véu misericordioso do silêncio sobre a vasta produção da sua Elektric Band para o tenebroso catálogo GRP).
Burton continuou a gravar para a ECM, em quarteto (quase sempre com Swallow, pontualmente com Pat Metheny e Eberhard Weber) e em duo com o guitarrista Ralph Towner, lançando discos um pouco flácidos mas que superam os que fez quando, em 1988, se mudou, também ele, para a GRP (que trocaria, em 1997, pela Concord, onde permanece até hoje) e se deixou de vez da experimentação e dos “vanguardismos” da juventude.
[“Falling grace”, uma das faixas de Crystal silence, ao vivo em 1976:]
O duo Corea/Burton retomou, a espaços, a actividade, gravando os álbuns Duet (1978, ECM), In concert (1979, ECM), Lyric suite for sextet (1982, ECM, com quarteto de cordas) e New crystal silence (2007, Concord), este último distinguido com um Grammy, mas estes reencontros não têm a frescura do disco de 1972 e dão ideia de ser uma forma de capitalizar a fama por ele granjeada (Burton chegaria a reeditar a fórmula com o pianista Makoto Ozone no lugar de Corea). Das largas dezenas de álbuns editados individualmente por Corea e Burton ao longo dos 47 anos transcorridos desde Crystal silence não será arriscado afirmar que nenhum deles é indispensável e que muitos deverão ser evitados a todo o custo.
Julian Priester
“Love, love”, 1973
Músicos: Hadley Caliman (flauta, saxofones, clarinete baixo), Mguanda David Johnson (flauta, saxofone), Pat Gleeson (sintetizador), Bayete Umbra Zindiko (piano, clarinete), Bill Connors (guitarra), Nyimbo Henry Franklin e Ron McClure (baixos eléctricos), Ndugu Leon Chancler e Kamau Eric Gravatt (bateria e percussão).
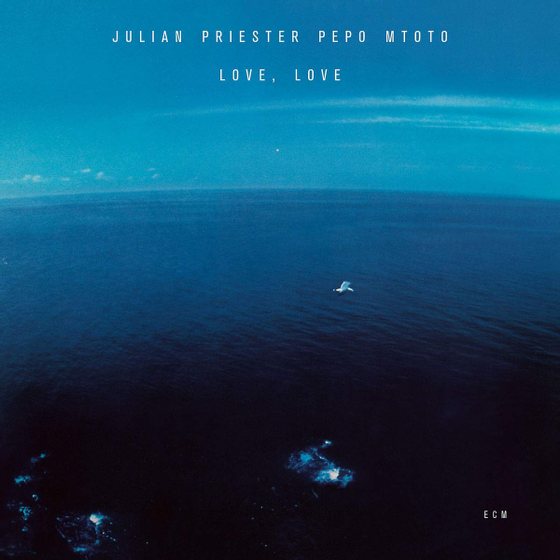
Julian Priester, “Love, love”
O trombonista Julian Priester nasceu em 1935 em Chicago e, ainda adolescente, fez parte da banda de Muddy Waters. Passou três anos na orquestra de Sun Ra, andou em tournée com Lionel Hampton e Dinah Washington, antes de se fixar em Nova Iorque, onde colaborou com Max Roach, Booker Little e muitos dos nomes principais do hard bop da década de 60. Em 1960, registou dois álbuns em nome próprio, Keep swingin’! (Riverside) e Spiritsville (Jazzland, uma subsidiária da Riverside), no registo hard bop típico da época, mas só 13 anos depois voltaria a gravar como líder.
[“Blue stride”, de Spiritsville, com Walter Benton, Charles Davis, McCoy Tyner, Sam Jones e Art Taylor:]
Ao longo da década de 1960, o fogo do hard bop foi esmorecendo e em 1969 Priester juntou-se à orquestra de Duke Ellington durante seis meses, passando depois para o sexteto de Herbie Hancock, que, entretanto, enveredara pelo jazz rock (influenciado por Miles Davis) e, a exemplo de muitos jazzmen afro-americanos da época, adoptara um nome africano (mais precisamente, swahili): “Mwandishi”. Com Hancock, Priester participou nos álbuns Mwandishi (1971), Crossings (1972) e Sextant (1972) e quando, em 1973, Hancock dissolveu a banda para criar os The Headhunters – um sell out que logrou extraordinário sucesso comercial – Priester mudou-se para São Francisco. Entretanto, também adoptara um nome africano, “Pepo Mtoto”, que surge na capa de Love, love.
O álbum compõe-se de apenas duas faixas de quase 20 minutos cada e foi concebido sob a influência de Bitches Brew e Mwandishi. A faixa que dá título ao álbum consiste num groove hipnótico de baixo(s) e bateria(s) sobre o qual os sopros, os sintetizadores e a guitarra vão pintando uma tela em registo de expressionismo abstracto; “Images/Eternal worlds” passa por uma fase de maelstrom sonoro e acaba por dar origem a um intenso fervilhar rítmico. É um bom exemplo do jazz “de fusão” dos anos 70, antes de este ter tomado as vias do exibicionismo tecnicista ou da música de elevador.
[“Prologue/Love, love”, a 1.ª metade do álbum Love, love:]
Quatro anos depois, Priester faria segunda incursão no género, com Polarization (ECM), com resultado bem mais frouxo – mas, por esta altura, o jazz rock entrara já em franca decadência. Nos 42 anos seguintes, Priester fez apenas meia dúzia de registos obscuros como líder ou co-líder, pelo que Love, love é, indiscutivelmente, o cume da sua magra discografia.

Julian Priester, 1987
Steve Kuhn
“Trance”, 1974
Músicos: Steve Swallow (baixo eléctrico), Jack DeJohnette (bateria), Sue Evans (percussão).
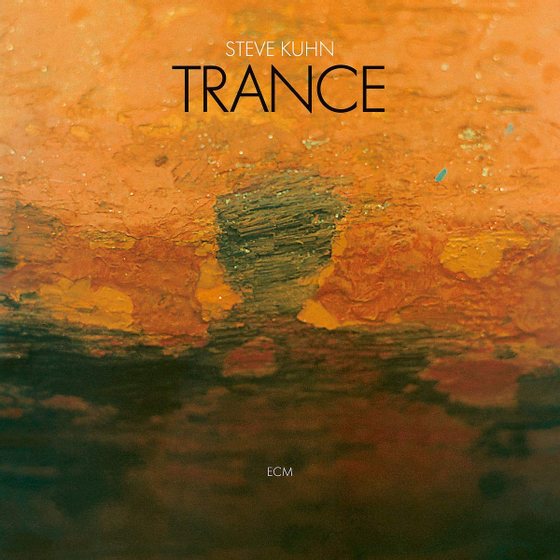
Steve Kuhn, “Trance”
O pianista Steve Kuhn (n.1938) nasceu em Brooklyn e estreou-se a gravar no quinteto de Kenny Dorham, no álbum Jazz contemporary (1960). Na qualidade de sideman trabalhou com John Coltrane, Stan Getz, Art Farmer e Oliver Nelson, entre outros, e gravou três discos como líder, The country and western sound of jazz pianos (1963), Three waves (1966) e, sobretudo, o original The October suite (1966), para trio e orquestra (com elaborados arranjos de Gary McFarland), antes de, em 1967, se estabelecer na Suécia.
Regressou a Nova Iorque em 1971, mas manteve os vínculos com a Europa, que o levaram a Oslo para gravar, a 1 de Novembro de 1974, Ecstasy (ECM). Alguns dias depois, e para a mesma editora, registou em Nova Iorque Trance.
O impressionismo luminoso e hipnótico da faixa que abre o álbum e lhe dá título é, com efeito, indutora de transe, e “A change of face” faz uma dramática mudança de rosto, assumindo um groove funk muito vivo, com Kuhn no piano eléctrico. Mais certeiro ainda é o título “Silver”, com o piano (a solo) a criar cintilações prateadas até onde a vista alcança. Kuhn retoma o piano eléctrico e o groove funk muito vivo – agora com leve sabor latino – em “Something somewhere” e “Squirt” e “The young blade” primam pela turbulência, sem nunca assentarem num groove regular.
Kuhn continuou a gravar na ECM até 1981, mas a partir de 1984 deixou a editora e passou a dedicar-se sobretudo a leituras relativamente ortodoxas de standards, uma opção inesperada em quem mostrara possuir voz própria como criador. Porém, no século XXI regressou esporadicamente à ECM, para gravar três discos, em que voltou a interpretar material de sua lavra – vale a pena ouvir o mais recente, Wisteria (2011), em trio com Steve Swallow (seu parceiro recorrente desde 1966) e Joey Baron.
Paul Motian
“Tribute”, 1974
Músicos: Carlos Ward (saxofone), Sam Brown e Paul Metze (guitarras), Charlie Haden (contrabaixo).

Paul Motian, “Tribute”
O baterista Paul Motian (1931-2011) nasceu em Filadélfia e iniciou carreira em 1954 em Nova Iorque, e ganhou notoriedade como membro do trio de Bill Evans, entre 1957 e 1962. Após múltiplas colaborações – nomeadamente com Paul Bley, Keith Jarrett e Charlie Haden – gravou em 1973 o seu primeiro álbum como líder, Conception vessel, na ECM, editora a que se manteria fiel até 1982.
Tribute recorre a uma formação invulgar para o jazz de então, com duas guitarras, contrabaixo e bateria, a que se somam, pontualmente, intervenções de saxofone. Motian tinha vindo a desenvolver um estilo muito particular na bateria e das cinco faixas do disco apenas numa, “Tuesday ends Saturday”, assegura um groove regular (ainda que invulgarmente transparente e ligeiro); nas outras actua mais como colorista do que como propulsor rítmico. Três das composições são de Motian, uma é de Ornette Coleman e outra é o clássico “Song for Che”, composição de Haden que fora gravada pela primeira vez no álbum Liberation Music Orchestra (1969, Impulse!), em que Motian participara.
A afinidade por guitarras continuaria ao longo da sua carreira, como atestam as suas duas formações mais duradouras: o trio com o guitarrista Bill Frisell e o saxofonista Joe Lovano (que se estreou no registo de 1984 para a ECM It should’ve happened a long time ago) e a Electric Bebop Band, uma formação com duas (e, por vezes, três) guitarras (que se estreou em 1992 na JMT). Após uma série de discos na Soul Note, a JMT e a sucessora desta, a Winter & Winter, Motian regressou à ECM em 2004, com I have the room above her.
Jack DeJohnette
“New Directions”, 1978
Músicos: Lester Bowie (trompete), John Abercrombie (guitarra), Eddie Gómez (contrabaixo)

Jack DeJohnette, “New Directions”
O baterista norte-americano Jack DeJohnette (n.1942) é natural de Chicago, mas mudou-se para Nova Iorque ainda novo, em 1966, e na sua prolífica e diversificada carreira, sempre na linha da frente do jazz, só tardiamente se cruzou com um dos nomes maiores do jazz de Chicago – foi em, 1978, com o disco de estreia, homónimo, do projecto New Directions, em que contou com Lester Bowie, um dos membros do lendário Art Ensemble of Chicago. Sobre este disco escreveu-se quando da panorâmica sobre o dito grupo e os ensembles a ele associados (ver O princípio da liberdade: O Art Ensemble of Chicago faz 50 anos). Não é disco de qualidade homogénea, mas valeria só pelas inspiradíssimas faixas “Bayou Fever” e “Where or Wayne”.
John Surman
“The amazing adventures of Simon Simon”, 1981
O saxofonista britânico John Surman (n.1944) já tinha uma dúzia de álbuns editados e créditos firmados quando se estreou na ECM, em 1979, com Upon reflection, um disco que, mesmo para os padrões aventureiros da ECM era invulgar: Surman apresentava-se em multitracking, tocando saxofones soprano e barítono e clarinete baixo, sobre uma tapeçaria minimal de sintetizadores e programações. O álbum seguinte, The amazing adventures of Simon Simon, soma a essa “fórmula” a bateria de Jack DeJohnette, uma invulgar geometria que já fora prefigurada, em versão mais grosseira, em Live at the Woodstock Town Hall (1975, Dawn), em que Surman tivera a cumplicidade do baterista Stu Martin.

John Surman, “The amazing adventures of Simon Simon”
Os sintetizadores de Surman tanto podem gerar uma teia encantatória como soar algo mecânicos e frio, impressão que é contrariada pela percussão dançarina de DeJohnette em “Nestor’s Saga”. O álbum oferece soluções variadas: só sopros (“Kentish hunting”), saxofone + bateria, sem teclados (“The buccaneers”), saxofone + sintetizadores lúgubres (“Within the halls of Neptune”) e a menos feliz articulação saxofone + congas de “The pilgrim’s way”.
Na prolífica discografia que tem registado na ECM (editora a que se mantém fiel há 40 anos), Surman gravou mais álbuns na modalidade multitracking com sopros + sintetizadores, quer a solo – Withholding pattern (1984), Private city (1987), Road to St. Ives (1990), A biography of the Rev. Absalom Dawe (1994) –, quer reatando a parceria com DeJohnette – Invisible nature (2000) e Free and equal (2001). Vale também a pena ouvir a sua associação a um ensemble de metais, em The brass project (ver ECM: Há 50 anos a redefinir o jazz).

John Surman, Oslo, 2017
Miroslav Vitous
“Journey’s end”, 1982
Músicos: John Surman (saxofone, clarinete), John Taylor (piano), Jon Christensen (bateria).

Miroslav Vitous”Journey’s end”
O contrabaixista Miroslav Vitous (n.1947) começou por estudar música clássica na sua Praga natal, mas aos 20 anos já estava a tocar jazz nos EUA com Clark Terry, Herbie Mann (com quem gravou cinco álbuns em 1968-69) e os músicos da “nova vaga”: Chick Corea (fez parte do trio que gravou o excelente Now he sings, now he sobs, em 1968), Jack DeJohnette (The DeJohnette complex, de 1968) e Roy Ayers (Stoned soul picnic, de 1968). A sua estreia como líder fez-se com Infinite Search (1969, Embryo/Atlantic), um disco surpreendentemente maduro e um marco do emergente género do jazz rock, assinado por uma equipa de luxo com Joe Henderson, John McLaughlin, Herbie Hancock e Jack DeJohnette. Infinite Search é mais conseguido, mas muito menos conhecido, do que os discos dos Weather Report, banda emblemática do jazz rock que Vitous fundou em 1970, com Wayne Shorter e Joe Zawinul. Vitous deixou os Weather Report em 1973, ao fim de três álbuns, devido a divergências com a orientação imprimida por Zawinul, mas os discos em nome próprio que assinou a seguir – Magical shepherd (1976) e Guardian angels (1978) – revelam um jazz de fusão amorfo e sem norte.
Seria na ECM, em 1979, com First meeting, e em 1980, com Miroslav Vitous Group, que redefiniu a sua identidade. Journey’s end, de 1982, consolida esta via, com o piano de Taylor a substituir, com vantagem, os teclados de Kenny Kirkland, e inclui “U dunaje u prešpurka”, alicerçada sobre uma bela e melancólica melodia tradicional checa, “Tess” e “Windfall”, de natureza fluida e área, “Carry on n.º 1”, um moto continuo minimal-repetitivo que soa como uma declinação jazzística e africana de Steve Reich, e “Paragraph jay”, cujo início solene acaba por se converter numa dança onde também há ecos africanos.
A discografia subsequente de Vitous, quase toda na ECM, é rarefeita mas digna de atenção.
Edward Vesala
“Lumi”, 1986
Músicos: Esko Heikkinen (trompete), Penti Lahti, Jorma Tapio, Tapani Rinne e Kari Heinilä (saxofones, clarinetes), Tom Bildo (trombone, tuba), Iro Haarla (piano, harpa), Raoul Björkenheim (guitarra), Taito Vainio (acordeão), Hakä (baixo)
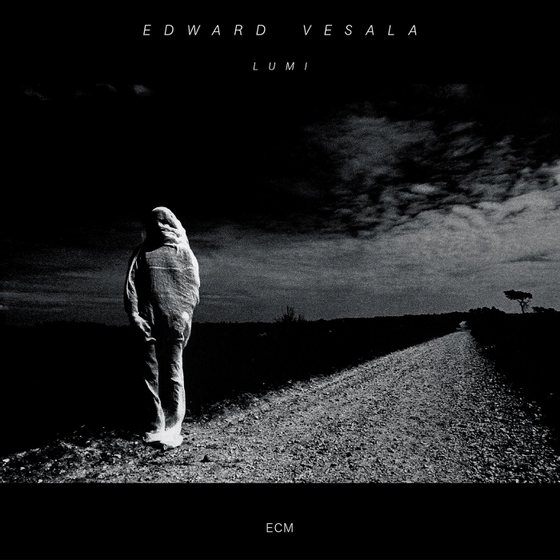
Edward Vesala, “Lumi”
O baterista finlandês Edward Vesala (1945-1999) tocou com Tomasz Stańko e Jan Garbarek e, após três discos como líder na obscura editora Blue Master, estreou-se na ECM com o álbum Nan Madol (1974). Vesala faleceu de ataque cardíaco com 54 anos, deixando apenas 14 álbuns – seis dos quais na ECM – e que estão presentemente quase todos descatalogados, pelo que a reedição de Lumi (um dos raros discos distinguidos com a “coroa” pelo Penguin guide to jazz recordings) é de saudar.
Como a maior parte dos seus discos na ECM, Lumi destina-se a uma formação de cerca de uma dezena de músicos (sopros, guitarra eléctrica, piano, acordeão, baixo e bateria), combina diáfanas paisagens impressionistas com comoções telúricas e tem poucos vínculos com as tradições convencionais do jazz – não por acaso, o seu disco seguinte tem por título Ode to the death of jazz (1989).
Gary Peacock
“Guamba”, 1987
Músicos: Palle Mikkelborg (trompete), Jan Garbarek (saxofone), Peter Erskine (bateria)

Gary Peacock, “Guamba”
O contrabaixista norte-americano Gary Peacock (n.1935) é presença recorrente no catálogo ECM mais como sideman (nomeadamente no prolífico Standards Trio de Keith Jarrett) do que em nome próprio, já que a sua discografia é rarefeita – há, por exemplo, um hiato de 19 anos entre A closer view (1995), em duo com Ralph Towner, e Now this (2014), em trio com Marc Copland e Joey Baron.
Nos seus 61 anos de carreira (estreou-se a gravar como sideman em 1958, com Holiday in Brazil, por Bud Shank & Laurindo Almeida), Peacock já passou pelos mais variados géneros de jazz, do free de Albert Ayler à depuração Zen dos Tethered Moon (com Masabumi Kikuchi e Paul Motian), e fez parceria com nomes tão diversos quanto Ravi Shankar e Toninho Horta.
As primeiras duas faixas de Guambo têm atmosfera subtil e meditativa e mesmo quando, na faixa 3, “Celina”, ganha forma um certo swing, este mantém uma qualidade diáfana. “Thyme time” ganha contornos mais nítidos, em parte devido à caixa de ritmos que Erskine adiciona à sua bateria. Esta regressa em “Introending” e o seu padrão monótono faz pensar na motorika hipnótica dos Can. “Gardenia”, a fechar o álbum, é menos uma balada do que o seu melancólico fantasma.
Dave Holland Trio
“Triplicate”, 1988
Músicos: Steve Coleman (saxofone), Jack DeJohnette (bateria)
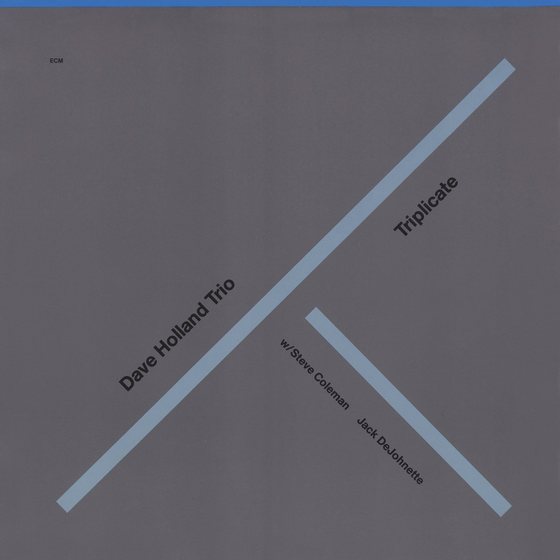
Dave Holland Trio, “Triplicate”
A primeira fornada de Touchstones já incluíra um disco de Holland, em quinteto, em 1984 (ver ECM: Há 50 anos a redefinir o jazz). Triplicate dá a ouvi-lo, quatro anos depois, numa geometria que explora aqui pela primeira e (até agora) última vez na sua longa discografia: o trio com saxofone (Steve Coleman, um dos esteios do dito quinteto na década de 80) e bateria (Jack DeJohnette).
É uma articulação instrumental arriscada, mas os músicos são de primeira água e estão em perfeita sintonia, como se percebe logo na faixa de abertura, “Games”, uma composição de Coleman com o groove elástico, musculado e enviesado típico da estética M-Base de que o saxofonista foi figura central. Por esta altura da carreira, Holland parecia comungar de alguns dos conceitos de Coleman, como atestam as suas enérgicas composições “Rivers run”, “Four winds” e “Triple dance”. Mas Triplicate, ao mesmo tempo que está atento à nova síntese entre jazz e músicas urbanas americanas que então ganhava forma, está enraizado na tradição jazz, como comprovam as vivas versões de “Take the Coltrane”, de Duke Ellington, e de “Segment”, de Charlie Parker, e está aberto a acolher influências de world music, como em “African lullaby”, inspirado numa música tradicional africana.
A vitalidade e o pendor M-Base que animam Triplicate ganhariam expressão ainda mais intensa no álbum seguinte de Holland, Extensions (1989, ECM), em quarteto.
Trygve Seim
“Different rivers”, 1998-99
Músicos: Arve Henriksen (trompete), Øyvind Brække (trombone), Hild Sofie Tafjord (trompa), David Gald (tuba), Håvard Lund (clarinete e clarinete baixo), Nils Jansen (saxofones baixo e sopranino, clarinete contrabaixo), Bernt Simen Lund ou Morten Hannisdal (violoncelo), Per Oddvar Johansen e Paal Nilssen-Love (bateria), Sidsel Endresen (declamação).
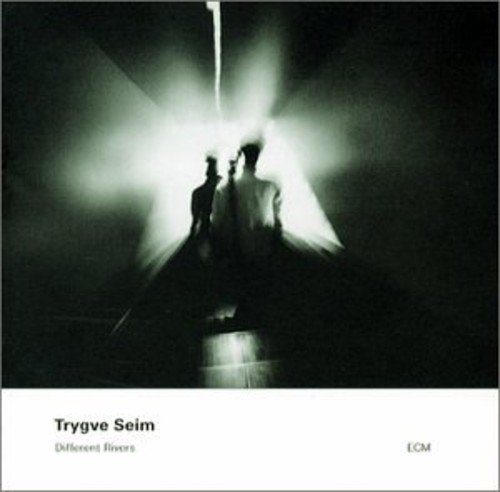
Trygve Seim, “Different rivers”
Apesar da sua imagem de druida venerando, o saxofonista norueguês Trygve Seim (n.1971) é o líder mais jovem desta fornada de reedições. Teve início de carreira discreto, como membro da banda Oslo 13, de Jon Balke, e do colectivo The Source, ambas com pouca visibilidade fora da Escandinávia, pelo que seria difícil antever um álbum de estreia tão seguro e ousado quanto Different Rivers.

Trygve Seim, ao vivo em Oslo, 2016
Tal como Edward Vesala, Seim recorre a uma formação de cerca de uma dezena de músicos, combinando sopros, acordeão e bateria (mas prescindindo da guitarra eléctrica e do piano), mas usa-a de forma diversa: as composições e arranjos se Seim são mais meticulosos, os ambientes mais distendidos (por vezes pastoris) e sem a componente telúrica e “selvagem” que emerge por vezes na música de Vesala. As duas faixas iniciais, “Sorrows” e “Ulrikas dance”, são uma magistral fusão entre as linguagens do jazz e da música de câmara, em particular a primeira, de atmosfera elegíaca e serena. Nem todo o disco é deste gabarito: dos três duetos de Seim com a trompete de Arve Henriksen, apenas o minimal e misterioso “Between” se imprime na memória; e há a narcoléptica “Breathe”, 9’19 de uma respiração comatosa dos sopros, sobre a qual Sidsel Endresen declama uma colagem de lugares-comuns do ideário New Age. O nível das faixas iniciais só é novamente atingido em “African sunrise”, uma inesperada aragem africana que dissipa as brumas nórdicas e enruga a superfície plácida dos fiordes, ganhando agitação e natureza jazzística à medida que progride.
Different Rivers foi distinguido com o Prémio Anual dos Críticos Musicais Alemães (Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik).
Arild Andersen
“The triangle”, 2003
Músicos: Vassilis Tsabropoulos (piano) e John Marshall (bateria)

Arild Andersen, “The triangle”
O contrabaixista norueguês Arild Andersen (n.1945) estreou-se em disco em 1968 como sideman de Don Cherry, em Eternal hymn (MPS), mas foi a sua participação no quarteto de Jan Garbarek, com Terje Rypdal e Jon Christensen, entre 1967 e 1973, que lhe deu projecção. Andersen tornou-se numa presença frequente nos álbuns editados pela ECM e em 1975 estreou-se na editora como líder com Clouds in my head. Os seus primeiros discos contaram com equipas 100% escandinavas, mas foi dilatando a geografia dos colaboradores para incluir o canadiano Kenny Wheeler, o britânico John Taylor e o americano Bill Frisell. Em 1983 fundou os Masqualero, com os compatriotas Nils Petter Molvær, Tore Brunborg, Jon Balke e Jon Christensen, que editaram um álbum na Odin e três na ECM entre 1983 e 1991, ano da dissolução da banda.
Na viragem dos séculos XX/XXI, constituiu um trio com o pianista grego Vassilis Tsabropoulos e o baterista britânico John Marshall, que deixou dois magníficos registos: Achirana, datado de 1999 e editado sob a liderança nominal de Tsabropoulos, que assume a responsabilidade pela maioria das composições; e The triangle, datado de 2003 e sob a liderança nominal de Andersen, que não se desvia da orientação estética do anterior, mas tem agora a tarefa de composição repartida entre Andersen e Tsabropoulos.
The triangle é animada por um lirismo intenso e sereno, por vezes a fazer lembrar os trios de Bill Evans (sobretudo em “Prism”), toada que só é quebrada no nervoso e ágil “Lines” e por “European triangle”, a peça mais sombria do álbum, marcada por um ostinato sinistro no extremo grave do piano. Além das peças de Andersen e Tsabropoulos, o programa inclui um criativo arranjo do pianista para a célebre “Pavane pour une infante défunte”, de Maurice Ravel.
Deste excelente trio não voltou a haver notícia, mas vale a pena ouvir os três discos que Andersen gravou para a ECM já no século XXI, em trio com o saxofonista britânico Tommy Smith e o baterista italiano (radicado na Noruega) Paolo Vinaccia.
Nota 2: Como seria natural e como aconteceu no artigo sobre a 1.ª fornada de reedições Touchstones, este artigo deveria ser ilustrado com amostras dos álbuns em apreço, mas a editora e os gestores dos direitos desta música optaram por a disponibilizar apenas no serviço de streaming de música por subscrição YouTube Premium, que é uma reformulação do YouTube Red, que por sua vez tem origem no Music Key, nenhum dos quais logrou ter sucesso. Entretanto, as amostras musicais incluídas no 1.ª artigo também já foram removidas do YouTube e passaram a estar disponíveis exclusivamente no serviço Premium.
Aparentemente, as editoras – até as que, como a ECM, defendem, por palavras, o suporte físico, a audição “séria” e o respeito pelas intenções dos criadores e produtores – estão agora convencidas de que a salvação para o declínio do seu “modelo de negócio” está no streaming por subscrição, quando este é apenas mais uma faceta do universo em expansão das “indústrias da distracção”.
Foto principal deste artigo: Gary Burton e Chick Corea (foto: Ralph Quincke/ECM Records)


















