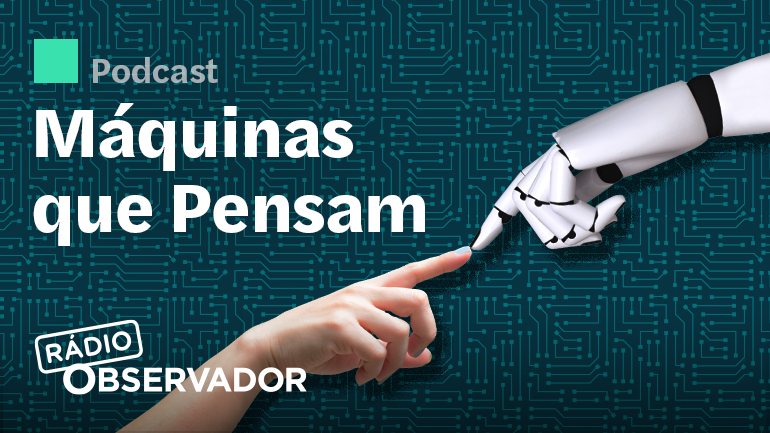O estado da Justiça passou de raspão na maioria dos debates pré-eleitorais. E foi pena, porque se tratou de uma oportunidade perdida.
Houve ainda quem admitisse, vagamente, a necessidade de um consenso alargado entre as principais forças políticas e os operadores no terreno, para se alcançar a desejável reforma de que há muito se fala, indo ao encontro dos problemas que emperram o funcionamento da Justiça. Mas os políticos parecem amedrontados e incapazes de lidar com uma situação que afecta a democracia, refugiando-se em chavões como “é a justiça a funcionar” ou “são os tempos da Justiça”.
Recorde-se que já em 2016, no início do seu primeiro mandato como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa defendia um pacto de Justiça, que, mais tarde, reconheceu ter obtido resultados “limitados e precários por exemplo no acesso à justiça” num sistema “cada vez mais afastado da realidade social”.
E interrogou-se mesmo, a certa altura, “como é possível converter a Justiça numa prioridade política?”. A resposta continua pendente.
O que se espera da Justiça? Independência, acesso facilitado ao cidadão, rigor na investigação, fiabilidade, garantia de defesa, e, vamos lá, equilíbrio e bom senso de juízes, procuradores, advogados e demais operadores.
O que não se espera da Justiça? Imprevisibilidade, parcialidade, promiscuidades de qualquer natureza – sejam políticas, económicas, desportivas ou outras -, impreparação de juízes e procuradores, corporativismos à “flor da pele”.
Sucede, porém, que hoje a narrativa da Justiça convive “paredes meias” com um certo desassossego, observando-se, por exemplo, o Conselho Superior da Magistratura e a Procuradoria Geral da República de “candeias às avessas”, com as tensões a subirem de tom, por causa da operação na Madeira.
De facto, o “desembarque” no Funchal das “forças conjuntas” da Polícia Judiciária e do Ministério Publico (MP), aerotransportadas em dois aviões militares, prometia uma operação “musculada” de larga envergadura, decerto meticulosamente preparada, como corolário de uma investigação robusta e com fortes indícios de crime. Agora acumulam-se as dúvidas. E as contradições.
Jornalistas avisados – alguns idos do continente -, aparato de sobra, buscas múltiplas em vários locais, apreensões de documentos, e de outro material alegadamente comprometedor, tudo com garantia prévia de forte impacto mediático.
Com esta operação, as autoridades judiciais não regressaram a Lisboa de “mãos a abanar”, trazendo consigo três detidos com nome na praça, designadamente, o presidente do município do Funchal.
De caminho, lograram “apear” o governo regional da Madeira – empossado apenas há quatro meses, após eleições – com a demissão de Miguel Albuquerque. E decapitar a Câmara do Funchal, cujo presidente, Pedro Calado, se demitiu também.
Os ventos pareciam soprar de feição para o MP e para quem preparara e autorizara a operação, quando após vinte e um dias de “suspense” e os arguidos detidos – um excesso sobre o qual valerá a pena reflectir – o juiz de instrução concluiu não haver suficientes indícios dos crimes de corrupção, considerando “não existir nos autos um qualquer elemento probatório que permita indiciar, muito menos indiciar fortemente, a sua prática”.
Ou seja, a “montanha pariu um rato” e, em conformidade, o juiz libertou os detidos, que recolheram a casa com termo de identidade e residência. Um sobressalto seguido de uma agradável surpresa.
Estes são os factos conhecidos. Descontado o “pormenor” da privação de liberdade – durante um período incomum, para realizar os interrogatórios -, mal se soube do desfecho em tribunal, o MP decidiu recorrer do despacho do juiz de instrução, enquanto o director nacional da PJ “rasgou as vestes” pelos seus homens, sentindo o impacto da diferença entre o aparato da operação e as conclusões do magistrado.
Em escassos meses, o MP e os investigadores somaram importantes revezes. Desde o verão do ano passado, por exemplo, aguardam-se ainda os resultados de outra operação-espectáculo, que visou a sede do PSD e a residência do ex-líder Rui Rio.
E nada mais se soube, também, do inquérito em sede do Supremo, tendo como alvo o ainda primeiro ministro António Costa, que nem sequer foi convocado nem ouvido, conforme o próprio confirmou recentemente, entrevistado pelo jornal espanhol “La Vanguardia”.
Depois do famoso parágrafo do comunicado da PGR, divulgado em novembro do ano passado – que, alegadamente, contribuiu para a demissão de António Costa, queda do governo e dissolução do Parlamento -, o assunto hibernou e retirou-se das agendas mediáticas.
Não fora o acórdão das três juízas da Relação, que validou as teses do MP no caso de José Sócrates – determinando que o ex-primeiro-ministro vá a julgamento, também por suspeitas de corrupção, por muito que lhe custe – e os procuradores teriam “ficado mal na fotografia” em megaprocessos em que não deviam falhar.
A par da associação sindical dos juízes, que se apressou a manifestar-se sobre o desenrolar dos acontecimentos na Madeira, a PGR, Lucília Gago, viu-se confrontada com uma tomada de posição invulgar, partilhada pelos seus antecessores no cargo, Cunha Rodrigues e Souto Moura, que, numa atitude inédita, lamentaram os procedimentos. E não foram meigos.
E, nem de propósito, corroborando o mal estar interno, uma procuradora-geral adjunta, Maria José Fernandes, arrasou, num artigo no Público, as “buscas sem utilidade” (…), “meios de recolha de prova humilhantes”, lamentando, ainda , que “quem se opõe à estridência processual é rotulado protector dos corruptos”.
Pela ousadia (ou deliberada “transgressão” …) a procuradora “ganhou” um processo disciplinar, depois de reafirmar que não retirava uma virgula ao texto.
Entretanto, “estalou o verniz” na relação institucional entre a PGR e o Conselho Superior da Magistratura. Ora, uma coisa são os recursos do MP para tribunal superior, que ficam meses “a marinar“ até haver um acórdão. Outra, bem diferente, é o “duelo” de comunicados entre a PGR e o CSM.
A primeira, a defender a bondade da investigação e os indícios probatórios, além de responsabilizar o juiz de instrução do caso da Madeira pela demora na análise dos factos, até decidir libertar os arguidos; o segundo, vindo a terreiro a proteger o juiz, negando-se a instaurar qualquer procedimento disciplinar e rebatendo as histórias lançadas no espaço público sobre passados do magistrado a quem foi distribuído o processo.
Ao lado desta divergência, digamos conceptual, floresceu o “plantio” de notícias nos jornais, sobre a suposta eficácia da operação desencadeada na Madeira, com alusões variadas a dinheiro vivo a circular, e par da reacção indignada de dirigentes socialistas contra os abusos e as devassas do Ministério Público, muito contida, aliás, aquando da descoberta das notas guardadas nas estantes de São Bento pelo ex-chefe de gabinete de António Costa.
Perante esta curiosa “guerra” intestina que grassa na Justiça, Augusto Santos Silva, Ferro Rodrigues ou Ana Catarina Mendes aproveitaram para sair das “trincheiras”, estranhando o silêncio de Lucília Gago, a PGR que um dia, talvez por lapso, assumiu que “não me sinto responsável por coisa nenhuma”, alijando qualquer responsabilidade na queda do governo.
Para “ajudar à festa”, Rui Rio recordou o episódio em que ele próprio já foi vítima de buscas, sem que ninguém lhe dissesse porquê.
No meio da “zaragata” instalada, há uma conclusão óbvia: a insegurança jurídica não pode minar a administração da Justiça, e quer seja a magistratura judicial, quer seja a do Ministério Publico, não podem ficar à margem de qualquer crítica.
As opiniões dividem-se e há um confronto de tendências que não é saudável. Afinal, quem errou? Precipitou-se o MP na “invasão” da Madeira ou o magistrado que não validou as suas teses?
A realidade é que ora se maltratam juízes de instrução, por estes secundarem e serem “amigos” do MP, como tantas vezes aconteceu com Carlos Alexandre; ora se maltratam juízes, por estes não acolherem as “certezas” ou os indícios do MP, como se viu agora com Jorge Melo a propósito da Madeira.
A verdade é que perante o “timing” destas peripécias e as suas consequências, desfecho e sequelas, intensificam-se as suspeitas de uma agenda política, embora os protagonistas dos debates televisivos, da esquerda à direita, só a muito custo tenham abordado o tema…
Por entre as muitas perplexidades, há já quem exija a cabeça de Lucília Gago, a PGR que se tem refugiado no seu mutismo, raramente se expondo em público, mesmo quando estão em causa actuações enigmáticas ou aparentemente desproporcionadas, como se verificou agora na Madeira, ou, no Verão passado, durante as buscas à sede do PSD.
Há silêncios tão imperscrutáveis como incompreensíveis – alguns aconchegados no “biombo” de um comunicado -, porque nem a PGR, nem a Justiça nos seus múltiplos operadores, estão isentos de escrutínio ou de prestarem contas dos seus erros ou serem louvados pelas suas virtudes.
Em democracia não pode haver “torres de marfim”.