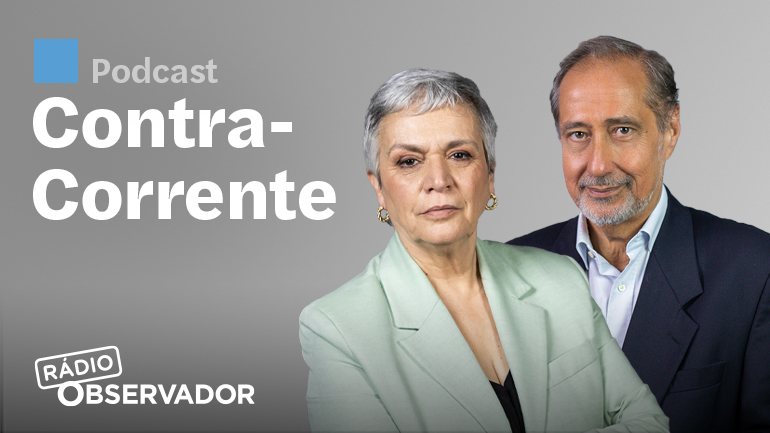Jorge Luís Borges contava a história de uma equipa de cartógrafos que se dedicou a fazer um mapa que recriasse o império em que viviam, da forma mais fiel e exata possível. A escala era de um-para-um e o mapa tornou-se tão detalhado e tão enorme que, a dada altura, cobria mesmo todo o território, a tal ponto que já nem sequer se mostrava possível discernir entre um e outro.
O filósofo francês Jean Baudrillard serve-se desta parábola para propor que, no mundo pós-moderno, a realidade mostra-se subestimada e esquecida, tendo sido progressivamente substituída por simulacros e construções, entrando-se na era daquilo que apelida de hiper-realidade.
Noto que, infelizmente, a realidade judicial corre o risco de se transformar numa espécie de hiper-realidade. Quem assiste vindo de fora a julgamentos, nota, não raras vezes, que advogados, procuradores e juízes discutem temas que pouco ou nada têm que ver com o fundo das questões, empregando uma linguagem indecifrável, sendo no final proferidas decisões que a comunidade dificilmente consegue compreender e explicar.
Começa a perder-se de vista o motivo pelo qual se está em tribunal.
É aqui que entra, entre outras coisas, a comunicação social.
Nos dias que correm, uma comunicação social leal, rigorosa e objetiva poderá ser, afinal de contas, o que mais nos prende à realidade. A democratização da informação assume papel fundamental, seja para esclarecimento da comunidade, seja para a formação de um sentido crítico. Uma democracia é tão mais madura quanto mais robustos sejam os seus órgãos de comunicação social.
E se, nos termos da Constituição da República Portuguesa, os tribunais são os órgãos de soberania que administram a justiça em nome do povo, não deixa de ser verdade também, citando Thomas Jefferson, “que a nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, a qual não pode ser limitada sem ser perdida”.
Ora, num recente inquérito feito pela Rede Europeia de Conselho de Justiça, 40% dos juízes portugueses inquiridos revelaram que entendem que, nos últimos três anos, houve decisões que foram influenciadas indevidamente por ação dos órgãos de comunicação social.
Esta revelação é particularmente preocupante, desde logo por um motivo: é que não se diz, apenas, que o foco da comunicação social sobre a justiça influencia as decisões a tomar. Vai-se mais longe e afirma-se que as influenciaram indevidamente, ou seja, que, se não fosse esse “holofote”, as decisões teriam sido diferentes.
Contudo, há que desmistificar estes preconceitos e reconhecer o óbvio: os juízes, ao contrário do que se pode pretender fazer crer, não são seres seráficos, insensíveis ao mundo à sua volta. São seres humanos, pensantes.
As decisões dos juízes são inevitavelmente influenciadas por inúmeros fatores: a sua experiência de vida, o seu contexto social, a sua sensibilidade crítica em relação a uma determinada matéria, os seus conhecimentos técnicos.
Mesmo o último caso que decidiram pode, por si só, ser suscetível de influenciar uma nova decisão a tomar. Imagine-se o caso, por exemplo, de um juiz que concedeu a liberdade a um arguido detido, por acreditar que não existia perigo de fuga. Se, ato contínuo, se provar que essa decisão foi precipitada, arrisco dizer que, quando tiver que decidir no próximo caso, essa experiência poderá ser determinante.
E poder-se-á afirmar que essa influência é indevida? Na pureza dos princípios, se calhar sim. Mas, num mundo em que se começa a lançar para debate a ideia (para mim absurda) da suposta substituição dos juízes por autómatos de inteligência artificial, o ideal é que a referida humanidade continue a existir, não só porque a alternativa é muito pior, mas também porque é ela que confere, precisamente, legitimidade às decisões judiciais.
Espero, pois, que uma análise descontextualizada dos resultados do supra referido inquérito não conduza a tentativas de introdução do VAR (vídeo-árbitro) na justiça!
Aliás, se é verdade que a mediatização da justiça é suscetível de exercer influência sobre as decisões judiciais, atrevo-me a dizer que o mesmo se passará, também, em relação a todos domínios de interesse público. Admito que os membros do Governo, por exemplo, dirão que algumas das suas decisões poderão ter sido influenciadas, ou precipitadas, por ação da comunicação social.
E assim, de duas, uma: ou reconhecemos, de uma vez por todas, que o que pretendemos é uma justiça humana, mas aberta e transparente, que dê confiança aos cidadãos e cumpra a sua função de prevenção geral e paz social, ou então continuaremos a habitar em espaços fechados e herméticos, alimentando a especulação e a tal hiper-realidade.
Só com o acesso à informação se permite o escrutínio e, com isso, a confiança dos cidadãos no funcionamento das instituições. Isso, sim, é democracia.
Como é evidente, não quero com isto dizer que a ação da comunicação social esteja isenta de abusos. Mas, se isso suceder, que sejam sancionados. Se um determinado órgão de comunicação social não respeitar a presunção de inocência de um determinado cidadão ou distorcer dolosamente a realidade dos factos, que tal seja punido, o mesmo se dizendo, aliás, em relação a todo e qualquer cidadão. O que não se pode é coartar a liberdade da imprensa, a reboque do argumento pífio de que a mesma “influencia decisões”.
Tendo em vista a que a justiça se torne cada vez mais aberta e acessível, e também para mitigar o risco de que a mediatização não se mostre rigorosa, submeto a debate algumas ideias:
Em primeiro lugar, dou a minha humilde adesão ao manifesto subscrito em junho passado por vários e digníssimos juizes, procuradores, advogados e solicitadores “contra a prolixidade da justiça penal”, convocando todos os intervenientes a refletirem sobre a “cultura de excesso, de desperdício de energias e de tempo”, bem como o predomínio da forma sobre a substância e um positivismo extremado, a prolixidade e a falta de rigor expositivo e de síntese são ingrediente decisivo de fermentação dos megaprocessos em que naufraga qualquer intenção de Justiça atempada”.
Em segundo lugar, deve passar a admitir-se, mesmo em processos sujeitos a segredo de justiça, que os órgãos de comunicação social (e, já agora, também os arguidos!) possam aceder, durante a fase de investigação, e mediante consulta, a informações resumidas quanto ao andamento do processo, contendo por exemplo dados sobre a data de início do processo, os crimes sob investigação, quem já foi constituído arguido e ainda se existe, ou não, algum prazo fixado para a conclusão do inquérito.
Aliás, o Código de Processo Penal já prevê que o segredo de justiça não impede a prestação de esclarecimentos públicos pelo Ministério Público, designadamente quando os mesmos forem necessários ao restabelecimento da verdade e à garantia da tranquilidade pública. Contudo, não raras vezes esta regra acaba esquecida, sobretudo quando se mostra necessário confirmar ou negar um determinado rumor ou informação que circula publicamente.
Posso estar errado, mas não vejo que esta solução possa pôr em causa a ação da justiça e entendo que permite até esvaziar, mais uma vez, as tais hiper-realidades (com prejuízo para a presunção de inocência – muito falada, mas pouco concretizada).
Em terceiro lugar, e ainda quanto ao segredo de justiça, entendo que tem de ter limites de duração. O Código de Processo Penal estabelece, claramente, prazos de duração máxima da fase de inquérito e a comunidade, bem ou mal, acha que isso tem alguma importância. Mas não tem. Se o prazo for ultrapassado pelo Ministério Público e se, por exemplo, ao fim de dez anos não tiver ainda havido acusação, não há nenhuma consequência prática. Uma pessoa pode, em 2018, ser sujeita a buscas na sua casa e, cinco anos depois, nada obriga o Ministério Público a deduzir uma acusação. Pior: se o processo estiver sujeito a segredo de justiça, o mesmo pode manter-se indefinidamente, impedindo-se o acesso por parte da comunicação social.
Não questiono que o Ministério Público refira que tem falta de meios. É uma lamentável constatação e urge tomar medidas quanto a isso. Mas uma coisa é admitir-se que determinadas investigações possam ou tenham que durar durante quase uma década, outra é impedir que possa haver escrutínio público às razões pelas quais isso sucede. Assim, se alguma consequência pode resultar de os prazos máximos de duração de inquérito serem ultrapassados, a primeira poderá ser desde já que o segredo de justiça termina. Os arguidos devem passar a poder defender-se e analisar as provas, enquanto à comunicação social, em prossecução do interesse público, deve ser concedido o acesso imediato.
Em quarto lugar, a fase de instrução criminal deveria passar a ser integralmente pública. Atualmente, só é permitido que o público assista a partir do debate instrutório, aquele momento em que as partes expõem as suas conclusões em relação às provas que foram sendo produzidas durante a instrução. Não vejo lógica absolutamente nenhuma, porém, numa fase em que já foi deduzida acusação e o processo já é público, que se continue a insistir que a comunicação social não pode assistir ao que dizem os arguidos ou as testemunhas diante do Juiz de Instrução Criminal. Quanto mais não seja para que consiga perceber (e relatar depois) não só o que é alegado pelo Ministério Público e os advogados durante o tal debate instrutório, mas também por que se acaba por tomar uma decisão e não outra.
Em quinto lugar, e pelo menos nos tribunais de maior dimensão, justifica-se que passe a haver não só uma sala de imprensa, mas também que seja nomeado um porta-voz para a prestação de esclarecimentos, sobretudo durante a fase de inquérito como de instrução. Esta figura do porta-voz não é novidade na União Europeia e lembro que, aquando da detenção de Carles Puigdemont, por exemplo, era comum ver um porta-voz do tribunal a expor a evolução do processo e as decisões tomadas, numa base quase diária, inclusivamente prestando declarações avulsas à comunicação social quando solicitado.
Já quanto à referida sala de imprensa, trata-se apenas de uma simples medida dirigida a conferir mais dignidade ao trabalho da comunicação social e, quanto mais não seja, a evitar as conhecidas acumulações, durante horas a fio, de jornalistas à porta do tribunal, sempre e quando há interrogatórios de arguidos detidos.
Em último lugar, e isto já quando se trata de leituras de decisões judiciais em audiência pública, pode fazer sentido que as mesmas se limitem a súmulas, para melhor comunicação. Em vez de se estar a ler cem páginas, com explicações e argumentos de facto e de direito que o público raramente compreende (ou que se corre o risco de que não compreenda), admito que possa passar a expor, como regra, apenas um resumo do essencial e da decisão final tomada. Obviamente sem descurar as explicações que se entenda adequadas, para fundamentar a decisão. O objetivo seria tornar a sentença percetível não só para os advogados presentes, mas também para a comunidade em geral.
Hoje em dia, os tribunais desempenham um importantíssimo papel nas sociedades democráticas. E se a abertura da justiça a sujeita a escrutínio reforçado, também fortalece a sua legitimidade.
Como defendia o filósofo Jeremy Bentham, a publicidade é “a própria alma da justiça” e, “sem publicidade, nenhum bem é permanente. Sob os auspícios da publicidade, nenhum mal pode continuar”.