De novo, Lucy Barton faz o seu regresso. Protagonista de O meu nome é Lucy Barton, Tudo é possível e Oh, William!, vem dar corpo a mais um romance, que mete mais um tijolo na sua história. Afinal, já é traço comum em Elizabeth Strout ir dando as peças de um panorama à vez, ainda que cada livro já pareça um panorama. Já o fez, aliás, com outra personagem memorável: Olive Kitteridge. O que não passa ao lado, num e noutro, é a capacidade que a autora tem de, após concluir um arco narrativo, partir daí no que parece uma nova estaca zero, iniciando nova narrativa.
No volume anterior, que se volta para William, o primeiro marido de Lucy, esta já era um escritora consagrada, e acabara de ficar viúva do segundo marido. William tinha o seu terceiro casamento em crise e tentava montar as peças do passado da mãe. O romance, que inicialmente parecia preso ao luto, foi permitindo que a vida avançasse com o avanço da narrativa.
Nesta quarta peça, temos o cenário da coetaneidade: começa a pandemia, ninguém sabe bem em que ponto está. Perante o medo, Lucy e William mudam-se para uma pequena cidade do Maine. Presos um ao outro, afastados de um mundo que parece existir meio ao longe, e em colapso, ressignificam e reconstituem as memórias e o que cada um é para o outro. Para mais, a acção está naquele ponto em que a vida parece ter tido interrupções, estando um e outro a aparecer como coisa constante. Assim, parece que são as outras relações que as personagens estabelecem com outras personagens que são eixos secundários, uma vez que, entre ambos, o lugar de destaque está assumido. Percebe-se que, da parte da autora, há um grande esforço em prol da construção e da constituição destas personagens, daí que estas saibam permanentemente a gente a sério.
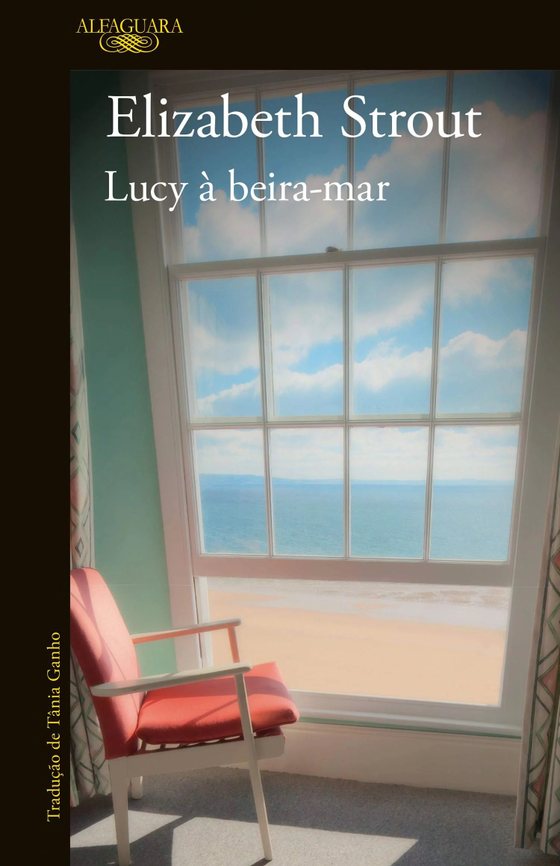
Título: “Lucy à beira-mar”
Autora: Elizabeth Strout
Editora: Alfaguara
Tradução: Tânia Ganho
Páginas: 280
Como prosadora, Elizabeth Strout tem grandes méritos. Não deixa o leitor demasiado tempo a sós. Em tudo o que este vê, vê as personagens, por isso qualquer fragmento de prosa é um fragmento que constitui a psique. Ainda assim, como Strout envereda sempre pela prosa funcional, volta e meia há algumas quebras de ritmo, já que há pequenos fragmentos de apontamentos, quase em jeito de comentário da narradora, que dão um certo sabor a diário ou a didascália. Aí, os fragmentos podem ser imagéticos ou informativos, e sabem sempre a pausa de fragmentos maiores, em que as personagens voam mais à solta.
Tendo isto sempre por base, a autora lá se lançou a mais uma etapa na vida de Lucy Barton. Pegando nos tempos coevos, tentou adensar a personagem, e conseguiu-o; o problema passou a ser a estranheza que a prosa passou a ter, estranheza essa que parte de uma identificação exacerbada por parte de quem lê. É que a autora pegou no que se tornou colectivamente banal pela lente do individualmente extraordinário, dando ideia de uma narrativa que afunila ao invés de alargar. Ainda por cima, o ar apocalíptico já soa de forma desfasada em tempos de apaziguamento (social, individual, político, administrativo).
Percebe-se que a ideia da pandemia, por ser uma experiência tão diferente do que fora vivido até então, possa ser um bom canto de sereia para um romancista. O problema é que, ao atentar-se na experiência individual dessa pandemia, se acaba por dar pouco: como a experiência foi colectiva, as explicações individuais sabem a drama mastigado; como a experiência foi global, a experiência individual acaba por trazer pouco interesse. O leitor, que passou pelo mesmo (tenha que idade tiver, viva onde viver, tenha vivido a pandemia da forma que tiver), acaba por parecer um psicólogo a ouvir e a fingir que se importa. Enquanto Lucy escreve que se sentiu desta ou daquela maneira, que não percebeu logo que etc., que de início estranhava as máscaras, quem lê tem aquela sensação de vir dali mais do mesmo. Não há distância nem dá para se ler sem se pensar que aquilo aconteceu a toda a gente e, ao longo da narrativa, nem o extraordinário se faz banal nem o banal se faz extraordinário.
Ainda por cima, a personagem Lucy Barton conta como se tentasse dar o extraordinário da sua condição. Mas, ao haver demasiada proximidade, demasiada identificação, nem chega a haver a chegada ao outro. E, por um lado, percebe-se que, tendo William e Lucy a idade que têm neste ponto do quarto volume, não daria para se ignorar a pandemia, pelo menos num livro coevo que respondesse ao tempo coevo. Ainda assim, a autora peca por insistir no assunto e por dar demasiadas explicações e escrever demasiados apontamentos sobre um assunto que já se normalizou individual e socialmente. Além disso, ao terminar fragmentos de texto com frases como “O Melvis tem o vírus – anunciei”, faz com que a prosa soe a coisa desfasada, num momento em que já uma grande parte da população mundial teve o vírus e em que este já não assusta como o cancro. O tom apocalíptico, numa prosa escrita no pretérito perfeito, mostra que a autora também não soube ter a distância necessária para poder veicular de forma credível e sem solavancos o enredo que meteu no livro. Coisa diferente seria ter a narrativa no presente, uma vez que não haveria, dentro do próprio enredo, o filtro do tempo sobre a prosa.
De resto, a relação entre Lucy e William lá se vai desenvolvendo, mas o volume perde em relação aos anteriores por causa da permanente sensação de drama mastigado. A opção da autora, de mostrar em vez de contar, continua a ser acertada, garantindo a empatia do leitor, e a prosa – límpida, sem artimanhas, sem floreados – continua a ser das suas principais vantagens.
A autora escreve de acordo com a antiga ortografia


















