Talvez seja injusto dizer que Simon Reynolds é “da velha guarda”. Contudo, a ideia de “jornalista musical” como a entendemos aplicada à sua pessoa é uma carreira em vias de extinção. O próprio explica bem o porquê ao longo da entrevista que nos concedeu há umas semanas por telefone. Reynolds começou no Melody Maker em meados dos anos 1980, onde contribuiu até 1996, e ao longo da carreira escreveu para inúmeras publicações como a The Wire, The Guardian, Pitchfork, Spin ou The New York Times. Tem também uma série de blogs ativos, sendo o principal o blissblog.
Foi ele que cunhou o termo “pós-rock” em meados dos anos 1990. Mas isso é uma nota de rodapé numa carreira que, desde os anos 1990, se tem dedicado a perceber os géneros musicais e movimentos que influenciaram a cultura pop. E como a influenciaram. Os seus livros são seminais para perceber a cultura popular, géneros musicais e tendências que habitámos ou vivemos à distância desde meados da década de 1960 até hoje, como Energy Flash: A Journey Through Rave Music And Dance Culture (1998), Rip It Up And Start Again: Postpunk 1978-1984 (2005), Retromania: Pop Culture’s Addiction to its Own Past (2011). É britânico, mas vive atualmente em Los Angeles, e está em Lisboa pela primeira vez a propósito do festival MIL. Sexta-feira, entre as 10h00 e as 11:30 dará uma masterclass de Jornalismo Musical no Palacete dos Marqueses Pombal. Nesta conversa começámos por viajar mais de 20 anos no tempo, até ao livro que escreveu sobre música de dança. Mas em português.
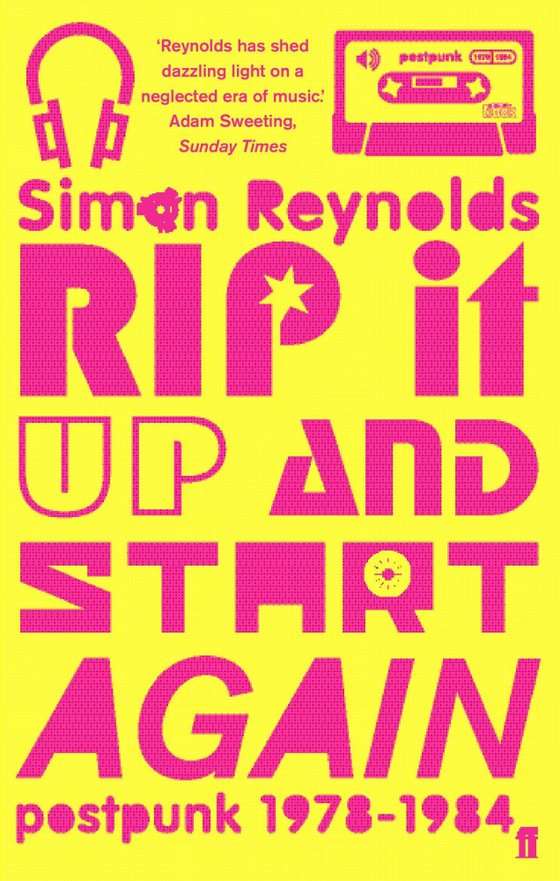
“Rip it up and start again”, um dos livros de Simon Reynolds e um título de referência sobre o pós-punk
Cruzou-se com alguma música de dança feita em Portugal recentemente?
Atualmente não sigo música de dança com muita atenção. Mas sei que há muitas coisas interessantes a acontecer em Portugal. DJ Marfox?
Sim.
Antes de ir para Portugal irei ouvir algumas das coisas mais recentes. Mas perdi o hábito de seguir a música de dança com tanta proximidade como no passado. Oiço mais hip hop hoje em dia. Mas ando muito interessado na música eletrónica queer e trans. Pessoalmente, não sinto que goste muito, mas acho que está a dizer coisas novas e a experimentar algo novo a nível emocional.
Há muita informação, há muito a acontecer, mas é muito difícil acompanhar.
Exato. Podia ouvir trinta vezes a mesma canção e, mesmo assim, não perceber tudo o que está a acontecer. Não é só com a queertronica, mas também com música editada por certas editoras como a Pan. Oiço, pelo menos, uma vez, mas depois… é música que não consigo integrar na minha vida. É demasiado. Mas é incrível a quantidade de coisas que estão a processar, as texturas, a quantidade de eventos sonoros por minuto, mesmo por segundo. É demolidor. Lee Gamble, Amnesia Scanner, é interessante ouvir o que andam a fazer. E escrevem-se textos muito intensos e intelectuais sobre essa música. E os artistas também… eu chamo-lhe conceptronica, porque os artistas sabem exatamente o que estão a fazer e escrevem sobre isso: quase que acabam com o papel do crítico, porque descrevem com exatidão tudo o que estão a fazer.
Mencionou o Lee Gamble. O Simon é britânico e escreveu muito sobre a cultura de dança britânica, principalmente a dos 1990s. Como é que vê esta corrente de música feita por artistas britânicos, que pensam e recriam a música de dança britânica dos 1980s e 1990s, como o Lee Gamble, Demdike Stare ou Mumdance?
Existem vários a fazer isso e diferentes visões. Há uns que têm uma visão conceptual, outros uma visão hauntológica, ou réplicas. Gosto das réplicas nostálgicas de jungle, hardcore e drum’n’bass, porque são muito exatas e precisas. Há uns tempos fiz um post no meu blog onde as colecionei todas. A primeira de que me lembro é do Jega, de 1997, fez um tema chamado “Card Hore”, que é uma espécie de pastiche do hardcore de 1992. Estava muito bem feito e para mim foi um exercício divertido. Com o passar dos anos começaram a existir mais e mais. Mais conceptuais, como o Lee Gamble, ou fãs, que adoram jungle, e querem replicar exatamente como era feito. O Mumdance está a tentar fazer algo novo, mas é muito influenciado por essa música. A memória constante, o futuro perdido… são coisas que sentes em alguma dessa música e que, de certa forma, podes relacionar com alguma arte, como “Fiorucci Made Me Hardcore” do Mark Leckey. Também há o Zomby, que por vezes brinca com a ideia de um remake dessa música…
[“Many Gods, Many Angels”, de Lee Gamble:]
Ou o Actress.
Sim, só para se divertirem. Eles criaram algo de novo, mas dão-se ao luxo de fazer canções pastiche. Pode ser jungle, two-step ou uk garage. Penso que uma vez ele até passou pelo grime, imitando o Wiley e o seu eski sound. Existem vários ângulos e as diferentes visões são muito interessantes. O Mumdance aprende dessa era, das sensações, e tenta fazer algo de novo. É um pouco como o punk rock, que era influenciado pela música dos anos 1950s, pelos Who, mas não estava a fazer isso.
A hauntologia tem surgido mais do que uma vez na nossa conversa. Está a ver a acontecer na música de dança o mesmo que aconteceu no rock, há mais de uma década, impulsionado pelo Ariel Pink?
Sim, mas já começou há mais tempo, no final dos anos 1990s.
Sim, lembro-me do Leyland Kirby trabalhar à volta disso. Mas há uma nova geração nos últimos anos, que não viveu essa época…
É similar ao que aconteceu ao rock e ao jazz, de certa forma. Pode-se dizer que há uma ciclo estrutural, o crítico de jazz Gary Gibbons referenciou isso como os quatro estágios da vida do jazz, e se calhar podes aplicar a mesma teoria no rock ou na música de dança. Tudo começa com uma fase emergente, excitante, que é mais experimental e progressiva, depois acaba por ser dominado pelo mainstream. Depois torna-se numa espécie de cultura de museu e eventualmente acaba por se referir à sua própria história, há um sentido tremendo de herança com o passado. Existem diversos músicos de jazz que vivem com os fantasmas do passado, o John Coltrane, o Charlie Parker, por exemplo, estão muito presentes na sua visão. É algo que acontece com os diferentes géneros musicais, à medida que vão envelhecendo. É um pouco como as pessoas: eu tenho 55 anos e começo a sentir que os meus melhores anos estão para trás. É inevitável. A fase emergente é a mais excitante, porque é a mais românica, há uma sensação de perigo, de surpresa. Ninguém sabe o que se está a passar, ou o que se está a fazer, por isso tentam-se coisas diferentes, porque não há regras, estruturas de negócio. A anarquia dos primeiros anos da cultura rave é muito romântica. Foi assim com o rock’n’roll, quando surgiu, abanou com o mundo. E as pessoas que não vivem esses momentos, tendem a olhar para trás e pensar no quão incrível foi. E tentam repeti-lo.
No seu livro Retromania fala disso. Sente que as coisas estão a mudar?
Quando terminei o livro, em 2010, esse sentimento estava a atingir o seu pico. Nos últimos anos da primeira década do século XXI, quando concebi a ideia para o livro, estava tudo muito retro. Havia muitas coisas em que te podias basear para sustentar o conceito de “Retromania”. Uns anos depois do livro ter sido editado, tiveste um álbum que mostrou como essa cultura ainda era dominante, o Random Access Memories, dos Daft Punk [2013]. Mas ainda existe muito na cultura, no cinema, na televisão, na música, claro, ainda há pessoas a citarem o livro e a telefonarem-me para falar sobre “retromania”. Mas já não sinto como sendo algo dominante na nossa cultura. Sinto que o que se faz agora é contemporâneo, novo. Quando escrevi o livro existiam uma série de coisas que, para mim, eram deprimentes, embora existisse música muito criativa, como Ariel Pink ou os lançamentos da Ghost Box: existia bom retro e mau retro. Não sei, agora, se consigo dizer se havia génio no bom retro. E o mau retro, agora, já não parece tão dominante. Quer dizer, todos os meses ainda encontro um artigo sobre retro, mas é algo que já não parece tão sufocante como quando estava a escrever o livro.

A capa de “Retromania”
Percebo-o. Mas foi ótimo ter todos aqueles discos incríveis do Ariel Pink.
Sim, há limites na minha argumentação. E eu entendo-os. Sou muito fixado no som, no surgimento de novos géneros, mas houve inovações nas letras, na expressão emocional, até no tipo de personalidades que começaram a aparecer na música pop, na voz… tudo isso foi inovação.
[“Round and Round”, de Ariel Pink:]
Vem a Portugal para falar sobre jornalismo musical. Quais são as suas preocupações atuais?
É muito mais difícil de viver do jornalismo musical do que antigamente. A maior parte das pessoas que escrevem sobre música têm de trabalhar muito mais e escrever muito mais e, muitas vezes, fazer o trabalho em part-time. Quando comecei, nos 1980/1990, ser jornalista musical era um compromisso total, ouvias imensa música, descobrias imensa música e, sim, também escrevias imenso. Mas pela forma como se processava tinhas uma visão alargada de tudo, porque podias dedicar mais tempo ao teu trabalho, porque era suficiente para viveres a tua vida. Se estás a escrever sobre música paralelamente a outra coisa, seja dar aulas ou outra coisa qualquer, o compromisso é muito menor. Não escreves tanto…
E não se pensa tanto sobre música.
Sim, é um profissão. Era um estilo de vida e estavas rodeado de pessoas para quem a vida também era assim. Isso dava mais vitalidade à profissão de jornalista musical. Outro dos problemas é a próprio palavra, “jornalismo”, cada vez menos jornalismo é feito. Há muita crítica, muitos artigos de opinião, crónicas, disso há em todo o lado, mas há cada vez menos jornalismo musical, reportagens, histórias, isso é algo que demora muito tempo a ser feito e que tem cada vez menos apoio. Um freelancer não consegue escrever esse tipo de peças, porque o tempo e trabalho que investe não compensa pelo que irá ser pago. Tem acontecido algo prático, que é o crescimento das entrevistas por email: nunca chegas a conhecer a pessoa que entrevistas. Escreves as questões, e a pessoa do outro lado responde à vontade, no seu tempo livre, depois do soundcheck ou no meio de outra coisa qualquer que esteja a fazer. Os entrevistados revelam apenas o que querem e a entrevista lê-se como algo que foi escrito. Isto, claro, aconteceu por causa de todos os avanços tecnológicos na comunicação e faz sentido de um ponto de vista económico para os jornalistas, porque não têm de transcrever, ou ir a algum sítio ter com alguém. Há maior eficiência nos gastos e no tempo, mas é algo estéril, porque não percebes o artista como um ser humano, como se veste, comporta. Fica mais pobre e não é jornalismo, é uma espécie de escrita remota. Atualmente, é pouco exequível os jornalistas musicais fazerem reportagens, investigação no campo, saírem da sua secretária. É um trabalho de paixão e são raras as revistas que te pagam para fazer entrevistas como deve ser, ir a clubes. Existe menos jornalismo no real sentido do termo. Para os meus livros, por exemplo, para o meu livro sobre a história do glam rock [Shock And Awe – Glam Rock And It’s Legacy] investiguei muito nos jornais da década de 1970 e o que se escrevia na altura era fantástico. As peças estão cheias de detalhes, factos, pormenores e observações, aqueles artigos são ótimo material base. E preocupa-me um pouco que isto já não aconteça…
Daqui a trinta, quarenta, cinquenta anos, quando olharmos para esta época teremos menos relatos do que noutros momentos, mas mais fotografias e vídeos: sim, existirá a imagem, mas não existirá a história, os factos escritos sobre o que aconteceu. Sinto que se está a perder algo com a ausência de reportagens. Sente o mesmo?
É tudo muito informativo. Não há data sensorial. Por exemplo, quando lês sobre música de dança, raramente tens uma perceção das pessoas nos clubes, de como dançam, de como partilham as suas experiências. E isso era uma parte importante do jornalismo musical de música de dança da década de 1990, quando as pessoas falavam das suas aventuras nos clubes, de como as pessoas dançavam, as roupas que vestiam, as coisas absurdas que diziam por causa das drogas que tomavam. Quando olho para o meu livro sobre techno, Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture, ainda gosto de toda a teoria que tem, mas a parte que me deixa mais orgulhoso é feita de descrições das minhas experiências nas raves, nos clubes, porque transmito a sensação do que se passava. E é isso que será útil para as pessoas no futuro. Porque diz como as pessoas se comportavam, como era estar no meio daquilo tudo. E tenho cada vez mais a sensação de que esse elemento já não existe na escrita de música de dança, eletrónica, atual. Há algumas pessoas que ainda o fazem, por vezes a Resident Advisor tem artigos sobre isso, mas grande parte da escrita sobre música de dança é sobre variação de géneros musicais, descrições, etc. Não há a sensação de corpos em movimento. E isso aplica-se à maior parte da escrita sobre música.
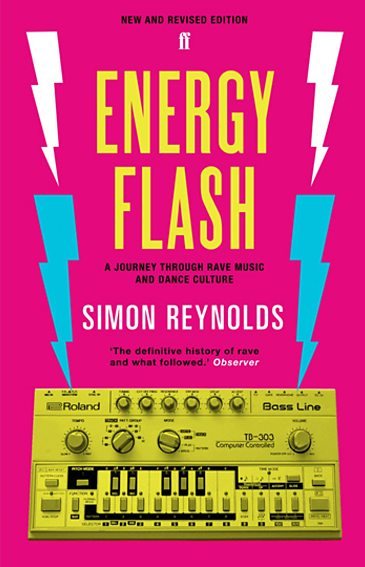
“Energy Flash: A Journey Through Rave Music and Dance Culture”, de Simon Reynolds
O que utilizaremos para investigar o passado no futuro, como faz agora?
Não faço ideia. Mas dirá uma coisa, como a vida era, mediada pela tecnologia e as pessoas a comunicarem remotamente. Isso também diz algo sobre a vida. Mas sim, questiono-me para onde é que os historiadores de música olharão. Em dois dos livros que escrevi, Shock and Awe: Glam Rock and Its Legacy, from the Seventies to the Twenty-First Century e Rip It Up and Start Again: Postpunk 1978–1984, deixei uma nota de agradecimento aos jornalistas e editores que escreviam para a imprensa musical de então. Ganhei um respeito tremendo por alguns jornalistas que não eram tão conhecidos, mas que saíam e documentaram tudo o que se passava. Por exemplo, para o Shock and Awe usei muito o Melody Maker. Nos anos 1970s tinha uma filosofia diferente do New Musical Express, porque contratava pessoas que tinham anteriormente trabalhado em jornais locais. Por isso, cobriam tudo o que se passava, não era só prog rock, mas David Cassidy, Jackson 5, Stockhausen, Sun ra, como também tinham artigos sobre a indústria musical.

“Shock and Awe: Glam Rock and its Legacy”
Através do Melody Maker consegui saber quanto é que custava ir a um concerto em 1972, toda uma série de detalhes que não estava à espera. Por exemplo, os clubes de fãs. Com o glam surgiram uma série de clubes de fãs, e havia artigos sobre quanto custavam, quanto dinheiro é que tinhas de enviar, uma série de detalhes que te mostram o limite das coisas. Percebes o quão limitada era a vida das pessoas e o quão aborrecida era. Há uma série de detalhes que não estão presentes no jornalismo musical atual, é mais opinião e análise intelectual. E preocupa-me que essas coisas não estejam a ser reportadas. Eu tento fazer um esforço, é mais eficiente para mim não sair de casa e fazer uma entrevista por telefone ou email. Mas se puder vou até à casa do músico. Há uns anos fui entrevistar a Kaitlyn Aurelia Smith, que também vivem em Los Angeles. Fui até casa dela, ela mostrou-me a garagem onde tem os seus sintetizadores. Percebi alguns detalhes, entrevistei-a no seu jardim. Foi muito melhor. Claro que teria sido mais rentável ter feito a entrevista por email, não a teria de transcrever, só teria de cortar e colar o texto. Mas tenho essa regra para mim, sempre que possível, encontro-me com a pessoa.


















